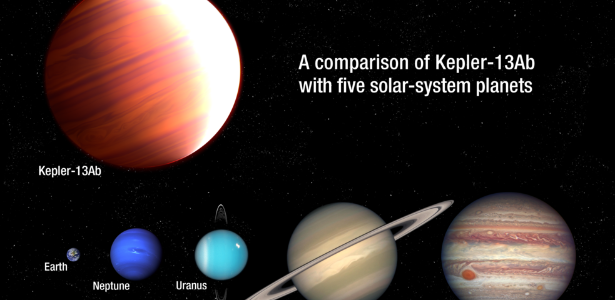31 Dec , 2018, 13:31h Atualizado em: 1/15/2019 8:02:23 PM | História - Civilização Egípcia |
||
Descoberta de inscrição pode levar a arquivos perdidos de Ramsés II |
História Viva |
|
19 May , 2018, 15:15h Atualizado em: 5/19/2018 3:15:42 PM | Astronomia - Sistema Solar |
||
Astrônomos encontram evidência de possível existência do 9º planeta |
Sputnik |
|
1 Nov , 2017, 20:42h Atualizado em: 11/1/2017 8:42:34 PM | Astronomia - Via Láctea |
||
Astrônomos descobrem exoplaneta em que neva protetor solar |
Uol Notícias |
|
, h Atualizado em: | História - Civilização Egípcia |
||
Sala secreta de tumba de Tutancâmon abrigaria Nefertiti |
BBC Brasil |
|
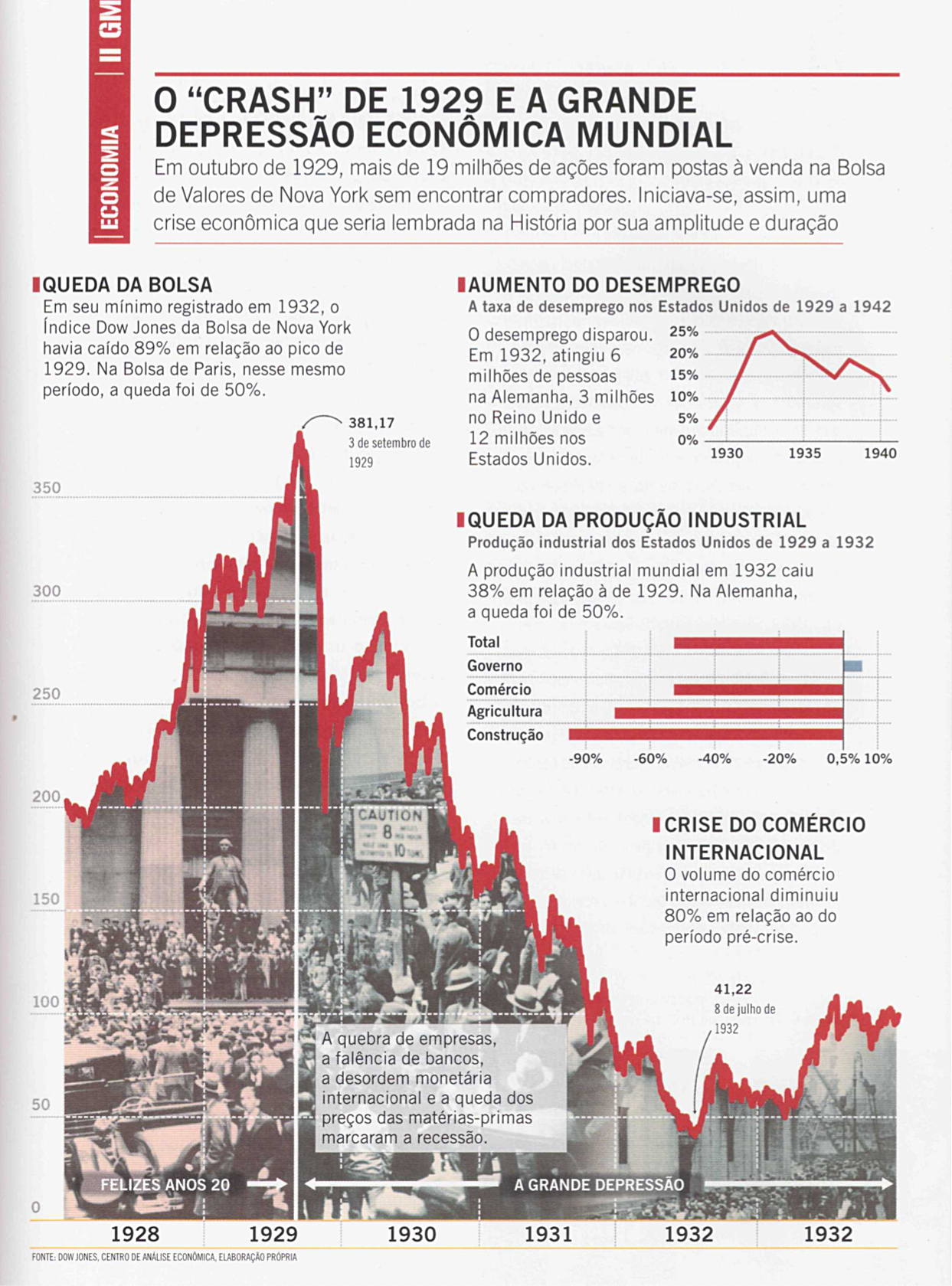

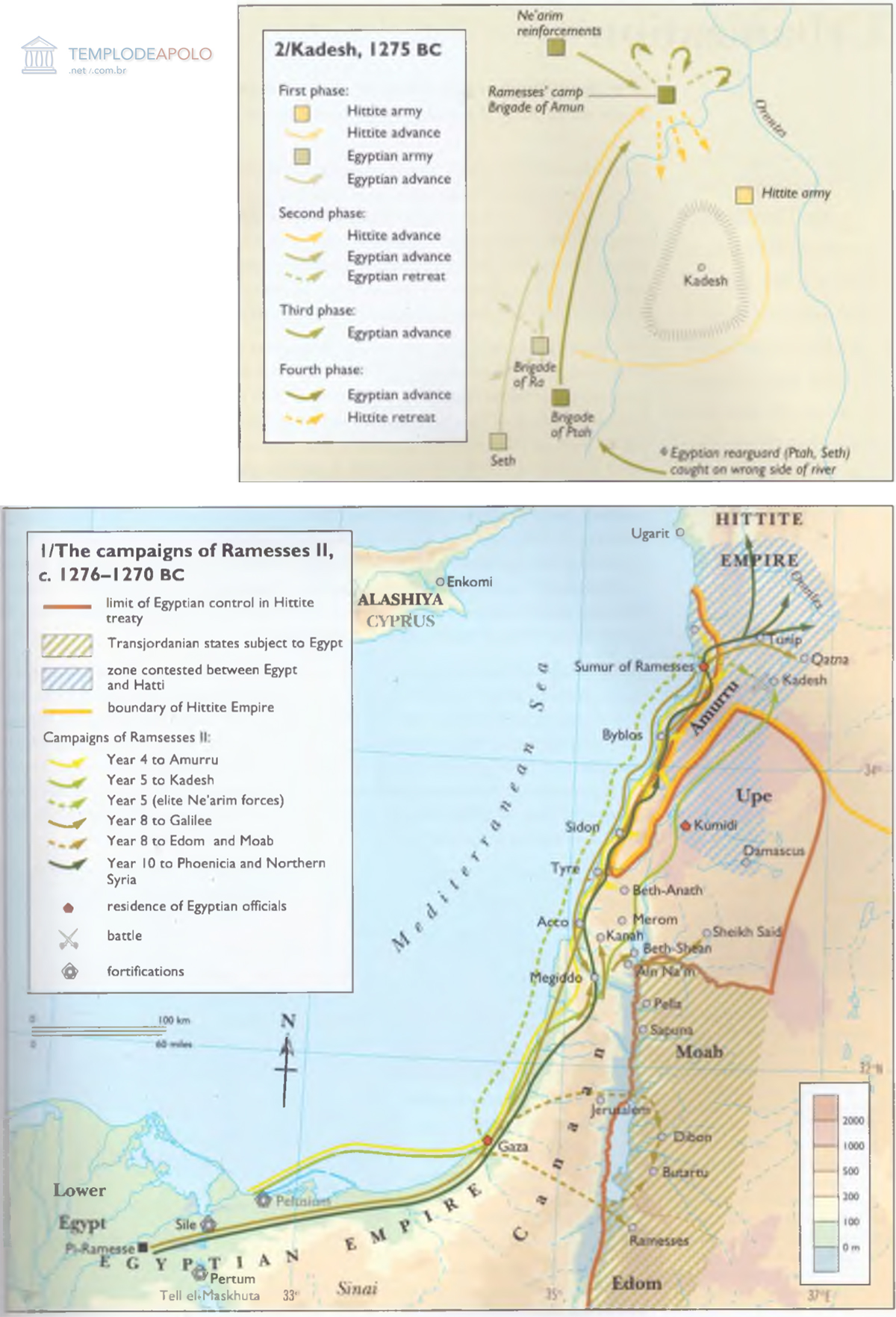


O nascimento da Dinamarca e da Noruega como Estados nacionais na primeira metade do século XI pôs em marcha a fase final da expansão viking a ocidente, quando os seus reis começaram a ter de demonstrar as suas capacidades politicas e a pôr a prova o seu poder num cenário europeu mais amplo. O primeiro passo neste processo foi o reatamento das guerras contra a Inglaterra. As incursões vikings voltaram a começar em 980, ao fim de um interregno de quase 30 anos, depois de os ingleses terem recuperado o Danelaw dos seus governantes escandinavos, e de ter sido destituído o ultimo rei viking em York, em 954.
O império de Canuto, o Grande | Haroldo Hardradi e a invasão da Inglaterra | Duque William da Normandia e a conquista da Inglaterra
As incursões tomaram a forma de uma dupla serie de ataques a costa meridional da Inglaterra e ao Norte do Pais de Gales. Estes últimos tiveram inicio a partir das colônias hiberno-nórdicas na Irlanda e dos arredores do mar da Irlanda. Provavelmente não foram tentativas de conquista, nem sequer um plano premeditado de caça de tesouros, como por vezes se afirmou. É muito mais provável que os vikings estabelecidos na Irlanda voltassem a sua pratica de saque temporário oportunista, temporariamente interrompido pelo severo comando do rei inglês Edgar, o Pacifico (957-975). Este ressurgimento da atividade talvez conferisse algum credito a acusação de governo pouco enérgico feita contra Ethelred II pela Crônica anglo-saxã, embora não haja duvida de que a fonte da uma descrição excessivamente deprimente do seu reinado. O apodo de Ethelred, o Indeciso, e uma má tradução do inglês antigo unraed, que na verdade significa "mal aconselhado".
Os ataques a Inglaterra vindos do leste eram claramente motivados por ambições muito diferentes. Não sabemos até que ponto os reis dinamarqueses estavam envolvidos nas primeiras incursões, mas começaram a desempenhar um papel muito ativo nas expedições logo a seguir ao recomeço dos ataques em 980. No final do século X os fornecimentos de prata procedentes da Rússia e do Califado Abássida se tinham esgotado, e as novas fontes na Alemanha só os tinha substituído parcialmente. Os desenvolvimentos políticos dentro da Escandinávia e a crescente centralização do poder tinham começado a tornar a monarquia um empreendimento muito caro; os custos elevados dos ambiciosos programas de engenharia civil, a construção de estradas e as obras defensivas de Haroldo Dente Azul na Dinamarca já foram assinalados, e os séquitos militares reais também consumiam grande parte da riqueza do novo reino.
Se o custo da monarquia estava aumentando, o mesmo acontecia com o custo da tomada do poder. Os aspirantes à usurpação e os exilados reais, que tinham sido uma característica destacada da politica viking desde as primeiras incursões no século IX, teriam sentido também a necessidade crescente de dinheiro. Estes fatores podem contribuir para explicar o recomeço de tais incursões no final do século X e no inicio do século XI, pois é obvio que os que tomavam parte nelas não tinham interesse em conquistar terras. As incursões só tinham um objetivo, a obtenção da maior riqueza transportável possível.
Nos dez anos seguintes, as incursões intensificaram-se muito dramaticamente. As frotas vikings eram grandes e
atuavam sob o comando real como forças bem coordenadas; na verdade, como autenticas armadas nacionais. Além disso, varias frotas governadas por pretendentes reais hostis também participavam nas incursões. Por exemplo, Olav Tryggvason, que se tornou rei da Noruega em 995, dirigiu uma frota de 93 embarcações contra o Sudeste da Inglaterra, em 991. Os ingleses opuseram resistência armada às incursões, mas na época da campanha de Tryggvason tinham decidido continuar com a politica de pagar danegeds, numa tentativa de evitar posteriores ataques. Isto foi em consequência da desastrosa derrota para os dinamarqueses na batalha de Maldon, no Essex (um dos mais famosos poemas escritos em inglês antigo celebra a sua resistência heroica, conquanto condenada ao fracasso). No entanto, o pagamento de 4.500 quilos (10.000 libras) de prata aos dinamarqueses parece que teve o efeito de anima-los a retornar em maior numero, apesar das tentativas desesperadas de Ethelred de mobilizar os ingleses. Em 994, Olaf Tryggvason retornou, desta vez aliado com Svein, o Barba Bifurcada. A sua empresa foi bem recompensada com um pagamento de 7.250 quilos (16.000 libras) de prata.
Os danegelds continuaram a ser pagos com somas cada vez maiores: 11.800 quilos (24.000 libras) de prata em 1002; 16.000 quilos (36.000 libras) em 1007; e 22.000 quilos (48.000 libras) em 1012. Isso era uma sangria econômica enorme, e o desespero crescente do governo inglês pode ser observado na terrível ordem dada por Ethelred de matar todos os dinamarqueses que vivessem na Inglaterra no dia de São Bartolomeu (13 de novembro) de 1002; a realidade desta ordem é confirmada numa carta de Oxford que fala dos dinamarqueses que se acolheram numa igreja. O registro arqueológico parece confirmar a pouca segurança desta época agitada. Encontraram-se vários tesouros que datam deste período no Sudeste da Inglaterra, dando a entender que as pessoas enterravam a sua riqueza para protege-la do roubo, verificando-se um aumento correspondente na quantidade de moedas de prata inglesas encontradas nos tesouros escandinavos. Só na Gotlandia, recuperaram-se mais de 50.000 moedas.
É obvio que vários dos invasores vinham da Suécia, ao contrario dos ataques do século IX; esta modificação parece estar relacionada com a crescente centralizaão do Estado russo, que limitava o campo de ação dos suecos para as operações vikings a leste. Varias peças rúnicas da Suécia comemoram os homens que morreram lutando na Inglaterra, e algumas mencionam os danegelds. Uma pedra de Yttergarde, por exemplo, conta-nos que um certo Ulf teve a sorte de receber três partes: "A primeira
foi a que pagou Tosti, depois pagou Thorkel e depois Canuto."
Para além do saque e da extorsão, muitos escandinavos tomavam um terceiro caminho para a riqueza, pois em 1012 e 1013 vários vikings sob o comando de Thorkel, o Alto, lutaram como mercenários do lado inglês.
À medida que os escandinavos enriqueciam com a prata da Inglaterra, os seus horizontes aumentavam e as incursões tomavam uma dimensão politica nova. Svein, o Barba Bifurcada, começou claramente a conceber a ideia de conquistar toda a Inglaterra. Semelhante empreendimento, se tivesse tido êxito, tê-lo-ia convertido no rei mais poderoso da Escandinávia. Não parece que participasse pessoalmente nas campanhas de 1009-1012, mas provavelmente foram dirigidas por ele, e em 1013 voltou à Inglaterra com uma frota impressionante, dirigida por ele próprio. Os ingleses, esgotados, foram incapazes de resistir ao violento ataque, e em 1013 Svein foi aceito como rei pela população do Danelaw; depois de Ethelred fugir para Franca, o seu reconhecimento estendeu-se a toda a Inglaterra. No entanto, Ethelred pode regressar em 1014, quando a Crônica anglo-saxã registra o "feliz acontecimento" da morte de Svein.
Os últimos dois anos do reinado Ethelred decorreram com ele lutando numa guerra perdida de antemão com Canuto, o filho de Svein, que tinha ficado no Danelaw com o seu exercito. Quando Ethelred morreu em 1016, o seu filho Edmundo opôs uma feroz resistência aos vikings, fazendo-os recuar atravessando o Sul do pais, e ganhando o apodo de Costas de Ferro. Não obstante, também ele morreu naquele mesmo ano, e os ingleses não tiveram outra alternativa senão aceitar Canuto como rei. Este dividiu imediatamente o país entre os seus comandantes. Canuto e os seus sucessores escandinavos governariam a Inglaterra por quase 30 anos.
---------------
![]()
Quando Svein morreu, o reino dinamarquês passou para Haroldo, o herdeiro de Canuto, enquanto Canuto consolidava a posição dos dinamarqueses na Inglaterra.
Quando Haroldo morreu em 1018, Canuto utilizou as forças inglesas para empreender uma campanha na Dinamarca e garantir o trono. Alcançou o seu objetivo em 1019 e então governou um território maior que o de qualquer viking que o tivesse precedido, pondo-se a forjar um império que dominaria as terras a volta do mar do Norte. Passava a maior parte do tempo na Inglaterra, talvez porque isso realçasse o seu prestigio e a sua posição como governante europeu. Com este fim, casou-se também com a viúva de Ethelred e voltou a editar o código jurídico de Ethelred com o seu próprio nome. A cunhagem de uma moeda comum para a Inglaterra e a Dinamarca acentuou a fusão das duas partes do seu reino.
Da sua capital em Winchester, no Sul da Inglaterra, Canuto governava como o modelo de monarca cristão, e assegurava-se de que toda a gente soubesse do seu apoio aos mosteiros. Uma pagina do Livro da vida (Liber Vitae), que contem "os nomes de todos os irmãos e monges e dos associados e benfeitores, vivos e mortos" do novo mosteiro de Winchester, representa Canuto e sua mulher, Emma (Elfgyfu), obsequiando o bispo com uma Cruz de ouro de altar. Este é um retrato pouco frequente de um rei viking. Vemos Canuto rodeado de anjos; a mão de Deus assinala o seu direito divino de realeza, mas Canuto mantem uma mão sobre sua espada como recordação da verdadeira fonte do seu poder.
Na Dinamarca, praticava-se um patrocínio semelhante. É claro que havia laços artísticos entre os dois países. Uma das introduções mais importantes de Canuto na Inglaterra foi o estilo de Ringerike, que então era corrente na Dinamarca e que os artistas ingleses empregaram em novas formas, como adorno de manuscritos. Uma lapide fragmentada que foi encontrada no cemitério de St. Paul em Londres no século XIX proporcionou um dos melhores exemplos do estilo que temos na Inglaterra ou na Dinamarca. Um animal magnifico, que no inicio foi pintado de vermelho, branco e preto, anda com passada larga através da pedra, com uma serpente parecida com uma faixa enroscada nas patas. Uma inscrição rúnica em nórdico antigo faz constar que "Esta pedra foi erigida por Ginna e Toki".
Canuto foi por diversas ocasiões lutar em guerras na Escandinávia, e em 1026 foi derrotado por um exercito aliado dos reis da Noruega e da Suécia, na batalha de Holy River na Suécia. Em 1028, aproveitou-se das disputas entre os latifundiários noruegueses e o rei Olaf Haraldsson para fomentar uma rebelião. Utilizando uma vez mais as forças inglesas. Canuto foi proclamado rei da Noruega em Trondheim; Olaf Haraldsson morreu dois anos depois na batalha de Stiklestad tentando recuperar o seu trono. As moedas cunhadas em Sigtuna que levavam a inscrição "Canuto, rei dos suecos" são um sinal de que a sua autoridade era também reconhecida na Suécia. Canuto esteve presente em Roma na coroação do imperador Conrado II, em 1027, quando pode ocupar um lugar entre os governantes da Europa, e ao morrer, em 1035, estava justificado no seu direito a reinar sobre um império imenso: Inglaterra, Dinamarca, Noruega e Suécia Meridional.
No entanto, como pode acontecer com muitos empreendimentos criados com ambição pessoal, o império de Canuto desintegrou-se com a sua morte. O seu filho, Hardacnuto, que o sucedeu tanto no trono inglês como no dinamarquês em 1040, não fez muito para travar o seu declínio. Depois da sua morte num banquete em 1042, a coroa inglesa regressou a antiga linha real, quando Eduardo, o Confessor, o único filho sobrevivente de Ethelred II, foi proclamado rei, após o seu regresso de um exilio de 25 anos na Normandia.
---------------
Haroldo Hardradi e a invasão da Inglaterra
Com a morte de Eduardo, o Confessor, em janeiro de 1066, quase se precipitou o ultimo episódio na história do envolvimento direto dos escandinavos na Inglaterra. Foi instigada por Haroldo Siguardarson, o rei da Noruega, que lutou tão encarniçadamente pelo poder, que rapidamente foi apelidado de Hardradi (Governante Severo). Adam de Bremen chamava-o de "raio do norte". A carreira de Haroldo foi uma das mais ilustres do mundo viking no século XI, e valeu-lhe uma reputação igual a de Canuto; a sua procura da fama como um fim em si mesmo e uma demonstração evidente da ideia muito clara que os reis vikings posteriores tiveram da sua pr6pria mitologia.
Meio irmão de Olaf Haraldsson, Haroldo tinha estado na batalha de Stiklestad com 15 anos de idade, e tinha fugido para a Suécia para evitar as consequências da morte de Olaf. Da Suécia, Haroldo viajou para a Russia, onde entrou para o serviço de Yaroslav de Kiev, mas rapidamente se aventurou para sul, até Bizâncio, onde se uniu aos varegues do imperador. As suas numerosas aventuras a serviço do imperador no leste eram famosas em todo o mundo viking, mas acabaram em 1054, quando regressou ao norte para procurar um lugar na Noruega.
A morte de Hardacnuto na Inglaterra tinha deixado um vazio de poder na Escandinávia. Hardacnuto tinha cedido, em vida, a soberania dos seus territórios dinamarqueses ao rei norueguês Magnus, mas agora Svein, o filho da irmã de Canuto, os reclamava. Haroldo viu nesta situação uma oportunidade para si, e fez uma aliança com Svein contra Magrius. Quando este morreu em 1047, Haroldo herdou o trono norueguês e voltou-se contra Svein.
Durante os 20 anos que se seguiram, morreram milhares de pessoas em inumeráveis batalhas, dado que ambos os reis empreenderam uma campanha violenta de incursões e de contra-ataques, caracterizados pela traição e pela vingança. O famoso estandarte de Haroldo, o Devastador de Terras, tremulou sobre grande parte da Dinamarca, e ate Hedeby foi queimada. No entanto, a guerra chegou a um ponto morto, e em 1064 os dois governantes acordaram fazer as pazes. A essa altura Haroldo já tinha 50 anos, tinha lutado na maior parte do mundo conhecido e reinara em todas as partes da Escandinávia. Em 1066 empreendeu a sua ultima aventura, que ia proporcionar um final histórico à época viking, se não de fato, pelo menos em espirito.
Eduardo, o Confessor, da Inglaterra morrera sem deixar herdeiro. Em meio a alguma controvérsia, Haroldo Godwinson, que fora um dos principais conselheiros de Eduardo, foi proclamado rei no dia seguinte. A noticia foi avidamente recebida na Noruega, dado que Haroldo Hardradi viu uma oportunidade para invadir a Inglaterra e proclamar-se sucessor natural de Canuto. Estimularam-no Tostig, o irmão de Haroldo Godwinson, antigo conde da Nortumbria, que tinha sido exilado da Inglaterra no ano anterior, e também o conde das Órcades. Haroldo Hardradi revelou a sua grande destreza militar como tático ocultando os seus planos aos ingleses e reunindo as suas forças secretamente. No final do verão, Haroldo Godwinson foi apanhado completamente de surpresa com a noticia de que uma frota norueguesa de 200 barcos tinha navegado pelo estuário de Humber e desembarcado em Riccall, no rio Ouse. A ele se juntaram rapidamente as frotas de Tostig e a do conde das Orcades, formando uma forca combinada talvez de 300 barcos e de 9.000 soldados. Poucos dias depois de ter desembarcado, o exercito de Hardradi tinha destrocado as milícias da Nortumbria em Gate Fulford. Fizeram reféns entre a população da cidade próxima de York, e Hardradi instalou-se para consolidar o seu domínio na Nortumbria antes de se deslocar para sul. Em meados de setembro, acampou o seu exercito em Stamford Bridge, a 22 quilômetros dos seus barcos em Riccall e a 12 quilômetros de York.
Sem que Hardradi o soubesse, Haroldo Godwinson tinha iniciado uma marcha desesperada para norte com todas as tropas que pôde reunir logo que foi informado do desembarque norueguês. Em poucos dias, o seu exército estava em Tacaster, nos arredores de York. Os noruegueses ainda desconheciam a sua presença quando em 25 de setembro, após uma marcha de 27 quilômetros, o exercito inglês caiu sobre eles em Stamford Bridge.
O primeiro sinal da sua aproximação foi o reflexo do sol da manhã nas suas armas quando surgiram no horizonte: "como o sol num campo de gelo quebrado", como depois o descreveu uma saga norueguesa. No início, Haroldo Hardradi tentou negociar uma trégua à maneira antiga, prometendo não lutar se o outro lhe desse todo o norte. A resposta de Haroldo chegou ate nós: "Ceder-te-ei sete pés de terra inglesa ou quanto superas em altura os outros homens".
A batalha foi violenta, longa e decisiva. Foi o maior combate em solo inglês desde Brunanburh em 937, e os dois exércitos lutaram durante todo o dia. O rei norueguês chamou os reforços dos barcos ancorados em Riccall, que vieram em socorro com todo o seu arsenal. Apesar dos seus esforços, os noruegueses, esgotados, foram aniquilados; Harald Hardradi, o ultimo grande rei viking, morreu com uma flecha na garganta. Os ingleses perseguiram os noruegueses que fugiam, durante toda a noite, até aos seus barcos em Riccall. A matança foi tão grande, que dos 300 barcos invasores só 24 regressaram à Noruega. Os mortos ficaram no campo de batalha, e os seus ossos permaneceram com um sinal durante gerações.
Enquanto os felizes sobreviventes cruzavam o mar, Haroldo Godwinson e o exercito inglês voltaram para o sul, como resposta as noticias que Haroldo temia. O duque William (Guilherme) da Normandia tinha desembarcado em Pevensey, na costa sul da Inglaterra, com um exercito normando que também tentava conquistar o país.
---------------
William da Normandia e a conquista da Inglaterra
Enquanto Haroldo Hardradi tinha estado planejando a sua invasão na sua capital de Trondheim, planos semelhantes tinham sido traçados na Fortaleza de Falaise, na Normandia, por parte de William. Este tinha nascido por volta de 1027, era filho ilegítimo do duque Roberto, o quarto descendente direto do viking Rollon, a quem foi cedida a Normandia em 911. O pai de Guilherme tinha morrido em 1035, e na ausência de um legitimo herdeiro passou a infância entre amargas lutas politicas que tinham ameaçado destruir o ducado. Ao atingir a maturidade, William fez valer com êxito o seu direito a sucessão e impôs a sua maturidade a todos os aspectos da sociedade normanda. Lutou implacavelmente contra os reis Capetos de França nas suas fronteiras, reorganizando o exercito e introduzindo o desenvolvimento de unidades de cavalaria muito capacitadas; em 1066 a máquina de guerra normanda não tinha, provavelmente, rival na Europa. Como Canuto, William era um fiel patrocinador da Igreja.
Construiu a magnifica Abadia de Jumieges, entre muitas outras fundações religiosas, e estava permanentemente ansioso por mostrar-se um fiel servidor do papa de Roma. Seu meio-irmão Odo era bispo de Bayeux.
As dinastias da Normandia e da Inglaterra contraíram parentesco através de casamentos durante o reinado de Canuto, e desta aliança William retirou o seu direito ao trono inglês. Tinha aproveitado a oportunidade de insistir nisso até quando Eduardo, o Confessor, ainda estava vivo. Por volta de 1064, Harold Godwinson visitara a Normandia, onde tinha sido hóspede do duque William. As circunstâncias deste encontro não estão claras; a explicação mais provável e que Haroldo se desviou da sua rota devido a uma tempestade quando se encontrava a caminho da Irlanda. No entanto, não há duvida de que enquanto esteve ali se viu obrigado a jurar lealdade a William e acordou apoia-lo depois da morte de Eduardo. Quando William soube que Haroldo tinha assumido ele mesmo o poder, parece que se enfureceu tanto, que lançou a capa contra o rosto e recusou-se a falar. Ordenou imediatamente que construíssem uma frota para invadir a Inglaterra, e teve-a pronta em princípios de setembro.
O mesmo vento que tinha conduzido o exercito norueguês através do mar do Norte até a costa de Yorkshire manteve os barcos normandos confinados no porto de Dieppe, na costa da França. Em 27 de setembro, quando a frota pôde zarpar, Haroldo Hadradi já tinha morrido em Stamford Bridge. Uma vez do lado do canal, o exercito de William desembarcou sem oposição e empreendeu imediatamente a construção de uma base fortificada. A partir dali, preparou-se para se encontrar com os ingleses numa batalha, já que, ao contrario dos noruegueses, William sabia que Haroldo estava a caminho. O exercito inglês partiu de York pela costa meridional, uma distancia de 400 quilômetros, em 9 dias, incapaz de parar e esperar reforços. A força contava com cerca de 7.000 soldados, entre os quais havia muitas milícias camponesas, e todas estavam esgotadas depois da batalha de Stamford Bridge, que tinha ocorrido poucos dias atrás. William tinha mais ou menos o mesmo número de tropas, mas as suas forças incluíam centenas de arqueiros e companhias de cavaleiros montados.
Os dois exércitos encontraram-se em 14 de outubro rum lugar que se acha no extremo da aldeia moderna de Battle, em Sussex, a cerca de 14 quilômetros de Hastings. O exercito inglês espalhou-se por toda uma cordilheira que dominava um vale pantanoso onde estavam posicionados os normandos; no centro, Haroldo agrupava os seus guarda-costas à volta do estandarte do dragão de Wessex. Ao anoitecer, os normandos avançaram e depararam com uma resistência feroz. Os seus cavalos resvalaram no barro, e a sua infantaria teve de retroceder debaixo de uma chuva de lamas, rochas e paus, dado que os ingleses lançavam tudo o que estava a mão.
O contingente bretão do exercito de William se dispersou e fugiu, arrastando muitas das tropas normandas. Era como se Haroldo tivesse conseguido duas grandes vitórias em quinze dias. No entanto, quando as troas inglesas deixaram a cordilheira e correram para eles, Guilherme reorganizou os seus homens e a cavalaria normanda regressou, cortando em dois o exercito inglês no vale.
Depois, foi apenas uma questão de tempo. Enquanto os ingleses recuavam através da cordilheira, a guarda real à volta de Haroldo estava tão apinhada, que os corpos dos mortos não podiam cair, segundo dizem os cronistas normandos. Primeiro morreram dois irmãos de Haroldo, e depois o próprio Haroldo. Não podemos ter certeza de se lhe acertaram no olho com uma seta, segundo os rumores que correram depois da batalha, mas alguns normandos afirmaram que o próprio William cavalgou sobre o muro de escudos ingleses para atingir o rei. A história da batalha é contada em muitas fortes inglesas e normandas, mas o registro de maior vivacidade se encontra no bordado conhecido como a tapeçaria de Bayeux. Esta foi encomendada - provavelmente por Odo de Bayeux - a bordadores ingleses para comemorar o triunfo normando.
Depois da vitória de Hastings, o exercito de William invadiu o norte com pouca resistência. No dia de Natal de 1066, foi coroado rei da Inglaterra na Abadia de Westminster, em Londres, e assim conseguiu, como viking de quinta geração, o que os seus antepassados do norte não tinham podido fazer durante tanto tempo. Os efeitos do desastre norueguês e a conquista normanda tiveram grande repercussão. As perdas de Stamford Bridge foram tão graves, que nenhum rei norueguês pôde fazer ofensivas em grande escala durante mais de uma geração. Embora uma frota dinamarquesa tenha tentado conquistar o Norte da Inglaterra em 1069, os exércitos dinamarqueses estavam igualmente exaustos após 17 anos de guerra com Hardradi, e as ambições expansionistas suecas tinham sido neutralizadas no mesmo conflito. Em 1098, as fortunas da Noruega se tinham recuperado o suficiente para que o rei Magnus empreendesse a ultima expedição viking autentica a ocidente, fazendo incursões pelas ilhas Hebridas e pela ilha de Man, e até lutando contra os normandos no Pais de Gales. Mas, embora os barcos noruegueses continuassem a fustigar a costa irlandesa no século XIII, a tradição viking na Europa Ocidental praticamente morreu com Haroldo Hardradi em Stamford Bridge, e foi finalmente enterrada quando seu filho trouxe o seu corpo para Trindheim em 1067. A esfera do poder na Europa Setentrional tinha-se transferido da Escandinávia e do mar do Norte para os países de ambos os lados do canal da Mancha.

A história russa começa com a unidade política que os estudiosos vieram a chamar de Rus de Kiev, a antecessora da Rússia moderna. Rus era o nome que os habitantes davam a si mesmos e à sua terra, e Kiev era a sua capital. Em termos modernos, ela abarcava toda a Bielorrússia, a metade setentrional da Ucrânia e o Centro e o Noroeste da Rússia europeia. Os povos desses três Estados modernos são os eslavos orientais, que falam línguas aparentadas derivadas da língua eslava oriental de Rus de Kiev. A oeste seus vizinhos eram basicamente os mesmos que os vizinhos desses três Estados hoje: Hungria, Polônia, os povos bálticos e a Finlândia. Ao norte Rus de Kiev estendia-se em direção ao oceano Ártico, e os agricultores eslavos estavam apenas começando a deslocar-se para o extremo norte.
Para além dos eslavos, a leste, havia a Bulgária do Volga, um pequeno Estado túrquico islâmico que surgiu em aproximadamente 950 d.e.c. onde hoje está o atual Tartaristão. Para além da Bulgária do Volga estavam os Urais e a Sibéria, vastas florestas e planícies habitadas por pequenas tribos que viviam da caça e coleta de alimento. O núcleo de Rus de Kiev ficava ao longo da rota que ia da Novgorod Setentrional para o sul em direção a Kiev, à margem dos principais rios. Ali, na região de solo mais fértil, ficava a capital, Kiev. Ainda mais ao sul de Kiev começava a estepe.
As terras de Rus de Kiev ficavam na zona de florestas da grande planície da Europa Oriental. Não há montanhas nem grandes cadeias de montes que quebrem essa planície entre a Polónia e os Urais. A zona de floresta é decídua ao sul em torno de Kiev (carvalho, faia, castanheira e álamo), ao passo que, mais ao norte, as florestas predominantes eram e são compostas de coníferas setentrionais (pinheiro, abeto e bétula). O melhor solo, escuro e úmido, estava ao sul, onde os campos se abriam por entre as árvores mais perto da estepe. Na parte setentrional da zona de floresta, o solo era arenoso e os pântanos frequentes, por isso a agricultura era mais rara e concentrada em torno dos lagos e ao longo dos grandes rios. Os grandes rios eram as artérias da vida. O Dnieper, o Dvina Ocidental, o Volga, o Oka e os rios menores em torno de Novgorod (o Volkhov e outros) proporcionavam rotas para o sul e o leste pelo lago Ladoga até o mar Báltico. À margem dos rios, príncipes e guerreiros, mercadores e agricultores podiam deslocar-se livremente, pelo menos nos meses de verão, quando os rios não estavam congelados.
A oeste e leste de Rus de Kiev, as fronteiras eram as do controle político e da etnicidade. Ao sul a fronteira étnica e política era, na origem, uma fronteira ecológica. Ao sul das terras kievanas em direção ao mar Negro e ao mar Cáspio ficava a grande estepe, seca mas não árida, de pradarias planas com poucas árvores e a “terra preta”. O mato alto ocultava uma quantidade enorme de animais, incluindo antílopes, cavalos selvagens e até panteras, enquanto os rios abrigavam uma miríade de patos e gansos selvagens, bem como esturjão e outros peixes. Séculos mais tarde, o escritor russo Gógol escreveu sobre a estepe: “Quanto mais se adentrava a estepe, mais bela ela se tornava [...]. O arado nunca havia tocado aquelas ondas infinitas de crescimento selvagem. Somente os cavalos que se escondiam no mato como numa floresta a haviam pisado. Nada na natureza poderia ser melhor. Toda a superfície da Terra era como um oceano verde e dourado, salpicado de milhões de flores variadas” (Tarás Bulba). A estepe, na verdade, era a extensão ocidental da grande estepe eurasiana que se estendia até a Manchúria, que hoje cobre a Mongólia, a China Setentrional, Xinjiang e o Cazaquistão. Desde tempos imemoriais ela é a terra dos nómades e seus grandes impérios - primeiro os citas iranianos e os sarmatas da Antiguidade clássica, que mais tarde foram substituídos pelos temíveis hunos e depois por ondas sucessivas de povos túrquicos. Os nômades não vagavam sem rumo pela paisagem, mas seguiam uma migração anual regular numa área maior ou menor. Eles mantinham-se à proximidade dos vales dos grandes rios - o Danúbio, o Dnieper, o Don e o Volga -, onde encontravam pastagens de inverno e de verão para os seus animais. Os nômades não tentavam estabelecer-se nas florestas, mas usavam-nas como fonte de butim e escravos e, quando conseguiam, também cobravam tributos dos povos sedentários. Durante séculos foi essa a relação entre nômades e agricultores em toda a Ásia Setentrional e mais além. A estepe e seus nômades viriam a constituir um elemento crucial da história de Rus de Kiev, e mais tarde da Rússia, até o século XVIII.
A arqueologia revela muita coisa sobre o assentamento e a vida dos primeiros eslavos orientais. Eles eram certamente o grupo predominante ao longo do eixo central de Rus de Kiev até Novgorod já em 800 d.e.c., no mínimo, e ainda estavam se deslocando para o norte e o leste, colonizando novas terras. Eles haviam construído muitas aldeias e fortificações de terra com paliçadas de madeira e enterravam seus mortos com as ferramentas e armas necessárias para a vida no outro mundo. Outras fontes nos dão alguma ideia dos seus deuses: Perun, deus do trovão e do céu, era aparentemente o deus maior, mas havia também Veles, deus do gado; Stribog, deus do vento; e os mais elusivos deuses da fertilidade, Rod e Rozhanitsa. Em torno de Kiev havia espaços redondos formados de pedras que parecem ter sido locais de culto, mas a cultura ancestral eslava nunca teve textos escritos (ou nenhum que tenha sobrevivido) que nos pudessem fazer vislumbrar as suas crenças efetivas.
Reconstruir a história política dos primeiros eslavos é igualmente complicado. Diz a lenda que o viking Rurik veio de além-mar com dois irmãos para reinar em Novgorod em 862 d.e.c. É uma lenda clássica de fundação encontrada em muitas culturas e, por esse motivo, foi crucial para a autoconsciência da dinastia reinante que sucedeu. O texto que narra a lenda, a Crônica Primeira kievana de 1116, é vago quanto ao estabelecimento dos descendentes de Rurik em Kiev. O viking Oleg teria supostamente descido os rios e tomado a cidade em 882, mas sua relação com Rurik não foi especificada. Terá algum dos dois realmente existido? O príncipe Igor, supostamente filho de Rurik, foi uma pessoa real que efetivamente reinou em Kiev (913-945) até que uma tribo rebelde o matou. O ancestral do clã continuou a ser Rurik, que deu seu nome à dinastia reinante, os Rurikovich.
A dinastia Rurikovich era originalmente escandinava, como sugerem a lenda e os nomes antigos: Oleg do nórdico Helge e Igor de Ingvar. Nossa única fonte escrita, a Crônica Primeira, chama-os de varegues, um dos nomes usados em Bizâncio para designar os escandinavos. Em outras passagens ela diz que eles se chamavam rus, não varegues. Mais adiante, o texto localiza Rus na região de Kiev, porém, no mais das vezes, chama o conjunto do Estado e do povo de Rus. O autor servia a seus senhores, identificando príncipes e povo, e deixando o historiador numa maçaroca praticamente impossível de desemaranhar. De qualquer forma, os primeiros Rurikovich eram sem dúvida escandinavos e seu aparecimento em Rus foi parte da expansão dos povos escandinavos na época dos vikings. Infelizmente, os indícios arqueológicos não correspondem muito bem às lendas da Crônica Primeira. Os vestígios vikings desses primeiros séculos estão concentrados em volta da margem meridional do lago Ladoga e na cidade de Ladoga Velha. Os relatos da crônica tentaram situá-los em Novgorod, mas Novgorod só veio a existir por volta de 950 d.e.c., depois que a dinastia de Rurik já estava estabelecida em Kiev. E na própria Escandinávia não havia sagas de triunfos e guerras vikings na Rússia equivalentes às que relatam a conquista da Islândia e das ilhas Britânicas. Nas terras que outrora faziam parte de Rus de Kiev, não há runas que imortalizam os grandes guerreiros e suas mortes como as que cobrem a Escandinávia e as ilhas ocidentais que os vikings percorriam. A única coisa que podemos dizer com segurança é que um grupo de guerreiros cuja base era provavelmente Ladoga, onde havia uma comunidade escando-eslavo-finlandesa, chegou em Kiev por volta de 900 d.e.c. e começou a reinar na região, estabelecendo rapidamente sua autoridade sobre toda a vasta área de Rus de Kiev.
O mundo de 950 d.e.c. era muito diferente de como poderíamos imaginá-lo hoje. A Europa Ocidental era uma coleção empobrecida de pequenos reinos frágeis e dinastias locais. O grande império carolíngio havia sumido há um século e a sociedade feudal clássica da Europa Medieval mal estava surgindo. Na França, os grandes senhores regionais e barões só prestavam uma obediência das mais teóricas ao seu rei. A maior potência setentrional naquele momento era a Dinamarca, já que os reis dinamarqueses controlavam grande parte da Inglaterra e os vikings tinham pequenos reinos na Irlanda e na Escócia. O imperador ainda reinava na Alemanha, e na Itália o papado ainda estava sob o seu controle, enquanto os senhores regionais da Alemanha e da Itália tornavam-se cada vez mais independentes. A maior parte da península Ibérica estava sob domínio árabe e uns poucos principados cristãos diminutos resistiam no Norte.
As grandes potências e centros de civilização eram o Califado árabe e o Império Bizantino. Poucos séculos antes, os árabes haviam levado o Islã aos recônditos da Eurásia Ocidental, à Ásia Central e à Espanha, e o Califado abássida em Bagdá era agora o centro desse mundo. Foram os grandes séculos da cultura árabe medieval - a época das traduções de Aristóteles e outras obras da sabedoria grega e do comentário e desenvolvimento das ideias e ciência gregas pelos islâmicos. O Califado era imensamente rico e os numerosos tesouros de moedas encontrados no território rus são prova do seu comércio com os vizinhos setentrionais. Ainda mais importante para Rus de Kiev era Bizâncio. Os gregos haviam se recuperado do imenso impacto das conquistas árabes dos séculos VII e VIII e, por volta de 900 d.e.c, a Bizâncio renovada era senhora da Anatólia e dos Bálcãs Meridionais. Sua civilização era complexa, uma sociedade cristã com uma rica cultura monástica e ao mesmo tempo a herdeira da Antiguidade clássica. Enquanto os monges passavam os dias em liturgia e contemplação, seus parentes e patronos liam Homero e Tucídides, Platão e Demóstenes. Laicos escreviam a história do império, não em crônicas monásticas em língua simplificada como as da Europa Ocidental, mas em grego ático castiço, seguindo os modelos dos antigos. O Império Bizantino também era um Estado burocrático ao estilo romano tardio, baseado no Direito romano escrito e na documentação em papel. Os meninos eram preparados para aprender todo esse material desde tenra idade, seguindo a sequência das matérias e textos estabelecida já na época romana. Afinal, os bizantinos não chamavam a si mesmos de gregos, mas de romanos, Rhomaioi, e para eles o seu país ainda era Roma.
Os bizantinos não eram vizinhos imediatos de Rus de Kiev e a comunicação era difícil. O contato mais íntimo ocorria com os nômades túrquicos da grande estepe. A partir de aproximadamente 750 d.e.c., a estepe era domínio dos cazares, um povo nômade cujo centro estava no baixo Volga e que cobrava tributo das tribos meridionais de Rus. Os cazares eram um povo singular, pois seus governantes, os kagans, tinham se convertido do ancestralismo túrquico ao judaísmo e tinham cópias da bíblia hebraica. Impérios nômades tinham curta duração e, no meio do século X, os pechenegues túrquicos tomaram o lugar dos cazares, mas acabaram substituídos cerca de um século depois por outro povo túrquico, os kiptchaks - ou polovtsy, como os rus os chamavam. Na estepe os kiptchaks viviam numa série de grandes grupos, cada qual em um dos rios principais, dos quais os mais importantes para Rus eram o Dnieper, o Donets Setentrional e o Don. Sua migração anual entre pastagens de inverno e verão envolvia manadas numerosas de cavalos, bois, carneiros e até camelos, que os kiptchaks seguiam em tendas de feltro armadas em carroças. Sua religião era o antigo ancestralismo túrquico centrado no céu e nos ancestrais. Mais para leste, os kiptchaks espalharam-se até o baixo Volga e o Cáucaso e comerciavam com as cidades bizantinas da Crimeia. Durante longos períodos, os rus e os kiptchaks atacaram mutuamente suas terras quase todo ano. Cada grupo tomava animais, escravos e reféns do outro. Mas as relações não eram somente hostis, pois os príncipes rus tomavam esposas dentre as filhas dos chefes 3, que, por sua vez, participavam ativamente das disputas internas da dinastia Rurikovich. Alguns dos kiptchaks acabaram por adotar o cristianismo, aparentemente dos rus ou dos gregos.
GUERREIROS E CRISTÃOS
No século X, Rus de Kiev nem chegava a ser um Estado. Era mais uma assembleia de tribos - poliane/rus em torno de Kiev, eslovena em Novgorod, krivichi e viatichi entre elas, e muitas outras - governadas a partir de Kiev por um príncipe da dinastia de Rurik e seu bando guerreiro ou druzhina. As tribos pagavam tributo aos príncipes de Kiev, que as visitavam de tempos em tempos com essa finalidade. Fora isso, a vasta maioria do povo era de agricultores, espalhados pelas clareiras das florestas, que não serviam a nenhum senhor além dos príncipes de Kiev. Ainda era um mundo ancestral, como sugere a lenda da morte do príncipe Oleg. A história conta que um mago predissera que o cavalo do príncipe causaria a sua morte. Oleg abandonou o cavalo numa pastagem e esqueceu a profecia, mas anos depois ele ouviu dizer que o cavalo havia morrido e lembrou-se dela. Oleg foi ver o esqueleto do cavalo estirado num campo. Quando ele pôs o pé sobre o crânio para lamentar-se, uma cobra venenosa saiu rastejando e mordeu-o. Assim, a profecia foi cumprida.
Os príncipes de Kiev passavam seu tempo em guerras que eram essencialmente expedições de pilhagem contra os cazares, seus sucessores os pechenegues e o maior de todos os prêmios, os bizantinos. Em barcos de toras eles conseguiam margear o litoral até Constantinopla, e atacaram-na diversas vezes antes de firmar tratados com o imperador para regularizar sua condição como mercadores. A princesa Olga, viúva do príncipe Igor, tornou-se cristã por volta dessa época, talvez depois de uma viagem a Constantinopla. Ela governou o reino até aproximadamente 962 d.e.c., mas seu filho não seguiu suas crenças. Sviatoslav, filho de Igor, foi o último chefe guerreiro puro de Rus; ele passava seu tempo combatendo os gregos e outros rivais no Danúbio e na estepe. Nas suas campanhas ele dormia no chão usando sua sela como travesseiro e cortava tiras de carne crua de cavalo que assava para comer. Ele encontrou a morte na estepe ao voltar para casa após uma incursão em Bizâncio, e os pechenegues fizeram um cálice com o seu crânio.
Seu filho Vladimir (972-1015 d.e.c.) começou por seguir os passos do pai. Ele também era um grande guerreiro e manteve controle sobre o território - de Kiev pondo seus muitos filhos para reinar em terras distantes. Ele tentou organizar suas crenças ancestrais e erigiu em Kiev um templo a Perun, deus do trovão, e outras divindades. Logo, porém, ele se voltou para a religião da sua avó Olga, o cristianismo de Constantinopla. A crônica registra vários relatos de sua conversão. Provavelmente nenhum deles é verdadeiro, mas eles continuam até hoje a fazer parte das concepções russas do passado. Um deles é que a decisão saiu de um ataque contra a cidade bizantina de Quersoneso na Criméia. O ataque terminou com um compromisso segundo o qual os gregos conservariam sua cidade, mas Vladimir desposaria uma princesa bizantina e se tornaria cristão. Outro relato é que cada vizinho sugeriu que ele adotasse a sua religião. Primeiro veio um muçulmano de Bulgária do Volga que soou muito convincente, até que Vladimir soube da proibição de bebidas alcoólicas. “A alegria de Rus é a bebida”, ele disse ao búlgaro, e mandou-o embora. Em seguida Vladimir voltou-se para Roma e os rituais e jejuns pareceram atraentes, mas a objeção foi que os antepassados dos rus haviam rejeitado o cristianismo latino. Então veio um judeu cazar, mas o judaísmo fracassou por causa do exílio dos judeus, claramente um sinal da cólera divina. Então veio um “filósofo” grego e explicou o cristianismo, fazendo um breve relato do Velho e do Novo Testamento, ressaltando a queda e redenção do homem. Ele foi muito persuasivo, mas o príncipe queria uma prova final e enviou uma delegação para Bulgária, Roma e Constantinopla. Os cultos dos muçulmanos e latinos não conquistaram sua aprovação, pois careciam de beleza. Então os rus foram a Constantinopla e assistiram à liturgia em Santa Sofia, a grande catedral construída por Justiniano, e relataram que haviam ficado tão impressionados que não sabiam se estavam na terra ou no céu. A escolha recaiu sobre o cristianismo como praticado em Bizâncio e determinou o lugar de Rus de Kiev, e mais tarde da Rússia, na cultura europeia por séculos.
Vladimir ordenou que o povo de Kiev fosse batizado no rio Dnieper, mas a nova religião difundiu-se lentamente fora dos grandes centros. Vladimir repudiou suas concubinas e desposou a princesa bizantina, mas em muitos dos seus valores ele continuou a fazer parte do mundo ancestral de príncipe guerreiro. Certa vez, muitos anos depois da sua alienação (996 d.e.c.), seus guerreiros começaram a queixar-se a ele que, nos banquetes, eles tinham de comer com colheres de madeira, e não de prata. O príncipe respondeu: “não me cabe conseguir guerreiros com prata e ouro, hei de conseguir prata e ouro com meus guerreiros, como meu pai e o pai dele fizeram” - seria dificilmente o sentimento de um governante cristão. Todavia, nas cidades maiores e em torno delas, o cristianismo ganhou espaço aos poucos. O clero grego em Constantinopla forneceu os chefes da nova Igreja, os metropolitas de Kiev, mas os outros bispos eram majoritariamente nativos. A fundação do mosteiro das Cavernas de Kiev na década de 1050, dedicado à Dormição da Virgem, deu a Rus seu primeiro mosteiro, a instituição crucial do cristianismo bizantino. O mosteiro produziu não apenas seus próprios santos, os fundadores Antônio e Teodósio, mas também os bispos para as eparquias fora de Kiev. O mosteiro das Cavernas e os outros que logo surgiram em torno de Kiev e Novgorod também proporcionaram as bibliotecas e competências de escrita que produziram a Crônica Primeira e outros registros, mas evidentemente o seu papel principal era espiritual. Foram os monges que trouxeram o carisma para difundir a nova religião.
A nova religião precisava ser adaptada a uma sociedade muito diferente do mundo urbano sofisticado de Bizâncio. A introdução do cristianismo não trouxe consigo outros aspectos da civilização bizantina, pois a tradição das Igrejas orientais era de liturgia vernácula. Em Rus de Kiev a missa não era em grego, mas num dialeto búlgaro do século IX que os estudiosos chamam de eslavo antigo ou eclesiástico. Nessa época, as línguas eslavas eram todas muito semelhantes entre si, portanto esse dialeto era facilmente compreensível em Kiev. O uso do eslavo eclesiástico implicava que a liturgia, as escrituras e outros livros sagrados tinham de ser traduzidos, uma tarefa árdua mas que suprimia a necessidade de aprender grego para todos, exceto alguns poucos monges eruditos. Grande parte da literatura cristã e a totalidade da literatura secular de Bizâncio permaneceram desconhecidas em Rus de Kiev e nas sociedades posteriores. Os russos só descobririam o grego antigo no século XVIII através do Ocidente.
As relações entre Roma e Constantinopla nesses séculos remotos eram complicadas. O famoso anátema mútuo do papa e do patriarca de Constantinopla de 1054 não foi a ruptura decisiva que pareceu ser para os historiadores posteriores, e o povo de Rus mal soube dele. É verdade que um dos metropolitas gregos de Kiev escreveu um curto panfleto denunciando os latinos, mas os escritores nativos não se juntaram a ele e a Crônica Primeira nada diz sobre os fatos. Foi somente com a Quarta Cruzada, a destruição e conquista do Império Bizantino pelos Exércitos cruzados da Europa Ocidental em 1204, que o povo de Rus tomou consciência da divisão e de quem merecia sua lealdade. Os cronistas de Rus cobriram esse acontecimento com minúcias extensas e sangrentas sobre o massacre do povo e a dessacralização das igrejas. O povo rus não era apenas cristão, eles eram cristãos ortodoxos.
O cristianismo ortodoxo viria a determinar o caráter da cultura russa até o século XVIII e, sob certos aspectos, ainda mais além. Para o observador ocidental, ele sempre representou um problema, aparentemente familiar, mas na verdade não. A maioria dos ocidentais sabe mais sobre o budismo que sobre a ortodoxia, pois esta última não faz parte da experiência cotidiana nem é encontrada no curso de uma educação normal. As analogias não ajudam muito. A ortodoxia não é o catolicismo com padres casados.
As diferenças entre a ortodoxia e a Igreja católica ocidental que surgiram durante a Idade Média eram de ordem diferente das que dividiram mais tarde a Igreja ocidental à época da Reforma. Questões teológicas não eram centrais e foram, em certa medida, exageradas para oferecer explicações mais convincentes para as hostilidades. A diferença a respeito de como a doutrina da Trindade deve ser expressa no Credo Niceno, isto é, a adição católica das palavras filio que (“e do Filho”) à menção do “Espírito Santo, que procede do Pai”, não representa nenhuma diferença importante para a compreensão efetiva da Trindade. A questão principal em 1054 era a governança da Igreja. O século XI foi uma época de emancipação gradual do papado com relação ao poder dos sacros imperadores romanos, e o caminho escolhido foi a centralização do poder eclesiástico na pessoa do papa. As tradições dos patriarcas orientais eram de uma Igreja conciliar. Somente os patriarcas reunidos e o restante do alto clero podiam determinar a doutrina ou assuntos do governo da Igreja. O patriarca de Constantinopla não era um papa. O papado também conseguiu afirmar sua independência dos imperadores e de outros governantes nos assuntos do governo da Igreja e com certeza na doutrina, ao passo que a Igreja oriental operava com as noções mais nebulosas de “sinfonia” entre o imperador e o patriarca. Assuntos menores, como o celibato do clero paroquial no Ocidente, decorriam dessas decisões básicas. O clero celibatário estava livre dos enredos dos poderes seculares; um padre casado era parte da sociedade local.
Surgiram muitas diferenças entre a Igreja oriental e a ocidental em questões que são difíceis de especificar e incluíam diferenças de cultura e atitude, mais que de dogma e crença básica. A noção do edifício da igreja e da liturgia como pontos de encontro dos mundos divino e humano, de espírito e matéria, era e é central para a vida e a devoção ortodoxas. A pregação e o exame minucioso do comportamento em sermões e no confessório não eram centrais, embora fossem praticados em certa medida. O monasticismo ortodoxo era muito menos organizado, pois os mosteiros não constituíam ordens com um chefe reconhecido e as regras eram muito menos detalhadas e específicas. Por outro lado, o monasticismo ortodoxo tinha um prestígio e carisma no Leste do qual até as mais reverenciadas ordens católicas não se aproximavam. Durante a maior parte da história de Rus, até o século XVI, conhecemos muito mais sobre os mosteiros que sobre os bispos, muitos dos quais são apenas nomes para nós. Em contrapartida, os anais da Igreja medieval ocidental estão repletos de bispos santos e poderosos. Enfim, a Igreja oriental tinha uma atitude bastante diferente com relação ao aprendizado. Para a Igreja católica da Idade Média, o grande empreendimento intelectual era a interpretação do corpus dos escritos de Aristóteles à luz da revelação e dos ensinamentos da Igreja. A Igreja ortodoxa, salvo uns poucos imitadores bizantinos tardios do Ocidente, não se interessava pela filosofia ou pela ciência aristotélica. Tratava-se de conhecimentos externos, que não eram ruins em si mas não representavam a verdade final. A verdade estava no cristianismo, mais bem estudado por monges isolados do mundo, não somente das suas tentações mas também dos seus escritos seculares. Essa atitude combinava bem com a sociedade bizantina, com sua cultura secular florescente, mas menos com Rus. Em Rus, e mais tarde na Rússia, não havia cultura secular do tipo bizantino, portanto foi somente a cultura monástica cristã que floresceu.
DRUZHINAS E PRÍNCIPES
O filho de Vladimir, Iaroslav, “o Sábio”, governou Rus de Kiev de 1016 até sua morte em 1054, após um começo conturbado e violento no qual dois dos seus irmãos, os príncipes Boris e Gleb, pereceram nas mãos do seu irmão mais velho, rival de Iaroslav. Eles tornaram-se os primeiros santos russos. O Estado de Iaroslav já não era o bando primitivo de guerreiros do século anterior que reinava sobre tribos distantes. Kiev havia se tornado uma cidade substancial com um palácio principesco e Iaroslav reinava no país com sua comitiva, a druzhina, e vários “homens distintos”, seus boiardos. Todos eles viviam em Kiev, embora pareça que eles tinham terras em torno da cidade e alhures. A druzhina, o velho bando guerreiro, parece ter se tornado mais organizada e assentada e comportava-se mais como um exército e grupo de conselheiros que como simples guerreiros. Eles não estavam sós no cenário político, pois o povo de Kiev às vezes também desempenhava um papel, reunindo-se na praça central da cidade para formar a veche, ou assembleia popular.
Conhecemos algumas coisas sobre a sociedade e o sistema jurídico de Rus de Kiev porque, pouco após a morte de Iaroslav, seus filhos organizaram uma lista de leis e regulamentos chamada “Justiça de Rus”, um documento breve mas esclarecedor. A maioria das disposições parece refletir tradições existentes, mas nos primeiros artigos os filhos de Iaroslav começaram com uma inovação: eles baniram a vingança de sangue em casos de homicídio. No lugar dela, eles instituíram um elaborado sistema de pagamentos. O homicida tinha de pagar uma certa quantia se matasse um boiardo ou homem de distinção, menos para um membro da druzhina, menos que isso para uma pessoa comum ou um camponês, e menos ainda para um escravo. Geralmente, pelo homicídio de uma mulher o criminoso tinha de pagar metade da multa por matar um homem da mesma condição. As leis davam muito espaço à enumeração dos pagamentos por insultos de todo tipo, desde difamar a virtude de uma mulher até danificar a barba de um homem. Os juízes desses e de outros casos eram os administradores das propriedades principescas, que assumiam assim um papel muito maior que o de simples administradores econômicos. A “Justiça de Rus” deve ter sido escrita para eles, pois grande parte dela era ocupada por regras complexas para a escravidão por dívidas, diversas formas de servidão temporária ou limitada e relações com a comunidade aldeã. Era um código jurídico totalmente apropriado para a sociedade rus e que, não é preciso dizer, não tinha relação alguma com o Direito bizantino. O Estado kievano tampouco estabeleceu uma hierarquia de administradores baseada em documentos escritos ao estilo de Bizâncio. Em Rus as leis básicas podiam ser escritas, mas a administração estava nas mãos de um grupo reduzido de servidores da casa principesca que se valia de comunicações verbais, tradição e somente muito poucos textos escritos similares à “Justiça de Rus”.
O reino de Iaroslav representou um ponto alto de estabilidade em Rus. Príncipes noruegueses refugiaram-se ali das guerras civis na sua pátria e uma das suas filhas casou-se com o rei da França. Na década de 1030, e

O primeiro Período Intermediário é essa época confusa que separa o Antigo Império do Médio. Estende-se aproximadamente de 2200 a 2040 a.e.c, e compreende as dinastias 7ª-10ª, assim como uma parte da 11ª. Para tomar o seu estudo um pouco mais claro, podemos dividi-lo em três fases: a primeira, época de rápida decomposição do regime do Antigo Império, é marcada por perturbações sociais e invasões estrangeiras. Cobre as 7ª e 8ª dinastias, e dura apenas cerca de quarenta anos. A capital mantêm-se em Mênfis.
No decurso da segunda fase (9ª 10ª dinastias), os príncipes de Heracleopolis conseguem apoderar-se do poder. Segue-se um curto período de tranquilidade, mas as lutas internas recomeçam muito rapidamente. Uma parte do Egito é ocupada por estrangeiros; os nomos que permaneceram independentes batem-se entre si: uns reconhecem a autoridade de Tebas, outros a de Heracleópolis.
Na terceira e ultima fase assiste-se ao estabelecimento de uma nova dinastia em Tebas, a 11ª, que depois de ter reinado unicamente sobre a metade sul do Egito consegue eliminar a 10ª dinastia de Heracleopolis e governar sobre o conjunto do pais mantendo Tebas como capital.
Primeira fase: a decomposição sob as 7ª e 8ª dinastias menfitas. - A historia das 7ª e 9ª dinastias é das mais obscuras. Trata-se de um período de anarquia dinástica.
A 7ª dinastia inclui ainda, ao que parece, reis aparentados com a dinastia anterior, como Neferkare II, que talvez fosse filho da quarta e última mulher de Pepi II. A historia da dinastia é tão confusa que Maneton lhe atribui 70 reis que teriam reinado... setenta dias! Julgou-se durante muito tempo que era inteiramente imaginaria; atualmente tem-se a tendência para atribuir-lhe nove reis que teriam conservado o poder apenas durante oito anos.
Os acontecimentos desta época só são conhecidos através de um único texto mas de uma importância capital. Esse texto (as Admonições), só nos chegou através de uma copia tardia, e com falhas, da 19ª dinastia. As informações que fornece, sem ordem logica aparente, dizem respeito quer aos acontecimentos externos quer a situação interna do Egito.
Do ponto de vista externo, as informações são vagas: dizem-nos, no entanto, que nômades se infiltraram no Egito e ocuparam o Delta. A politica de intervenção egípcia na Ásia e na África foi abandonada e o poder central já não está em condições de enviar expedições ao estrangeiro, as quais, no entanto, seriam indispensáveis para a prosperidade geral do pais. Perturbações sociais parecem ter estado na origem deste enfraquecimento do poder central. O texto descreve-as com abundancia de pormenores:
"A Sala do Julgamento, os seus arquivos são açambarcados. As repartições públicas são violadas e as listas de recenseamento são arrancadas [...]. os funcionários são assassinados e os seus papeis furtados."
Estas violências antigovernamentais são acompanhadas por uma completa subversão social:
"O porteiro diz. - vamos embora e pilhemos [...] os pobres tornaram-se proprietários das coisas boas[...]. Portas, colunatas e paredes estão em chamas [...]. O ouro e o lápis-lazuli, a prata e a turquesa, a cornalina e o bronze, ornamentam o pescoço das criadas, ao passo que as donas de casa (dizem): Ah!, se ao menos tivéssemos alguma coisa para comer!"
O texto é, no entanto, contraditório quanto às causas da revolução ou as suas consequências politicas. Algumas vezes afirma:
"O rei foi raptado pela população [...]. Um punhado de homens sem lei conseguiu despojar o pais da realeza [...]. A residência real foi desbaratada em um instante."
Outras, pelo contrario, exprime-se como se o soberano ainda reinasse e interpela-o:
"A justiça está contigo, mas o que tu espalhas através do pais, com o bramido da revolta, e a confusão [...]. Ordena, pois, que te prestem contas."
Procurou explicar-se esta contradição supondo que o rei legitimo fora derrubado e, depois, substituído por um rei reformador, idealista, mas fraco, que teria procurado em vão restaurar a ordem. O rei destronado teria sido Merenré II e o seu sucessor demasiado débil um faraó da 8ª dinastia. A 7ª dinastia seria, pois, inexistente ou corresponderia apenas ao muito curto período de completa anarquia que se teria seguido a queda do rei. Esta interpretação sedutora não se apoia, infelizmente, em nenhuma outra fonte, e tem contra ela o fato de a 7ª dinastia ter, sem duvida, existido realmente.
O texto que nos informa sobre estes acontecimentos é, ao que parece, de origem menfita e pensa-se, atualmente, que as perturbações descritas se limitaram a capital e seus arredores, sem atingirem o resto do Egito. Para clarificar a situação há que esperar a descoberta quer de novas fontes, quer de uma melhor cópia do texto que acabamos de utilizar.
A 8ª dinastia, que sucede a 7ª, mantem-se ainda em Mênfis. A pirâmide de um dos seus reis foi encontrada perto da de Pepi II. Gravados nas paredes do templo de Coptos, decretos promulgados pelos seus últimos reis mostram claramente o enfraquecimento da monarquia menfita, que tem de sujeitar-se então a procurar a aliança dos governadores do Alto Egito para poder manter-se no poder: o Antigo Império já está bem longe!
Sob os últimos reis da 8ª dinastia, o Delta está ocupado por estrangeiros; o nomo tinita com Abydos, tal como o nomo de Elefantina, porta da Nubia, são independentes; a autoridade real, com a ajuda dos príncipes de Coptos, já quase só controla a região menfita e seus arredores.
Segunda fase: As 9ª e 10ª dinastias heracleopolitanas e as lutas pela hegemonia. É então que, por volta de 2160, o príncipe de Heracleópolis se revolta contra o ultimo rei de Menfis e atribui a si próprio abertamente o titulo real do Alto e do Baixo Egito. Esse príncipe é Meribré-Kheti conhecido pelos antigos como Aktoes e pelos autores modernos como Kheti I. Com ele começa a 9ª dinastia dita heracleopolitana (2160-2130 a.e.c.).
Menesut - a Heracleópolis dos Gregos, hoje Ahnas-el-Medineh -, capital do novo faraó, era já um centro importante no Pré-dinástico. Era também, desde a Época Tinita, um grande centro religioso onde se adorava um deus-carneiro, Horquefi. Por fim, a sua situação geográfica tal como a politica contribuía para assegurar o poder do seu chefe. Está no centro de uma das mais ricas províncias agrícolas do Médio Egito, mantendo-se assim protegida quer dos asiáticos do Delta quer dos príncipes belicosos de Tebas e de Elefantina.
A 9ª dinastia deixou poucos monumentos e as fontes principais da sua história continuam a ser Maneton e o Papiro de Turim. Dos treze reis que a teriam composto, só cinco nomes chegaram ate nós; é bem provável que tenham sido só estes últimos a reinar verdadeiramente.
A própria forma de nomes como Neferkaré e Nebkauré indica que a dinastia pretende ligar-se a tradição monárquica menfita. De resto, se Heracleópolis é a residência do faraó, o centro administrativo parece ter permanecido em Menfis.
Embora saibamos poucas coisas dele, Kheti I, o fundador da dinastia, ainda é o menos mal conhecido. Todo o Egito livre, de Assuã até ao norte de Mênfis, parece reconhecer a sua autoridade. As fontes não permitem saber o que se passava no Delta.
Muito rapidamente querelas entre nomos, fomes e guerras vêm perturbar a unidade restabelecida por Kheti I e a dinastia desaparece na obscuridade após somente trinta anos de reinado (2160-2130 a.e.c.).
Com a chegada da 10ª dinastia, que se mantém no poder durante perto de um século, de cerca de 2130 a 2040, conhecemos pelo menos os nomes dos protagonistas do drama. Heracleopolitana tal como a 9ª a 10ª dinastia continua primeiro a reinar sobre o conjunto do Egito não ocupado pelos estrangeiros, mas logo desde o inicio da sua vigência as nuvens acumulam-se no Sul, onde príncipes de Tebas com o nome de Antef consolidaram o seu poder. Por volta de 2133 recusaram a obediência ao poder heracleopolitano e assumiram o titulo de reis do Alto e do Baixo Egito; a dinastia que eles assim fundam, a 111ª vai reinar paralelamente, no Sul, a de Heracleópolis, no Norte.
A tomada do poder no Sul por Sehertay-Antef I consagra o aparecimento no Egito de uma força inteiramente nova, a de Tebas. Sob o Antigo Império, Tebas é constituída por duas aldeias na margem direita do Nilo, uma que será mais tarde Luxor, e a outra Karnak. A capital da província é então Erment, em egípcio Iun-resyt, onde se levanta o tempo de Montu, deus do nomo. Foi na sequencia de lutas internas que Tebas se elevou ao primeiro plano, no Sul.
A partir da 8ª dinastia, senão mesmo da 7ª, os príncipes, governadores de províncias, haviam assumido a sua independência e já só nominalmente reconheciam o poder de Menfis. Tinham o seu exército, o seu tesouro. Entre os mais poderosos desses nomarcas há que mencionar os de Coptos, durante muito tempo aliados aos reis menfitas, os de Assyut, que apoiaram os reis heracleopolitanos, os de Khunu (a Hermopolis grega, act. Eshmunein), sepultados em Sheikh-Said e El-Bersheh, e por fim os do nomo de Oryx cujos túmulos se encontram em Beni-Hasan. Estes nomos do Médio Egito participarão com frequência, ora de um lado, ora de outro, nas lutas que põem em confronto Heracleopolitanos e Tebanos.
A mesma situação se verifica entre os nomos do Sul. Tebas só se tornou capital do quarto nomo durante a 9ª dinastia e Erment, a antiga capital, permaneceu-lhe hostil. O nomo de Heracompolis (Edfu) devia a sua importância religiosa o fato de desempenhar um papel considerável no Sul. O mesmo acontecia com o nomo Tinis, com Abydos, na fronteira entre o Médio e o Alto Egito, onde o culto de Osíris ganha cada vez mais importância. Estes dois nomos, entre outros, viam com preocupação os príncipes tebanos estenderem a sua autoridade. Tebas foi, pois, obrigada a lutar contra um certo numero de nomos do Sul que se Tinham aliado entre si sob a autoridade de Hieracompolis.
Precisamente ainda antes do reinado de Sehertauy-Antef I, Hieracompolis, com a ajuda de Elefantina, vai em socorro de Erment cercada por Tebas e o território tebano e invadido pelos confederados, fieis de resto, sem dúvida por razões politicas, a Hieracleopolis. Tebas conseguiu, no entanto, vencer a coligação e tornar-se, sob Antef I, a senhora incontestada do Sul. Por volta de 2120, a situação apresenta-se, portanto, assim: os nomos do Sul, submetidos desde Elefantina ate Tinis, obedecem a Tebas. Os do Médio Egito reconhecem mais ou menos a suserania de Heracleopolis. A Norte de Menfis, a situação é confusa e pouco se sabe das relações entre Egípcios e nômades asiáticos que ocupam o Delta.
Os reinados dos primeiros reis da 10ª dinastia tal como os da 11ª são ocupados na luta pela hegemonia. Abydos constitui mais ou menos a fronteira entre as duas confederações. Kheti III consegue apoderar-se dela momentaneamente, mas é obrigado a abandona-la. Heracleópolis, após este malogro, parece aceitar a divisão do Egito em dois reinos independentes. Esta renuncia à luta é conhecida através de um texto contemporâneo: Os ensinamentos a Merikaré, espécie de testamento politico de Kheti III a seu filho. Ao lado de conselhos muito gerais, o texto contêm alusões claras aos acontecimentos da atualidade:
"Mantem boas relações com o Sul [...]. Não destruas os monumentos de outrem."
Estes conselhos no sentido de não indispor os turbulentos vizinhos do Sul são acompanhados de sugestões em relação ao Norte: Kheti restabeleceu ai a autoridade central até ao braço de Pelusa, expulsou os nômades e construiu cidades fortes onde instalou colonos a fim de impedir o regresso dos invasores. Ele implora a seu filho que siga a mesma politica e se mantenha, portanto, em paz com Tebas.
As fontes de que dispomos não nos permitem saber se Merikaré seguiu os conselhos do pai. Mesmo que tenha havido então um acordo entre o Sul e o Norte, este foi de curta duração. Por morte de Merikaré, os Tebanos retomam a ofensiva. O ultimo rei heracleopolitano, cujo nome ignoramos mesmo, é vencido. Não deve ter reinado senão por Alguns meses.
A vitória de Sehertauy-Montuhotep marca o fim do Primeiro Período Intermediário. Tal como os primeiros reis tinitas tinham conseguido unificar o país, assim a dinastia tebana restabeleceu uma autoridade única para o conjunto do Egito. A data de 2040 fixa, portanto, o inicio de uma nova época da história egípcia.
Terceira fase: A reunificação sob a 11ª dinastia tebana. - Graças aos textos biográficos, numerosos nesta época, pode fazer-se uma ideia do modo como se operou a reunificação do Egito. As lutas internas entre províncias transformaram-se, pouco a pouco, em lutas entre confederações de nomos. Alguns nomos do Sul, com medo de Tebas, não hesitaram em aliar-se a Heracleópolis. Outros, mais prudentes, não tomaram partido; foram recompensados por isso com o reconhecimento dos seus direitos, quando Tebas assumiu o poder. Os textos refletem essa instabilidade politica. Um dos príncipes de Hermópolis escreve:
"Armei as minhas tropas de recrutas e fui ao combate acompanhado da minha cidade [...]. Não havia mais ninguém comigo para além das minhas próprias tropas, ao passo que [...]. Núbios e Asiáticos, Alto e Baixo Egito, estavam unidos contra mim."
Com efeito, os adversários empregavam mercenários, designadamente os indígenas da Baixa Nubia. Os "modelos" de Assyut, muitas vezes reproduzidos, mostram-nos um desses corpos de archeiros núbios, que participaram nas lutas entre nomos. Pouco a pouco, as confederações estabilizaram-se e ficaram reduzidas a duas: a do Sul dirigida por Tebas, e a outra no Norte sob a autoridade de Heracleópolis, que lutaram entre si até a vitória final de Tebas.
Os textos do Primeiro Período Intermediário fazem continuamente alusão a fome e penúria que resultam da guerra civil. É, por exemplo, o nomarca de Hieracômpolis que descreve a terrível fome que devastou então o Alto Egito, uma fome tal que houve mesmo, diz ele, casos de canibalismo. Outros textos assinalam fomes semelhantes. O mau estado da economia, assim como a anarquia politica que durava desde 2130, conseguiu criar uma certa lassidão nos beligerantes, que ajudou os príncipes tebanos a apoderarem-se do poder.
Os reis heracleopolitanos tinham já dado inicio, por seu lado, a reunificação do Egito recuperando os nomos do Delta. É o que afirmam os Ensinamentos a Merikaré onde Kheti III declara:
"No Leste [No Delta] [...] tudo ia mal [...] e a autoridade que deveria estar num só estava nas mãos de dezenas. Agora essas mesmas regiões trazem os seus impostos, o tributo é pago e tu recebes os produtos do Delta. Na fronteira [... ] cidades foram implantadas e povoadas com habitantes provenientes das melhores zonas de todo o pais, a fim de poderem rechaçar os Asiáticos [... ] Fiz que o Delta os castigasse, capturei o seu povo, pilhei o seu gado. Já não tens de preocupar-te com o Asiático".
Assim, quando Sehertauy-Mentuhotep se apodera do reino heracleopolitano, graças dos esforços dos reis da 10ª dinastia, o seu poder estende-se de imediato até as margens do Mediterrâneo.
Para o Sul, a situação é pior conhecida. Pouco antes da queda de Heracleópolis, Tebas controlava a Baixa Núbia pois um dos seus chefes militares afirma tê-la submetido e os Tebanos serviam-se de tropas nubianas. Consequentemente, em 2040 a.e.c. o Egito estende-se da Baixa Núbia ao Mediterrâneo. Líbio, Núbios e Asiáticos são mantidos em respeito e o pais pode levantar-se de novo após o longo período de perturbações e dissensões em que esteve mergulhado.

Os inicios do Império Médio comportam ainda numerosas incógnitas. Tendo o unificador do Egito sob a 11ª dinastia usado sucessivamente vários nomes de Hórus, tinha-se podido acreditar na existência de três reis diferentes com o nome de Montuhotep. Admite-se atualmente que apos o reino de Antef III três faraós apenas governaram o Egito unificado:
- Montuhotep I-Nebhpet-Rá, que usa sucessivamente os nomes de Hórus de Seankhibtauy, Neteryhedjet e Sematauy, reina de 2060 a 2009;
- Montuhotep II-Seankhka-Rá, 2009-1998;
- Montuhotep III-Nebtauy-Rá, 1998-1992.
N. B. - Em algumas obras, nomeadamente na Cambridge Ancient History, o nome de Montuhotep I e dado ao primeiro dos reis tebanos, quando a 11ª a dinastia governa apenas o Sul. Consequentemente, nessas obras, Montuhotep I-Nebhepet-Rá toma-se Montuhotep II e assim sucessivamente para os seus sucessores.
1. A 11ª dinastia
Montuhotep I-Nebhepet-Ra. - Os nomes de Hórus sucessivamente usados por Montuhotep I delineiam as fases do seu reinado. Por morte de Antef III toma o nome de Seankhibtauy, "Aquele que faz viver o coração do Duplo Pais" (= o Egito). Sob este nome conduz as suas tropas a conquista da parte Norte do Egito. Usa-o ainda por volta de 2045, quando os Heracleopolitanos se libertam do jugo de Tebas e retomam Tinis. A guerra que então se reacende leva a queda definitiva de Heracleopolis. Montuhotep toma, então, o nome de Netery-hedjet, que faz alusão à sua nova autoridade sobre o Norte. Quando a pacificação está completamente terminada, toma finalmente o nome de Sematauy, "Aquele que une o Duplo Pais" (= o Egito).
A fim de pacificar o pais, Montuhotep parece ter empregado simultaneamente a força e a diplomacia. É assim que, embora vencidos, os nomarcas de Hermopolis e de Beni-Hasan mantem os seus títulos e que o de Assiut e simplesmente deposto.
Para assegurar a sua autoridade sobre o conjunto do Egito, Montuhotep I emprega apenas funcionários tebanos quer como vizires quer como chanceleres. O "Governador do Baixo Egito", tal como o inspetor do decimo terceiro nomo do Norte ou o nomarca de Heracleopolis são também tebanos.
Os benefícios resultantes desta nova administração foram rapidamente visíveis tanto no interior como no exterior. A partir do momento em que é restabelecida a tranquilidade, Montuhotep retoma as relações com os países vizinhos do Egito. Por volta de 2020, uma expedição penetra na Baixa Nubia; será seguida de várias outras. Estas incursões inauguram uma politica de expansão para o Sul que prosseguirá na 12ª dinastia. Tirando partido das perturbações do Primeiro Período Intermediário, a Baixa Nubia organizou-se em reino independente que incomoda o Egito no seu comercio com o Sul; de onde os esforços dos tebanos para a conquistarem. Sob Montuhotep I, a Nubia paga um tributo e já não se opõe à passagem dos Egípcios. Por fim, fornece mercenários ao exército egípcio.
Para Leste, o Egito retoma as suas atividades nos desertos limítrofes. A partir do ano 2 do seu reinado, Montuhotep I envia uma expedição ao Hammamat. No Sinai, o fato de Ressortis I ai dedicar uma estatua a Montuhotep deixa supor que foi este soberano que reabriu a rota das minas de turquesa e das jazidas de cobre. Isso implica também o controle das tribos nômades da península.
À Libia, Montuhotep envia também expedições. Um dos chefes líbios é morto durante uma das campanhas. Por fim, os oásis ocidentais são visitados por destacamentos armados, do mesmo modo que os desertos sudoeste e sudeste, de um lado e do outro da Baixa Nubia, onde vagueavam os Medjayu, nômades guerreiros que Montuhotep I afirma ter vencido.
O Egito torna-se de novo também um foco artístico ativo. Montuhotep aumentou numerosos templos no Alto Egito até Abydos. Mesmo em Tebas edifica um monumento de peso, a primeira sepultura real importante desde o reinado de Pepi II. Escolhe o magnifico local de Deir-el-Bahari e adota o plano de uma pirâmide levantada sobre uma peanha e rodeada por um pórtico sob colunata. A alameda que conduz ao monumento estava ladeada de estatuas sentadas do soberano, de grés pintado.
Montuhotep II-Seankhka-Rá. - O filho mais velho de Montuhotep I morreu antes de seu pai, por isso foi um outro filho, já com a idade de cinquenta anos, que sucedeu ao unificador do Egito. O seu curto reinado empregou-o sobretudo na construção de templos no Alto Egito. A figura de um alto funcionário domina nesta época; Henenu, que servira já Montuhotep I, atravessou, à frente de 3000 homens, o deserto oriental até ao mar Vermelho onde embarcou para a região de Punto. Uma inscrição rupestre conservou a lembrança desta expedição durante a qual Henenu mandou escavar ou melhorar doze portos entre o Nilo e o mar. Uma vez chegado a margem, construiu ou reuniu navios que prosseguiram a viagem em direção à costa do Sudão oriental. Enquanto os navios iam à procura do incenso de Punto, os homens que permaneceram em Hammamat cortaram blocos de brecha verde destinados às estatuas divinas. Esta reabertura das pedreiras do uadi Hammamat é acompanhada de uma grande atividade das minas do Sinai.
As condições de vida no Egito do tempo de Montuhotep II são conhecidas graças a correspondência de um certo Hekanakht, dirigida ao seu filho mais velho. Hekanakht possuía uma quinta que o filho é encarregado de gerir na sua ausência. Antes de partir, Hekanakht deixou um inventario dos produtos da quinta durante o ano em curso e, depois, escreveu a seu filho duas longas cartas dando as diretivas a seguir para o trabalho e precisando o que é necessário dar aos vários membros da família. A quinta inclui terras que são propriedades de Hekanakht e outras que arrenda. As rendas destas últimas são pagas em tecidos e em cereais. As cartas contem também numerosos comentários contundentes sobre a conduta a manter em relação à família e aos criados. Finalmente, uma dela faz alusão a uma grave escassez de alimentos que grassava a Sul de Tebas, onde, segundo Hekanakht, "eles começam já a comer o homem".
Montuhotep III e o fim da 11ª dinastia
O Papiro de Turim faz terminar a 11ª dinastia com o reinado de Montuhotep II, mas sabemos por outras fontes que decorreu um período de sete anos entre a morte deste rei e o inicio do reinado de Amenemhat I. Foi durante este tempo que reinou Montuhotep III-Nebtauyré. O reinado deste último foi curto, sendo o ano 2 a data mais alta do seu reinado.
São principalmente inscrições de Hammamat que nos dão a conhecer o reinado de Montuhotep III. Ele enviou lá um vizir, Amenemhat, à cabeça de 10 000 homens para trazer a pedra necessária à construção do sarcófago real. O interesse principal desta expedição reside na personalidade do próprio Amenemhat, que dedicou quatro diferentes inscrições ao relato dos prodígios ocorridos ao longo da viagem: animais do deserto que indicam eles próprios, pelo seu comportamento, a pedra a explorar, chuva miraculosa, descoberta de novos poços. É possível que, onde não vemos mais que uma feliz confluência de circunstancias, os Egípcios tenham visto manifestações da vontade divina, o que explicaria a razão por que Amenemhat tem tanta preocupação em conservar a lembrança destes "milagres". Parece, de fato, que o chefe da expedição soube tirar partido do favor que os deuses lhe manifestaram: cinco anos apos estes acontecimentos, o vizir Amenemhat toma, de fato, o poder. Instrumento manifesto da vontade divina, Amenemhat pode assim ser escolhido pelo próprio Montuhotep. Isso explicaria a associação dos dois nomes em uma taça de xisto.
Seja como for, herdeiro designado ou usurpador, nada permite afirmar que Amenemhat I tenha tomado o poder de um modo violento, embora, sem dúvida, nem todos os Egípcios tenham aprovado a sua subida ao trono.

O reinado de Ramsés III (1185-1153 a.e.c.) é perturbado por múltiplas guerras. O soberano comemora os episódios por meio de representações colossais sobre as paredes externas dos templos: campanha da Núbia, expedição na Síria, tentativas de invasão dos líbios, depois dos povos do mar vindos pelo mar Egeu. Na perspectiva da construção de seu templo fúnebre, no ano 5 de seu reinado, Ramsés III ordena uma expedição, que reúne 3 mil homens, a fim de trazer artenito do Djebel Silsileh. Na margem oeste de Tebas começa então a construção do templo de Medinet-Habu. Um canal artificial desde a margem do Nilo é construído como acesso.
As paredes são esculpidas e pintadas, relembrando os acontecimentos mais ou menos notáveis do reinado do faraó: uma vasta composição sobre o ataque dos povos do mar, uma cena de caça aos animais selvagens, onde se vê o rei perseguindo gazelas e touros numa paisagem de juncais.
O grande papiro Harris descreve o conjunto das riquezas e dos presentes de Ramsés III aos clérigos encarregados da gestão do templo. Em Medinet-Habu, “sessenta e quatro mil quatrocentas e oitenta pessoas" são necessárias para assegurar o exercício do culto fúnebre, assim como a manutenção do templo, de sua área agrícola, de suas aldeias e de seu gado.
As fontes atestam, contudo que no fim do reinado de Ramsés III a gestão se tornou difícil. Os artesãos da aldeia de Deir el-Medineh contratados nos canteiros reais se queixam do atraso dos pagamentos in natura e da redução do abastecimento, que suspeitam ser desviado. Suas queixas crescem ao tjaty (vizir) e eclode uma revolta, com greves e pilhagens. Até mesmo os túmulos do Vale dos Reis são profanados. Depois de investigação, os responsáveis são presos, julgados e condenados a pesadas penas.

Aquando da sua subida ao trono, Amenemhat toma o nome de Sehetepibré. Parece que se manifestou então uma certa oposição. O vizir não era de fato de sangue real, como mostra claramente um texto popular, a profecia post eventum dita de Neferty. Esta descreve, em uma primeira parte, as desgracias que vão abater-se sobre o Egito, e em uma segunda anuncia que um rei do Sul trará de novo a ordem e a prosperidade ao pais; e desvenda o nome desse farão: Ameny, hipocorístico de Amenemhat. Trata-se de Amenemhat I. O texto precisa que este Ameny "é filho de uma mulher Elefantina". Não esconde, portanto, as origens não reais do herói, parecendo, pelo contrario, insistir no fato. É o rei salvador que põe fim a um período de perturbações. Outros textos da 11ª dinastia fazem alusão também a esses acontecimentos lastimáveis. A profecia de Neferty confirma, portanto, a existência de perturbações sob o reinado de Montuhotep III, ligadas ao desaparecimento da 11ª dinastia e ao começo da 12ª. O pai de Amenemhat, fundador da nova dinastia, um certo Ressortis, será considerado pelos Egípcios do Novo Império como o antepassado desta dinastia.
Amenemhat I reorganizou o Egito, restabelecendo, antes de mais, os limites tradicionais dos nomos entre si. Em seguida, reinstalou a capital administrativa do Egito perto de Mênfis. As razoes de tal fato são complexas, ao que parece. Por um lado, a família dos Montuhotep, afastada do poder, era sem dúvida ainda poderosa na própria Tebas. Consequentemente, a cidade era pouco segura para o novo soberano. Por outro lado, Tebas situada no centro do Alto Egito está geograficamente mal colocada para ser a capital do Egito. Menfis, na ponta sul do Delta ocupa uma posição muito mais central, o que explica também por que razão fixa a sua capital nas proximidades. Dá-lhe o nome caraterístico de Itjtawy, o que significa "Aquela que conquista o Duplo Pais" (o Egito), o que prova que Amenemhat se propunha, da sua residência, vigiar os seus súditos, tanto os do Norte como os do Sul.
O aparelho administrativo do Antigo Império foi destruído no decurso do Primeiro Período Intermediário e não parece que os faraós da 11lª dinastia tenham procurado remediar este estado de coisas. Amenemhat I, em contrapartida, parece querer reconstituir quadros e serviços administrativos. Ao fixar a capital administrativa nas imediações de Menfis, capital do Antigo Império, e perto de Heracleopolis, capital da 9ª e 10ª dinastias, pode ter a esperança de reatar uma velha tradição administrativa. Tradição que o próprio Kheti III evoca quando, falando de Sakkara-Menfis, afirma: "Há lá funcionários desde o tempo da Residência real" (Instruções a Merikare).
Contudo, os funcionários com experiência que Amenemhat terá podido recolher na sua nova capital não podiam ser suficientes em numero para as necessidades da nova administração. Vai, por isso, recorrer a uma verdadeira ação de propaganda para suscitar as vocações de novos funcionários. Sob o seu reinado, duas obras foram escritas para encorajar os Egípcios a entrar na administração real e para orienta-los nessa carreira. A primeira delas, Kemyt, "A Suma", foi composta no inicio do reinado pelo autor da Profecia de Neferty. Termina com uma frase que revela a sua finalidade: "Quanto ao escriba, em qualquer dos seus empregos da Residência, não é um infeliz." As intenções da segunda obra, a Sátira dos ofícios, são ainda mais claros. O autor dirige-se aos futuros funcionários, exalta os estudos e a profissão de funcionário a que eles dão acesso e depois, comparando os vários ofícios possíveis, mostra que o de escriba e muito superior a qualquer outro.
Amenemhat não tinha apenas de reorganizar um pais acabado de sair da anarquia, faltava-lhe ainda elevar de novo o prestigio da monarquia que muito sofrera durante o Primeiro Período Intermediário, em que os contistas não hesitam em apresentar o rei em posições desagradáveis, ora odiosas ora mesmo humilhantes, o que teria sido impossível no Império Antigo, quando se atribuía ao farão um pouco da natureza divina. Esta atitude do povo mostra até que ponto o prestigio real se desmoronou após o reinado de Pepi II. Para lutar contra essa tendência, Amenemhat I procura ligar-se a realeza dos inicios do Império Antigo, designadamente a de Snefru, que parece ter mantido um prestigio que os seus sucessores, mais autoritários, detinham em menor grau.
Talvez também, sob a influencia da religião e da moral osirianas, ele tente tomar a realeza mais humana. O seu filho atribuir-lhe-á estas palavras:
"Dei aos pobres e alimentei o órfão. Procedi de modo que o homem simples possa ter as mesmas hipóteses que o que tinha peso."
No entanto, a situação politica era ainda demasiado instável, e os nobres da província demasiado poderosos para permitirem a Amenemhat restaurar completamente a monarquia absoluta, tal como ela existia no Império Antigo. Consequentemente, contenta-se, por um lado, com vigiar a administração provincial delegando "controladores reais" junto dos nomarcas. Por outro lado, assegura a sucessão real ao instituir a co-regencia do príncipe mais velho, em vida do pai, a fim de evitar tanto quanto possível as perturbações de sucessão.
O controle real exerce-se sobretudo do ponto de vista financeiro sobre as taxas que os nomos devem ao governo central. É assim que se estabelece, pouco a pouco, uma colaboração de fato entre a administração real e a do nomarca, e possuímos algumas indicações demasiado raras, sobre o modo como funcionários reais e nomarcas geriam conjuntamente os bens do domínio nacional.
A fixação das fronteiras provinciais e o restabelecimento do cadastro constituíam já uma ingerência real na administração local do nomarca. Esse controle prosseguiu ano apos ano pela vigilância do pessoal, das terras e dos rebanhos pretendentes ao rei nos vários nomos.
O "Tesouro real" torna-se, pois, um dos organismos essenciais da 12ª dinastia. Possui a sua própria frota e está inteiramente nas mãos de altos funcionários que residem na corte e, portanto, independentes dos nomarcas.
Para evitar a formação de novas confederações de nomos e todo o motivo de contestação na altura das sucessões que a poligamia real de fato torna sempre delicadas, Amenemhat I associa o seu filho ao trono; trata-se de Senuseret I. Participando já no poder, o sucessor assim designado podia resistir melhor a eventuais pretendentes. Este uso da co-regencia será praticado por outros faraós da 12ª dinastia.
A co-regencia de Senuseret I coincide com uma grande atividade do Egito no domínio externo, como se Amenemhat quisesse ver afirmar-se a autoridade do filho confiando-lhe o comando do exercito.
Durante a primeira metade do seu reinado, Amenemhat contentou-se, ao que parece, em liquidar os elementos estrangeiros que se tinham infiltrado no Delta; depois, para evitar a repetição de tais intrusões, construiu fortalezas ao longo das fronteiras, uma a Leste, contra os Asiáticos, outra a Oeste, contra os Líbios. Apesar da expressão "Muralhas do Príncipe" que designa a fortaleza oriental, não se tratava de muralhas continuas, mas antes de fortes isolados que controlavam as passagens obrigatórias.
Nada indica que Amenemhat I tenha conduzido expedições militares fora do Egito durante a primeira metade do seu reinado. A situação muda quando Senuseret I é associado ao trono. Parece que, então, o exercito egípcio terá penetrado na Palestina. No Sul, a mesma atividade agressiva: Senuseret I reinstala-se em Buhen no ano 25 de Amenemhat I, o que permite a este ultimo afirmar que submeteu os habitantes da terra de Uauat (Baixa Nubia) e... capturou os Medjayus (Beduínos do deserto núbio). No ano 29, nova expedição a Núbia e, na mesma altura, o exercito egípcio está também muito ativo nos desertos de leste, sudoeste e sudeste.
A profundidade da penetração egípcia no Sul é ainda matéria controversa. Foram encontradas em Kenna, no Sudão, a sul da terceira catarata, duas grandes construções em tijolos crus e, nas proximidades, um cemitério com sepulturas sob tumuli onde foram descobertas as estatuas de um certo Hapydjefa e de sua mulher. Este, nomarca de Assyut, é um contemporâneo de Senuseret I. Na sequencia desta descoberta, concluiu-se que Hapydjefa, governador egípcio do Sudão, fora sepultado em Kerma.
Tal conclusão é hoje vivamente contestada: a necrópole de Kenna forneceu objetos posteriores a 12ª dinastia e a pergunta é se não será antes contemporânea da 13ª dinastia. Por outro lado, é pouco provável que uma personalidade tão importante como Hapydjefa se tenha feito sepultar no Sudão, mesmo que lá tivesse morrido, dado sobretudo o fato de ele possuir um túmulo na sua capital, em Assyut.
Se for esse o caso, em vida de Amenemhat I só a região que ia de Assuã à segunda catarata teria sido, de fato, conquistada. Senuseret I, após a morte do pai, irá bem mais longe para Sul.
No Antigo Império, o inimigo principal do Egito era a Líbia. No Império Médio, os Líbios são sempre perigosos e Amenemhat mandou construir uma fortaleza no Uadi Natrum para se proteger deles. Por fim, no ano 30 do reinado, estando a Baixa Núbia já conquistada, Senuseret volta-se contra os Líbios e penetra no seu território. É no regresso vitorioso que toma conhecimento da morte de seu pai. Havia então nove anos que era co-regente de Amenemhat I.
Os acontecimentos que puseram fim ao reinado de Amenemhat são conhecidos por Intermediário de Ensinamentos de Amenemes, texto notável no qual o rei morto teria feito, do Além, a narração a seu filho do seu assassínio. Embora esta interpretação do texto tenha sido recentemente posta em duvida, parece certo que Senuseret I não estava no Egito na altura do atentado, encontrando-se ainda na fronteira Líbia. Teria sido lá que recebeu os mensageiros que vieram informa-lo da morte do pai e preveni-lo contra uma conjura que se tramava contra ele na corte. Senuseret I partiu de imediato em marcha forçada para a capital, levando consigo a sua guarda pessoal.
Senuseret (Sesóstris) I
Senuseret I retomou em mãos a situação, mas ignoramos de que maneira. Remou sozinho durante trinta e oito anos e, dois anos antes da sua morte, associou ao trono seu filho Amenemhat II. O reinado de Senuseret I é um período de desabrochar para o Egito tanto no interior como no exterior.
Já antes do fim do reinado do seu pai, Senuseret I dirigira expedições a Nubia, sendo co-regente. Durante o seu reinado pessoal, é a nomarcas que confia a tarefa de prosseguir a penetração para o Sul. A partir do ano 18 do reinado, por volta de 1944 a.e.c., o exercito venceu as dificuldades da segunda catarata e ultrapassou o reino de Kush, verossimilmente situado um pouco a sul daquela. Talvez Senuseret, para proteger as suas conquistas, tenha mandado construir fortalezas ao longo do Nilo que, como, Buhen, teriam precedido as grandes fortificações posteriores de Senuseret III.
Com o Médio Império, a procura do ouro aparece entre os motivos da penetração egípcia na Alta Nubia. É nesta altura que as minas de ouro do Sudão começam a ser exploradas em proveito do Egito.
Em relação aos Asiáticos, parece que Senuseret I teve uma atitude pacifica. A exploração das jazidas de turquesa e sem duvida também de cobre do Sinai, interrompida apos o reinado de Pepi II, é retomada com vigor. No Antigo Império, as relações entre Egípcios e nômades instalados na península eram tensas, como o mostram as cenas de guerra gravadas nos rochedos. Com a 12ª dinastia as relações mudam: Asiáticos e Egípcios gravam as suas inscrições lado a lado, como se trabalhassem concertadamente na exploração das minas. A narrativa de Sinuhe, escrita nesta época, confirma o bom entendimento entre Egípcios e Asiáticos. Sinuhe estabeleceu-se na Ásia no inicio do reinado de Senuseret I, e lá permanece durante mais de vinte apos. Durante todo este tempo, não menciona, na sua narrativa, nenhuma guerra entre o Egito e um reino asiático. Os principados siro-palestinos, independentes do Egito, mantem com este excelentes relações: Egípcios instalaram-se lá e os mensageiros do faraó podem percorrer livremente os vários países sem serem incomodados.
As escavações do corredor siro-palestino forneceram numerosos objetos egípcios do Médio Império. Tais objetos trazem a prova de um considerável trafico comercial entre o Egito e a Ásia, nesta época. Esse trafico era completado por uma "politica de presentes" inaugurada por Senuseret I. Em Ugarit (Ras-Shamra), foi encontrado um colar no estojo de Senuseret I, e o conto de Sinuhe, por seu turno, evoca este costume de oferecer presentes aos príncipes estrangeiros, da parte do faraó, para manter as boas relações.
Os contatos pacíficos entre o Egito e a Siro-Palestina põem talvez então em relações indiretas o vale do Nilo e Creta, servindo Chipre e a Síria do Norte de intermediários.
O restabelecimento do poder egípcio não se limita à Núbia e a Ásia. A partir da co-regencia, os desertos orientais e ocidentais foram de novo controlados e, no seu reinado pessoal, Senuseret I mantem o seu esforço: partindo da região tebana, os Egípcios vão até aos grandes oásis ocidentais. Para o lado da Líbia propriamente dita, a nordeste do Egito, a campanha que precede o assassínio de Amenemhat I (ou o atentado contra este) parece ter assegurado a tranquilidade ao Egito e não há mais problemas com os Líbios durante o reinado pessoal de Senuseret I.
Quando termina este reinado, o Egito controla a Baixa Nubia, desde Assuã ate ao sul da segunda catarata. Mantem relações cordiais com a Ásia e submeteu os Líbios. As suas expedições mineiras percorrem sem temor os desertos do oeste e leste. Esta irradiação exterior do Egito é o resultado da prosperidade interna do pais, restabelecida por Senuseret I, embora este ultimo pareça não ter mudado nada na politica de seu pai para com os nomarcas. Estes, na sua maioria, asseguram uma boa administração local, sem abusarem, ao que parece, da independência que lhes asseguram a herança do seu cargo e a sua fortuna pessoal. Tendo permanecido fieis a Senuseret I aquando do assassínio ou do atentado contra seu pai, fornecem os contingentes de tropas necessários ao exercito real.
O prestigio da realeza está restabelecido: se é verdade que o rei ainda usa o epiteto de neter-nefer ("o Deus bom"), na realidade comporta-se mais como um "super-homem" que como um deus, mas a sua autoridade é incontestada. O caráter humano deste poder, talvez sob a influencia da religião osiriana, contrasta com a autoridade inumana da monarquia do Antigo Império.
Para assegurar a continuidade do poder legitimo, Senuseret I associa ao trono seu filho Amenemhat. Continua também a utilizar o "vizirato", mas fragmenta a autoridade do vizir: no inicio da 12ª dinastia sucederam-se pelo menos cinco vizires. Todavia, sejam quais forem os limites da sua jurisdição, o vizir continua a ser o chefe da justiça e do conjunto da administração para a parte do território que lhe é confiada. É ele quem promulga as leis e conserva os arquivos. Além disso, é o responsável pela economia. Dispõe, portanto, de todos os poderes exceto sobre o exercito e a policia; apenas a extensão geográfica da sua autoridade é limitada, ao que parece.
Senuseret I prosseguiu a reorganização da administração e o seu reinado e um período de desenvolvimento econômico para o Egito. As necrópoles provinciais provam a riqueza dos nomos nesta época. Os primeiros faraós da 12ª dinastia procuram também novos recursos, em particular na valorização da Fayum. O próprio Senuseret I inicia esta politica de desenvolvimento agricola que será prosseguida pelos seus sucessores e, sobretudo, por Amenemhat III.
Os numerosos monumentos construídos ou restaurados durante o reinado de Senuseret I são uma prova do renovo econômico do Egito nesta época: de Alexandria à Assuã não há nenhum local importante que não tenha vestígios da sua atividade. A mais importante das empresas de Senuseret I foi a restauração do templo de Heliopolis, determinada por razões ao mesmo tempo religiosas e politicas. Com efeito, Heliopolis é a residência do deus-sol Rá e a dinastia tem interesse em restabelecer em seu proveito a influencia de um culto e de clero reconhecidos pelo conjunto do país. Por outro lado, o deus de Heliopolis é, por excelência, desde o Império Antigo, o deus protetor da monarquia: o faraó usa o titulo de "Filho de Rá". Senuseret decide, pois, afirmar-se como o descendente legitimo de todos os faraós que reinaram sobre o Egito. Enfim, o templo é um grande centro de peregrinação; ao embelezá-lo, Senuseret atrai a estima dos peregrinos.
Os sucessores de Senuseret I (Amenemhat II e Senuseret II).
Senuseret I, prosseguindo a obra de seu pai, restabeleceu uma monarquia organizada e forte; os seus sucessores imediatos apenas tiveram de manter e continuar o seu esforço.
Amenemhat II, co-regente de seu pai durante um pouco mais de dois anos, prosseguiu a politica de Senuseret I: confirmou os nomarcas na hereditariedade das suas funções. No exterior, não teve necessidade de recorrer a qualquer campanha militar para manter o poder do Egito. Continuam as expedições ao Sinai, onde exploram novas jazidas entretanto descobertas. A Ásia continua a manter relações correntes com o Egito, como o provam tanto o Tesouro de Tod como os objetos em nome do rei ou de membros da sua familia encontrados na Ásia. As relações comerciais estendem-se também para o Sudeste: foi estabelecido um porto no mar Vermelho na foz do Uadi Gawásis, e, sob Amenemhat II, uma frota faz Iá escala no regresso de uma expedição a região de Punto. Estas expedições são sempre um sinal de prosperidade do Egito, confirmando quer a riqueza dos túmulos provinciais quer a importância da pirâmide real construída em Dahshur, ou ainda o esplendor do mobiliário funerário dos túmulos da família real cujas joias se encontram entre os mais belos objetos da arte egípcia.
Senuseret II, filho de Amenemhat II, foi também ele nomeado co-regente e reinou três anos com seu pai. Morre apos um reinado de cerca de dezenove anos durante o qual manteve a politica dos seus antecessores tanto interna como externamente. Contenta-se com mandar inspecionar as fortalezas da Nubia. A exploração das minas e pedreiras mantem-se ativa tanto no Sinai como no Uadi Hammamat e testemunha a prosperidade econômica do Egito, confirmada alias pelo numero de construções empreendidas por Senuseret II que se interessa também pelo desenvolvimento do Fayum.
Senuseret III e o fim da 12ª dinastia
Os quatro primeiros faraós da 12ª dinastia, depois de terem reunificado, pacificado, reorganizado o Egito e restaurado a autoridade real, restabeleceram a prosperidade econômica do país. A irradiação do Egito impôs-se sem guerra no exterior, ao que parece. Internamente, a autoridade real é doravante respeitada, sem que as prerrogativas dos nobres provinciais tenham sido gravemente atingidas. A politica dos faraós da segunda parte da dinastia vai revelar-se sensivelmente diferente.
Senuseret III
Parece que a forte personalidade, expressa no enérgico rosto das suas estatuas, terá eclipsado na memoria dos homens a dos outros faraós da dinastia.
É sob o seu reinado que o Egito do Médio Império vai atingir o apogeu. Os primeiros faraós da 12ª dinastia, chegados ao poder com a ajuda de alguns senhores feudais, tenham evitado tocar nas prerrogativas dos chefes de província; um dos primeiros atos de Senuseret III foi exatamente o de eliminar o próprio cargo de nomarca, rompendo assim com a politica de todos os seus antecessores. A partir do meio do seu reinado os textos deixam de mencionar nomarcas; doravante, as províncias são administradas diretamente da Residência real por três serviços especializados (em egipcio waret): o do Norte, para o Delta, o do Sul, para o Médio Egito, o da "Cabeça do Sul", por fim, para o Alto Egito. Todos eles estão colocados sob as ordens do vizir. Senuseret III restabelece, assim, uma administração muito centralizada, próxima do modelo que vigorava no Antigo Império.
No exterior, também Senuseret III rompe com a politica seguida pelos seus predecessores: são empreendidas campanhas militares tanto na direção da Ásia como da África.
No Sul, entretanto, não parece que a Nubia se tenha tornado particularmente ameaçadora durante o reinado de Senuseret II; é verdade que conhecemos mal o que se passou nos inicios do II milênio. Tudo parece indicar que, nesta época, e talvez graças a influencia e a ajuda egípcias, a Alta Nubia se tenha povoado e desenvolvido rapidamente. Constituiu-se, assim, uma nova potencia a volta de Kerma, entre a segunda e a terceira catarata.
As relações entre as duas potencias, o Egito por um lado e os Núbios de Kerma por outro, não foram inicialmente hostis. O Egito, entrincheirado atrás dos seus fortes, detêm-se na fronteira do novo Estado. Que se passou em seguida? Ninguém sabe. Senuseret III, consciente talvez do perigo que representava para o Egito um Estado núbio forte e organizado, atua com vigor no sentido de derrubar Kush, "a vencida". Dirige quatro expedições militares para o Sul, ultrapassando largamente a segunda catarata; em seguida, para reforçar as bases de apoio dessas expedições e proteger a fronteira meridional do Egito, fortifica, por um lado, as instalações da segunda catarata e estabelece outras novas de Semné a Buhen. Por outro lado, promulga diretivas muito estritas para impedir toda a infiltração de Núbios em direção ao Egito. A estela dita do ano 8, encontrada em Semné, é muito caraterística deste ponto de vista. Graças a mensagens enviadas pelos comandantes das fortalezas e que chegaram ate nós, sabemos que essas instruções eram ainda seguidas sob os seus sucessores. Os fortes proibiam, de fato, a passagem de quaisquer tropas núbias através da região das cataratas.
No Nordeste, a coexistência pacifica com os Asiáticos parece chegar ao fim e as expedições mineiras tem de ser apoiadas militarmente. Desde o inicio do seu reinado, Senuseret III comandou um exercito na Ásia ate Sekmen na Palestina (sem dúvida Siquém, um pouco a norte de Jerusalém). Os Textos de enfeitiçamento escritos em fragmentos de cerâmica encontrados no Alto Egito e em Mirgissa, no Sudão, apresentam uma visão dos príncipes e povos asiáticos que testemunha, ao mesmo tempo, um grande conhecimento da situação politica na Siro-Palestina e a ameaça que estes povos pareciam representar no fim da 12ª dinastia para o Egito.
Na altura da morte de Senuseret III, o poder real central esta no seu apogeu. O Egito está ao abrigo das incursões estrangeiras tanto a Sul como a Leste. A eliminação do cargo de nomarca pôs nas mãos do soberano todos os poderes. Economicamente, o Egito está florescente, como o testemunham quer o numero das estatuas pertencentes à classe media, quer o dos monumentos reais.
Amenemhat III
Filho mais velho e co-regente de Senuseret III, Amenemhat III parece ter tido um reinado pacifico. Permaneceu quarenta e cinco anos no poder e este longo reinado foi consagrado ao desenvolvimento econômico do pais.
A exploração dos recursos econômicos do Sinai é intensa: perto de 60 inscrições do reinado de Amenemhat III foram encontradas lá. As outras regiões minerais, no Hammanamat e no Sul, parecem ter conhecido idêntica atividade. Todavia, é sobretudo o acabamento do sistema de barragens e de canais que valoriza o Fayum, que fica sendo o principal titulo de glória de Amenemhat III. Este sistema, ao regularizar e controlar a chegada das águas do Nilo pelo Balir Yussef, permite cultivar uma grande extensão de terras na depressão do Fayum.
A riqueza do Egito permite a Amenemhat III multiplicar as construções. Os Gregos consideravam o Labirinto como "acima de tudo o que possa dizer-se". Este monumento não é mais que o templo funerário de Amenemhat III. Situado em Hawara, perto do Fayum, era talvez também o palácio do soberano e o centro administrativo do Egito. Infelizmente está destruído e hoje é impossível fazer-se uma ideia desse edifício que, segundo Heródoto, ultrapassava em beleza as próprias grandes pirâmides.
O rei Hor e Amenemhat IV
Quando Amenemhat III morreu, o Egito fora governado durante um século, de 1880 a 1780 a.e.c. aprox., apenas por dois reis: Senuseret III e Amen

Em toda a história do Egito, não há período mais obscuro que o que vai do fim da 12ª dinastia ate ao advento da 18ª. É um dado feliz o fato de a data da morte de Sebekneferuré e a tomada do poder por Ahmose (Amósis) I da 18ª dinastia terem podido ser fixadas com segurança, porque sem isso não nos teria sido possível avaliar o lapso de tempo que decorreu desde o fim da 12ª dinastia até ao inicio do Novo Império, época que se convencionou denominar Segundo Período Intermediário.
Segundo as fontes antigas, mais de 200 faraós teriam reinado durante este período de cerca de dois séculos. Mesmo que esse numero seja exagerado, as Listas reais e o Papiro de Turim, que conservou os nomes de 123 reis aos quais devem juntar-se os de outros faraós conhecidos através das outras listas ou dos monumentos, mostram que o número de soberanos se aproxima pelo menos de 150, e ultrapassa os 200 se se tiverem em conta todas as fontes.
Tendo a morte de Sebekneferuré ocorrido por volta de 1786, e tendo Ahmose subido ao trono por volta de 1550 a.e.c., o Segundo Período Intermediário não pôde durar mais de 220 anos. Para colocar neste lapso de tempo perto de 200 reis seria necessário supor que cada um deles reinou apenas cerca de um ano. Ora, se é verdade que alguns terão conservado o poder apenas durante alguns meses, outros reinaram durante muitos anos: um deles mais de vinte e três anos, e um outro mais de quarenta! A duração extremamente breve dos reinados do Segundo Período Intermediário permanece ainda misteriosa em grande parte. As explicações que aludem a uma situação politica muito perturbada em que golpes de estado se teriam sucedido uns aos outros, ou a existência de múltiplas dinastias paralelas que teriam reinado simultaneamente em vários pontos do pais parecem desmentidas pelo fato de a autoridade central permanecer respeitada e de os faraós continuarem a construir, tanto no Norte como no Sul, durante todo este período. Foi recentemente proposta como explicação uma alteração profunda do regime monárquico, pela qual o rei seria então eleito por um período de tempo muito limitado. Poderosos vizires teriam assegurado a permanência da autoridade. Finalmente, houve quem se interrogasse se uma deterioração do clima não terá arrastado consigo à condenação sistemática a morte dos faraós considerados responsáveis das fomes resultantes dessa degradação climática. Com efeito, no estado atual dos conhecimentos, é impossível explicar de uma maneira convincente esta superabundância de soberanos.
As fontes de que dispomos são das mais exíguas: Maneton conservou-nos apenas o nome dos reis, 217, e a duração total dos reinados, 1590 anos, número que não podemos aceitar. O Papiro de Turim apresenta alguns nomes, mas omite outros; a mesma incerteza reina na lista de Karnak e as de Abydos e Sakkara ignoram o Período no seu conjunto. Os monumentos contemporâneos, por fim, são raros. Isso explica por que razão se tentou tirar informações de uma categoria de objetos abundantes sob o Segundo Período Intermediário: os escarabeus. Infelizmente, estes são difíceis de datar com precisão e as indicações que fornecem só podem ser aceitas com uma grande prudência.
Utilizando as varias fontes enumeradas, podemos distinguir três fases neste Segundo Período Intermediário (c.f. J. Vandier, L'Egypte, « Clio», 4 a ed., p. 283):
* o Egito antes dos Hycsos, 13ª - 14ª dinastias;
* os Hycsos, 15ª - 16ª dinastias;
- o reino de Tebas e a expulsão dos Hycsos, 17ª dinastia.
Como a cronologia indica, há numerosas sobreposições de uma fase sobre a outra. Assim, nomeadamente, os Hycsos infiltram-se no Egito a partir da 13ª dinastia e a sua expulsão exigiu um longo período de tempo.
O Egito antes dos Hycsos (13ª e 14ª dinastias)
Não é seguro que tenha havido ruptura entre a 12ª e a 13ª dinastia. É mesmo muito verosímil que o primeiro faraó da 13ª dinastia tenha sido aparentado com os últimos reis da 12ª.
As vicissitudes da 13ª dinastia - A 13ª dinastia permaneceu no poder um pouco mais de 150 anos (de 1786 a 1633 a.e.c.), durante os quais 50 ou 60 reis ocuparam o trono. Cada um deles não teria portanto reinado, em média, mais que dois anos e meio, ou muito menos, com frequência, porque os monumentos e o Papiro de Turim coincidem na atribuição de 3, 4, 7, 8, 10 e mesmo 23 anos a alguns reinados, o que naturalmente reduz a duração media dos outros. Este caráter efêmero do poder real levou a pensar que a 13ª dinastia fora uma época de anarquia e de caos durante a qual vários soberanos estavam simultaneamente no poder.
Descobertas recentes tendem a apresentar uma imagem diferente. Pergunta-se se a brevidade dos reinados não seria devida ao fato de os soberanos não serem mais que "fantoches" designados, talvez por eleição, por um período de tempo muito limitado, sendo o poder exercido na realidade pelos vizires.
Os reis da 13ª dinastia parecem ter sido de origem tebana. A sua preocupação de legitimar os seus direitos à coroa é sensível na escolha dos nomes: Amenemhat, Antef, Senuseret, Mentuhotep figuram nos "protocolos" de vários dentre eles, embora o nome que aparece com mais frequência seja o de Sebekhotep.
De inicio, o Egito continua a dominar a Nébia ate Semné, onde os nomes dos primeiros faraós da dinastia estão gravados ao lado de Amenemhat III. Reinam sobre o conjunto do Egito, pois foram encontrados monumentos em seu nome na Nubia e no Alto Egito. A influencia egípcia faz-se ainda sentir fora das fronteiras, dado que o príncipe de Biblos continua a reconhecer a suserania do Egito. A unidade do pais mantem-se, assim, durante bastante tempo. A pirâmide de um dos faraós do meio da dinastia foi construída em Sakkara, o que indica que o farão continuava a reinar sobre o conjunto do Egito, o que é confirmado pelo fato de se terem descoberto no Delta dois colossos em nome de um outro desses faraós.
Apesar da obscuridade que nos encobre os acontecimentos, a 3ª dinastia reinou, portanto, eficazmente pelo menos durante um certo tempo. Os nomes de numerosos faraós são conhecidos não apenas pelas fontes escritas, mas também pelos monumentos que edificaram. É graças a estes que sabemos que, muitas vezes, estes soberanos não eram de origem real.
A instabilidade do rei, que reina apenas pouco tempo, opõe-se à continuidade da administração, como o testemunha a existência de arquivos que nos mostram a atividade de serviços como o do Tesouro ou aquele a que pode chamar-se a " Secretaria do trabalho". São, de resto, esses mesmos arquivos que nos informam indiretamente sobre o que se passa então no Egito. Assim, um papiro enumera uma longa lista de servidores, o que nos informa de que, sob um tal Sebekhotep, numerosíssimos Asiáticos estavam adidos ao serviço dos funcionários do Alto Egito.
É difícil não ligar a presença destes Asiáticos no vale do Nilo à penetração dita dos "Hycsos" no Egito, quer esses servidores tenham sido prisioneiros de guerra quer representem uma mão-de-obra vinda espontaneamente para o Egito. Aliás, tanto em um caso como em outro, a presença desses Asiáticos ao longo do vale deve ter facilitado a posterior tomada do poder pelos Hycsos, eles próprios vindos da Ásia.
Controlando os diferentes elementos fornecidos pelas fontes escritas e pelos monumentos, pôde fixar-se o reinado de um dos faraós da dinastia, de nome Neferhotep, em 1740-1730 a.e.c. Nesta data, o Egito exercia ainda um controle sobre a Síria, o que implica ao que parece, que o faraó continuava a governar o Delta. No Sul, Elefantina e Assuã, onde foi encontrada uma estátua e inscrições em nome desse mesmo Neferhotep, continuavam sob a autoridade central cuja capital parece ter estado sempre situada nas imediações de Itjtawy, continuando assim a tradição dos faraós da 12ª dinastia.
Com os sucessores de Neferhotep, decimo sétimo soberano aprox., o poder da 13ª dinastia começa a esboroar-se no próprio Egito. Com efeito, muito pouco tempo depois, a cidade de Avaris é ocupada pelos Hycsos. A autoridade dos soberanos no baixo Vale do Nilo diminui pouco a pouco. Um dentre eles teria mesmo sido obrigado a defender Tebas de ataques vindos do Norte. A partir do vigésimo quinto soberano aprox., acelera-se a decadência. Poucos monumentos desta época nos chegaram, embora alguns reis tenham reinado mais de dez e de vinte e cinco anos. É possível que, no fim da sua história, a 13ª dinastia tenha sido vassala dos Hycsos.
Por volta de 1675 os "Hycsos" apoderam-se de Menfis. A queda da cidade marca de fato o fim da 13ª dinastia, embora o Papiro de Turim enumere ainda seis faraós. Esses já não serão mais que reizinhos, vassalos dos Hycsos do Baixo Egito. No Alto Egito governam apenas territórios reduzidos, por vezes talvez mesmo uma simples cidade.
Por volta de 1650, uma nova dinastia vai tentar salvar a independência daquilo que se mantem desocupado no território nacional. Será a 17ª dinastia tebana que, depois de ter reconhecido durante muito tempo a suserania dos Hycsos, conseguirá expulsar os estrangeiros. Embora os seus soberanos estejam já no poder, Maneton tal como o Papiro de Turim continuam a considerar a 13ª dinastia como a dinastia legitima até cerca de 1633.
No Delta ocidental: a 14ª dinastia. - Durante toda a 13ª dinastia e ainda durante alguns anos após a sua queda, os territórios pantanosos do Delta ocidental, um pouco a parte, continuam, ao que parece, mais ou menos independentes. Esta regido é então governada pelos príncipes ou reis de Xois (at. Sakha), que constituem a 14ª dinastia. Maneton atribui-lhe 76 reis e uma duração de 184 anos. Teria, portanto, reinado a parte quer do Alto Egito quer do Delta de 1786 a 1603. No entanto, nada sabemos da sua história, porquanto só os nomes dos soberanos foram conservados no Papiro de Turim.
Os Hycsos (15ª e 16ª dinastias)
Flavio Josefo, na sua história da Judeia, cita uma passagem de Maneton que alude à invasão do Egito pelos "Hycsos". Este nome significaria, segundo Josefo e Maneton, "Reis Pastores". Na realidade, ele provém de uma expressão egípcia, Heqa khasut, que quer dizer "Chefe dos Estrangeiros" e aparece no Egito a partir da 12ª dinastia antes mesmo da invasão Hycsos. Designa então os chefes de tribos asiáticas do corredor siro-palestino e dos desertos limítrofes.
A infiltração dos Hycsos e a 15ª dinastia (os Grandes Hycsos). - Flavio Josefo, interpretando sem duvida Maneton de uma maneira tendenciosa, atribui a invasão dos Hycsos um caráter brutal que provavelmente ela não teve. Seria preciso falar antes de infiltração progressiva e não de invasão brusca. A palavra "Hycsos" designa de fato apenas os "Chefes" dos Asiáticos que tomaram o poder no Egito. Não há "raça" ou "povo" Hycso propriamente dito. Os invasores são essencialmente Semitas ocidentais. A sua vinda para o Egito talvez esteja ligada à expansão amorrita na Ásia ocidental. Os próprios Egípcios chamavam-lhes ora Amu, ora Setetyu, ou simplesmente "homens do Retenu", ou seja, todos os velhos nomes utilizados desde o Antigo e Médio Império para designar os seus vizinhos da Siro-Palestina. Não tinham, portanto, a impressão de estar em presença de um povo novo, como Josefo pretenderia fazer crer.
A infiltração dos Asiáticos no Egito começou, ao que parece, por volta de 1730 a.e.c., Tendo sido a principal fase dessa infiltração a tomada de Avaris no Delta oriental. A data deste acontecimento capital pode ser fixada por volta de 1720.
Instalados em força no Delta a partir de 1720, os Hycsos precisarão ainda de quarenta e seis anos para chegar ate Menfis e controlar então o conjunto do país. Este lapso de tempo é ocupado pela progressiva tomada de posse dos nomes do Delta, a exceção dos do Oeste governados pelos faraós da 14. a dinastia. Tendo conseguido apoderar-se de Menfis, os Hycsos assumem a titularidade faraónica completa. Constituem, então, a 15ª dinastia manetoniana.
Ressalta do texto de Maneton, utilizado por Josefo, que Avaris era a praça-forte que servia de apoio aos Hycsos. Por isso permaneceu a sua capital mesmo depois da tomada de Menfis. Até Apophis, os faraós da 15ª dinastia devem ter, se não governado efetivamente, pelo menos controlado o conjunto do Egito, desde Gebelein pelo menos (um pouco a sul de Tebas) até aos confins marítimos do Delta. É possível que o seu poder se tenha mesmo estendido até a primeira catarata e a Baixa Nubia. A sul dessa começava o reino de Kush que, na altura da guerra de libertação, é independente. Em que momento é que Kush se tornou independente? Não se sabe. Parece estabelecido que, durante uma grande parte da 13ª dinastia, a Nubia permaneceu sob o domínio do Egito até a segunda catarata. Foram encontradas em Semné, Uronarti e Mirgissa, impressões de sinetes, estelas e inscrições nos nomes de soberanos da dinastia, o que parece provar que o sistema defensivo estabelecido pela 12ª dinastia de Buhen a Semné estava ainda nas mãos dos Egípcios.
É possível que seja apenas nos fins da 13ª dinastia que a Nubia tenha retomado a sua independência. Ela estava, de resto, em relação com os invasores do Delta, porquanto foram encontrados em Kerma e em Mirgissa objetos e marcas de sinetes da época dos Hycsos.
A 15ª dinastia compreende, segundo as fontes escritas, seis soberanos. Apenas três são conhecidos por meio de monumentos egípcios. A própria ordem da sua sucessão é incerta e é possível que, onde as Listas reais mencionam três faraós com o nome de Apophis, tenha havido de fato apenas um. É, portanto, difícil escrever uma historia seguida dos faraós Hycsos. Os que conhecemos melhor são Khian e Apophis.
A administração egípcia, a julgar pelas inscrições, abre-se aos funcionários asiáticos, tendo sido um deles o "Tesoureiro" com o nome semítico de Hur. A sua atividade parece ter-se estendido desde Gaza, na Palestina, ate Kerma, no centro do Sudão. Ao lado dos funcionários estrangeiros, houve Egípcios que permaneceram ao serviço dos invasores.
Foram encontrados numerosos monumentos com. o nome de Khian, sem dúvida o terceiro faraó da serie Hycsos, depois de Maá-ib-Rá-Sheshi e Yakub-Hor que só são conhecidos por meio de escarabeus. Os monumentos de Khian encontram-se desde Gebelein no alto vale ate Bubastis no Delta. Fora do Egito, foi encontrada uma tampa de vaso em Knossos, na ilha de Creta, e um leão de granito em Bagdá, ambos com o nome de Khian inscrito em caráteres hieroglíficos. Apesar dessa ampla difusão de monumentos parece duvidoso que o poder real dos soberanos Hycsos se tenha estendido fora do Egito para além das fronteiras do sul da Palestina. Todavia, os laços comerciais entre o Egito dos Hycsos e os países do Mediterrâneo oriental parecem ter sido estreitos.
A Khian sucede Ausserré Apophis, a quem o Papiro de Turim atribui quarenta anos de reinado. O nome "Apophis" é egípcio, transcreve uma forma "Ipepi" conhecida desde o Antigo Império. Foi encontrado no túmulo de Amenhotep I um vaso de alabastro com o nome da filha de Apophis, a princesa Herit, e perguntamo-nos se esta princesa não terá desposado um príncipe tebano, transmitindo assim um pouco de sangue dos Hycsos aos faraós do Novo Império. Seja como for, Egípcios de Tebas e Hycsos parecem ter tido boas relações sob o reinado de Apophis. Só mesmo no fim do reinado é que o Egito do Sul começa a sacudir a tutela asiática. Um texto literário conservou-nos a abertura das hostilidades que se verificou sob o reinado de Sequenenre, da 17ª dinastia.
A múmia deste faraó foi encontrada no "esconderijo" de Deir-el-Bahari. Exibe múltiplos vestígios de feridas feitas por armas, e supôs-se que o rei tivesse sido morto durante um combate contra os Hycsos. É apenas uma hipótese mas, na verdade, sedutora e verosímil.
O reinado de Sekenenré marca o inicio da expulsão dos Hycsos para fora do Egito. Esta luta foi longa e outros soberanos sucederam a Apophis, mas este já perdera uma grande parte do Egito. No meio do seu reinado, a fronteira entre Hycsos e Tebanos encontrava-se em Atfié, perto da entrada sul do Fayum. O exercito tebano fazia incursões em profundidade em território dos Hycsos ate a própria Avaris. Na realidade, a partir de Sekenenre, a 15ª dinastia dos Hycsos e a 17ª dinastia tebana reinam paralelamente, a primeira no Norte, a segunda no Sul, desde a primeira catarata até Atfié no Médio Egito.
A 16ª dinastia (os Pequenos Hycsos. - Ao lado dos seis reis Hycsos que constituem a 15ª dinastia e que por vezes são chamados os "Grandes Hycsos", outros soberanos asiáticos teriam reinado na mesma época: são os "Pequenos Hycsos" que Maneton agrupa na 16ª dinastia. A própria existência desta dinastia é contestável. Na melhor das hipóteses, os seus reis teriam sido contemporâneos da 15ª dinastia e deveriam, portanto, ser considerados mais como príncipes locais que como verdadeiros soberanos. Pergunta-se por que razão Maneton lhes atribuiu a honra de uma dinastia separada.
O Egito sob os Hycsos. - É evidente que os Hycsos, contrariamente ao que os textos egípcios posteriores insinuarão, respeitaram a civilização egípcia. A sua "invasão" não foi tão violenta como relata Josefo. Ela deixou de ser vista sob a forma de uma invasão militar de tropas bem organizadas e superiormente armadas perante as quais o exercito egípcio teria soçobrado. Só no fim da sua ocupação do Egito é que os Hycsos introduziram o carro de guerra no vale do Nilo, assim como novos tipos de adagas, de espadas, o bronze e o temível arco composto de origem asiática. A dominação dos Hycsos parece ter-se imposto progressivamente: pequenos grupos de Asiáticos, penetrando no vale do Nilo então mal defendido, impuseram localmente a sua autoridade aos Egípcios, quando foram suficientemente numerosos, ajudados talvez pelos seus compatriotas instalados no Egito desde a 13ª dinastia.
Não é mais do que uma hipótese, mas que parece confirmada pela arqueologia. Não há mudança brutal nos costumes funerários e os cadáveres que poderiam ser de tipos estrangeiros, designadamente semitas, são pouco numerosos. A olaria dita de Tell-el-Yahudid, que durante muito tempo foi associada à invasão dos Hycsos no Egito, apareceu lá de fato a partir do Império Médio. É uma olaria de importação que nada deve, ao que parece, aos invasores e que prova simplesmente como eram estreitos os lagos comerciais entre a Ásia costeira e o Egito dos Hycsos.
Flavio Josefo apresenta os Hycsos como pertencendo a uma raça única nova e pensou-se por vezes que eles incluiriam Hurritas e mesmo Arianos. Na realidade, os nomes Hycsos que nos chegaram são puramente semíticos do Oeste, e se houve entre eles elementos nao-semiticos, não devem ter sido nem numerosos nem dominantes seja a que titulo for.
Em resumo, vê-se que a dominação Hycsos consistiu essencialmente uma mudança de governantes. Os recém-chegados impuseram-se a uma maioria mal governada. Só parecem ter sido numerosos no Delta oriental; de resto, governaram habitualmente com a ajuda de Egípcios autóctones.
Instalados no Egito, os Hycsos receberam muito daqueles que dominavam politicamente. Os seus soberanos utilizaram exclusivamente a escrita hieroglífica; adotaram os deuses Egípcios. Se é verdade que tiveram uma preferencia pelo deus Seth, que assimilaram a Baal ou Reshep, isso não os impediu de adorar o deus-sol Rá. Não apenas Khian se declara "Filho de Ra", como um faraó autentico, como Apophis se diz "Filho carnal de Rá [...]. Imagem Viva de Rá sobre a Terra".
Os Hycsos não eram, sem duvida, suficientemente numerosos, ou não dispunham de um numero suficiente de administradores competentes, para governar pessoalmente o país em exclusivo. Numerosos Egípcios de raça serviram-nos fielmente. Os Hycsos, longe de serem os Bárbaros descritos mais tarde pelas fontes egípcias, empreenderam a construção de templos e de edifícios. As estatuas, estelas e outras obras de arte da sua época, não despiciendas do ponto de vista artístico, são de uma qualidade pelo menos igual ao que produziam então as oficinas egípcias independentes do Sul. Finalmente, é ao período dos Hycsos que devemos algumas das melhores copias de obras literárias ou cientificas egípcias, tais como o Papiro matemático Rhind, datado do ano 33 de Apophis, ou o célebre Papiro Westcar, ou ainda o Hino à Coroa (Papiro Golenischeff}. Parece, pois, que os reis Hycsos encorajaram a vida intelectual.
Se os Hycsos foram buscar muito ao Egito, a sua ocupação, por provisória que tenha sido, modificou no entanto o curso da história faraónica. Pode dizer-se que ela libertou definitivamente os Egípcios do seu complexo de superioridade que os fazia considerarem-se ao abrigo de todas as vicissitudes no seu Vale. Fato muito mais importante, a ocupação dos Hycsos pô-los em relações muito estreitas com o mundo asiático. Foi um pouco graças aos Hycsos que se estabeleceram inúmeros laços de sangue, de cultura, e mesmo de filosofia, entre o vale do Nilo e o Próximo Oriente asiático. Esses laços não foram quebrados, muito pelo contrario, pelos faraós do Império Novo.
O reino de Tebas e a expulsão dos Hycsos: a 17ª dinastia
Agora, é preciso voltar um pouco atrás: a 17ª dinastia só teve, de fato, independência real e autoridade sobre uma parte bastante considerável do Egito sob os seus três últimos soberanos. A maior parte da sua história desenrolou-se sob a dominação dos reis Hycsos dos quais foram vassalos, e mesmo vassalos fieis, sem duvida.
A dinastia tebana. - Os primeiros príncipes tebanos aparecem por volta de 1650 aprox., durante o reinado de um dos primeiros faraós Hycsos e quando a 13ª dinastia estava ainda teoricamente no poder. É o bastante para se avaliar quão confusa era então a situação no Alto Egito, pois que lá se sobrepunham três poderes.
O Papiro de Turim conservou os nomes de quinze reis tebanos da 17ª dinastia. Nove destes encontram-se nas Listas reais. Os monumentos, por seu turno, conservaram-nos os nomes de dez dentre eles. Por fim, na necrópole tebana, foram descobertos os vestígios dos túmulos de sete destes príncipes, ou foi estabelecida com segurança a sua existência quer pela descoberta de objetos em seu nome, quer pela menção da inspeção da sua sepultura sob a 20ª dinastia. Este conjunto de documentos permitiu estabelecer a ordem de sucessão dos faraós da dinastia.
Estes são repartidos em dois grupos pelo Papiro de Turim. O primeiro inclui onze reis, o segundo apenas seis. O conjunto do primeiro grupo parece ter reinado cerca de quarenta e cinco anos, acabando-se o ultimo reinado por volta de 1605, no inicio do reinado de Apophis.
É verosímil que o território governado pelos reis tebanos não ultrapassas-se os oito primeiros nomes do Alto Egito, de Elefantina a Abydos. O resto do Alto Egito e talvez uma parte do Médio eram dirigidos pelos sucessores da 13ª dinastia. A Baixa Nubia, embora permanecendo talvez em boas relações com o Egito do Sul, é independente sob o cetro dos reis de Kush. A capital deste novo reino era, sem dúvida, Buhen. O Norte do Egito é administrado pelos Hycsos que, além disso, fixam os impostos para o conjunto do Egito; este é, portanto, inteiramente vassalo dos poderes dos Hycsos.
Os túmulos reais tebanos tem ainda a forma de pirâmides, como o atestam os processos-verbais de inspeção da 20ª dinastia. No entanto, eram simplesmente construídas com tijolos crus por cima de uma câmara funerária escavada no rochedo perto de Deir-el-Bahari. Os sarcófagos reais são de madeira, de um tipo novo, mumiformes e não já retangulares, como no Império Médio.
A vida intelectual em Tebas parece ter sido ativa, como o era na corte dos Hycsos. Foi de fato no sarcófago de um Antef que foi encontrado o Papiro Prisse, que é por vezes chamado "o mais velho livro do mundo". As Máximas de Ptahotep que constituem o seu tema parecem ter sido muito populares durante a 17ª dinastia. Os faraós, muito religiosos, levaram a cabo reparações nos tempos, nomeadamente em Coptos e Abydos.
Os primeiros reis da 17ª dinastia. - Pensa-se que o primeiro dos faraós da dinastia tenha sido Nubkheperré-Antef V (os quatro primeiros Antef pertencem a 11ª dinastia). Um texto datado deste soberano mostra que, na sua época, pequenos potentados reinavam ainda em certos territórios do Alto Egito. Os reis tebanos reduzirão pouco a pouco

O fim do Tempo de Dificuldades trouxe paz para a Rússia e uma nova dinastia de tsares, que permaneceria no trono até 1917. As décadas que sucederam ao Tempo de Dificuldades viram a restauração da ordem social e política que havia existido antes, de forma que a Rússia tinha basicamente o mesmo aspecto do dia em que a Assembleia da Terra elegera Boris Godunov como tsar. Porém, sob a superfície de costumes e instituições restauradas, antigas tendências ganharam velocidade e novos avanços surgiram. A servidão proporcionou uma estrutura rígida que determinava a vida da maioria dos russos e desacelerava, mas não impedia, mudanças e crescimento na economia. No outro extremo da sociedade russa, na corte e entre o alto clero, estavam acontecendo mudanças no sentimento religioso e na cultura que teriam efeitos profundos.
O crescimento populacional acelerado implicava mais prosperidade e também tornou possível para a Rússia absorver e preservar as novas aquisições na Sibéria e nas estepes meridionais. A integração crescente com os mercados europeus florescentes trazia riqueza para os mercadores e citadinos. A reconstrução do governo não se limitava à restauração do velho sistema e das velhas instituições. O aparato capenga dos escritórios do Estado em Moscou conseguia mais ou menos manter controle sobre um território imenso e uma população indisciplinada. O controle, no contexto russo, era sempre uma questão relativa, pois esse foi também o século “revoltoso” da história russa, não apenas com o Tempo de Dificuldades, mas com levantes urbanos em Moscou e outras cidades, a primeira grande revolta de cossacos e camponeses do lendário Stenka Razin e as revoltas politicamente cruciais dos mosqueteiros no final do século. Cada vez, todavia, as autoridades acabavam restaurando a ordem e, após 1613, o Estado não ruiu.
A longo prazo, ainda mais importantes que o crescimento económico ou o sucesso político foram as mudanças culturais. Elas são difíceis de descrever porque carecem da dramaticidade da transformação posterior sob as ordens de Pedro e ainda estavam todas contidas nos limites de uma cultura predominantemente ortodoxa. Essas mudanças dentro da ortodoxia representaram uma reação às necessidades religiosas, sociais e políticas russas, mas ocorreram por via da interação estreita com a Igreja ortodoxa de Kiev, com monges e clero majoritariamente ucranianos e com os livros e novas ideias que eles traziam para Moscou. Durante meio século, dos anos 1630 aos 1690, Kiev foi um centro capital de influência sobre o pensamento e a vida russa. Ao mesmo tempo, acontecimentos políticos na Polônia - a revolta dos cossacos ucranianos - levaram a Rússia à guerra com a Polônia e acabaram por alterar o equilíbrio político no Leste Europeu a favor da Rússia. Durante a maior parte do século XVII, a política e cultura da Polônia e dos seus povos foram cruciais para os assuntos russos.
Nenhum desses acontecimentos era visível nos anos imediatamente seguintes a 1613 na corte do primeiro Romanov, o tsar Michael (1613-1645). Michael reinstituiu as nomeações para a Duma e outros cargos segundo o sistema de precedência, como fizeram seus predecessores. A corte não era exatamente a mesma, pois a experiência do Tempo de Dificuldades parece ter ensinado aos boiardos a necessidade de consenso, e durante 60 anos as intrigas da corte perderam o caráter de desesperada e assassina que marcara o século anterior. Filareto, o pai de Michael, retornou do cativeiro na Polônia em 1619 e foi imediatamente nomeado patriarca da Igreja. Dentro de poucos anos ele era o regente de fato da Rússia, cossoberano com seu filho. O principal objetivo do patriarca Filareto era vingar-se da Polônia, um objetivo de que os boiardos não compartilhavam. Por insistência sua, em 1632 a Rússia tentou retomar Smolensk ao recorrer a regimentos mercenários contratados na Europa Ocidental. A guerra foi um desastre e em 1633 Filareto morreu, permitindo que o tsar e os boiardos pusessem fim à guerra. O tsar Michael, reinando agora sem a supervisão do pai, voltou-se para outros assuntos.
A restauração da ordem e da paz permitiu que o campo se recuperasse e, na época da morte de Michael, a maior parte dos danos provocados pelo Tempo de Dificuldades havia sido reparada. A grande realização do seu reinado foi a construção de várias linhas de fortes nos principais vaus dos rios e nos montes ao longo da fronteira meridional. Nas florestas entre os fortes, trabalhadores derrubavam árvores e deixavam-nas emaranhadas para afastar a cavalaria tártara. As defesas eram uma empreitada colossal que cobria mais de 1,5 mil quilômetros, da fronteira com a Polônia até os Urais. A finalidade era afastar os saqueadores tártaros, e funcionou bem o suficiente para permitir que o campesinato e a aristocracia se deslocassem para o sul, cultivando pela primeira vez a fértil terra preta da estepe em grandes contingentes. O tsar deu terras aos colonos-soldados para manter a linha de fortificações. Toda uma sociedade de pequena aristocracia e soldados-camponeses surgiu ao longo da linha de fortes, e além da nova linha, diante dos tártaros na estepe aberta, havia os cossacos às margens dos rios meridionais, o Don, o Volga e o Iaik mais a leste. Cem anos depois das conquistas de Ivâ o Terrível, a estepe meridional finalmente começou a contribuir para a riqueza e o poder da Rússia.
O século XVII também foi o primeiro século inteiro de servidão, mas a agricultura e a população da Rússia recuperaram-se rapidamente do Tempo de Dificuldades, e o comércio floresceu. A reocupação de áreas devastadas pelo Tempo de Dificuldades trouxe a agricultura de volta para alimentar uma população em crescimento e, ao longo do século, apesar de um aumento geral dos preços e da demanda crescente na Europa, os preços dos alimentos na Rússia permaneceram praticamente inalterados. Sabemos pouco sobre a vida do camponês russo nesse século além desses fatos mais amplos, mas parece que a comunidade aldeã conhecida desde épocas remotas havia assumido uma forma definitiva no final do século. Os camponeses detinham a terra dos seus senhores na forma de aldeia e eles mesmos administravam a distribuição de terras entre as famílias. A produção manufatureira aumentou e difundiu-se, não apenas nas cidades mas até nas aldeias, e, no final do século, homens que tinham a condição jurídica de servos camponeses começaram a entrar para as fileiras dos mercadores e empreendedores. A Sibéria foi submetida ao controle russo mais efetivo que jamais teria e sua fronteira com a China foi definida em 1689 por tratado, seguindo o rio Amur. Todo ano uma caravana de produtos chineses de extensão modesta vinha para Moscou, mas ao longo do tempo o comércio anual trouxe lucros tanto para os mercadores quanto para os tsares.
O crescimento da população, do comércio e do Estado fez que Moscou se tornasse rapidamente uma cidade importante. Em meados do século XVII, ela continha dentro de suas muralhas talvez 100 mil habitantes. Metade dos moscovitas faziam parte do Exército ou do complexo do palácios: soldados dos regimentos de elite de mosqueteiros (cerca de 10 a 15 mil) e suas famílias, além dos criados e dependentes da família do tsar. Esses criados do palácio formavam bairros inteiros que forneciam ao tsar tecido e prataria, cuidavam das suas centenas de cavalos e cozinhavam a comida para os seus banquetes gigantescos. Muitos milhares de moscovitas eram servos dos grandes aristocratas. Os mais ricos dentre eles tinham, por volta de 1650, várias centenas de servos nas suas residências de Moscou. A outra metade dos habitantes da cidade constituía a verdadeira população urbana, os grandes mercadores e incontáveis artesãos de todos os tipos, além do clero, trabalhadores assalariados, pedintes e toda a variedade de gente que povoava uma grande cidade. Todos eles viviam em ruas estreitas e sinuosas ladeadas de casas de madeira que tornavam a cidade vulnerável a incêndios frequentes. Somente as igrejas mais importantes eram de pedra, e apenas os boiardos e uns poucos grandes oficiais ou mercadores construíam casas de pedra ou tijolo. Essas casas maiores estavam localizadas no fundo de pátios cercados por altas cercas de madeira e lotados de estábulos e armazéns, recheados de comidas e bebidas trazidas do campo pelos servos do senhor. Os boiardos construíam suas casas de acordo com a forma russa tradicional e não com as normas arquitetônicas europeias, e dividiam-nas em aposentos separados para mulheres e homens.
Para fora dos muros da cidade, a Nordeste, ficava todo um assentamento de estrangeiros, o “subúrbio alemão”, composto de mercadores, oficiais mercenários e os muitos outros que atendiam às suas necessidades. Estabelecido em 1652 por iniciativa da Igreja, que temia a corrupção estrangeira, o subúrbio alemão era uma pequena réplica da Europa Setentrional, com uma igreja luterana de tijolo dotada de uma flecha pontuda e ruas regulares com casas de tijolo, tavernas e uma escola. Os “alemães” (que também incluíam holandeses, ingleses e escoceses) eram os estrangeiros mais numerosos e que acabariam por ser os mais importantes, mas Moscou era uma cidade bastante cosmopolita. Os monges e sacerdotes ucranianos que residiam nas igrejas e mosteiros de Moscou traziam à Rússia uma nova variante da ortodoxia. Os gregos também tinham o seu próprio mosteiro e mercadores gregos misturavam-se com arménios e georgianos do Cáucaso. Povos mais exóticos vinham das fronteiras meridionais e mais a leste: circassianos que serviam o tsar, kalmuks e basquírios que traziam imensas tropas de cavalos todo ano para vender, tártaros de toda espécie e até “tadjiques”, os mercadores de Khiva e Bukhara na longínqua Ásia Central.
A prosperidade econômica caminhava de mãos dadas com a recuperação e o desenvolvimento do Estado. No final do século, várias centenas de funcionários eram empregados nas dezenas de escritórios que tentavam administrar o vasto território russo. Eles haviam desenvolvido procedimentos e práticas complexas, mantinham registros dos decretos do tsar que definiam suas ações e registravam suas próprias decisões em incontáveis rolos de papel armazenados nos arquivos. Como a maioria dos primeiros Estados modernos, a administração russa concentrava-se na arrecadação de impostos, na administração da justiça e (quando necessário) no recrutamento militar. Nas condições russas, tratava-se de tarefas intimidantes. Para arrecadar impostos dos camponeses, Moscou procurou descobrir e registrar quanta terra cada família de camponeses tinha e qual era sua qualidade. As autoridades centrais tinham recursos para recensear a população com finalidades fiscais a cada 15 ou 20 anos no máximo, e mesmo assim não da maneira mais eficiente. Dada a escassez de administradores locais, Moscou enviava seus oficiais a alguns centros distritais e contava com a aristocracia e os anciões das aldeias para fornecer informações sobre cada aldeia e família. É óbvio que todos, proprietários rurais ou camponeses, tinham interesse em subestimar seus bens, e os oficiais só conseguiam verificá-los nos casos mais óbvios de evasão. Mais uma vez, eram os anciões das aldeias que efetivamente recolhiam os impostos, muitos dos quais ainda eram pagos em espécie. A única fonte segura de renda era o imposto sobre as vendas e o monopólio do tsar sobre a venda de vodca e outras bebidas alcoólicas, segura porque era arrecadada em cidades e mercados, e muitas vezes arrendada a mercadores e outros empreendedores.
As tentativas de administrar a justiça também encontravam dificuldades. A Rússia antes de Pedro não era um país sem lei sob um regime arbitrário, como costumavam retratá-la os liberais de épocas posteriores. Na verdade, os funcionários dos escritórios de Moscou que administravam justiça erravam tanto quanto ou mais por pedantismo jurídico do que por arbitrariedade. Eles seguiam o Código de Direito de 1649, que circulava também nas províncias, entre os oficiais e a nobreza. O maior problema era que os escritórios de Moscou (e depois o tsar) constituíam os únicos tribunais de verdade na maioria dos casos, e os governadores e oficiais provinciais atuavam muito mais como investigadores que como juízes. A vida desses governadores não era fácil e, na investigação de casos criminais, eles e seus poucos subordinados dependiam fortemente de interrogar os vizinhos do acusado e da vítima para encontrar provas. Os governadores provinciais eram incumbidos de administrar áreas do tamanho de pequenos países europeus com um punhado de assistentes e nenhuma Força Armada efetiva. Era somente para as fronteiras distantes que Moscou enviava homens e soldados suficientes para gerir as coisas com eficiência e manter a ordem. Os governadores locais e os escritórios centrais tentavam proporcionar um tribunal de primeira instância para litígios de propriedade fundiária e decisões acerca de crimes de maior importância, mas a falta de funcionários fora de Moscou e de algumas poucas capitais provinciais nas fronteiras forçava o governo a contar com a cooperação dos habitantes locais, o que levava a resultados dúbios. Mesmo com pessoal extra, as fronteiras longínquas ainda eram difíceis de controlar, o que tinha amiúde consequências desastrosas.
-------
Com a morte de Michael em 1645, os boiardos e o clero logo aclamaram seu filho mais velho, Aleksei, como seu sucessor. Mais uma vez, o tsar era jovem, apenas 16 anos de idade, pois tinha nascido em 1629. A constelação de boiardos em torno dele na corte determinou o curso dos acontecimentos pela primeira década, aproximadamente. Em pouco tempo o tsar Aleksei casou-se com Maria, filha de Ilya Miloslavskii, um aliado do tutor do jovem tsar, o poderoso boiardo Boris Morozov, que, por sua vez, se casou com a irmã de Maria, consolidando sua posição na corte e sua influência sobre o jovem tsar. Os planos fiscais de Morozov, que envolviam substituir os impostos habituais sobre as vendas por um imposto elevado sobre o sal, logo geraram uma crise. Em julho de 1648, os moscovitas amotinaram-se, mataram vários boiardos e funcionários proeminentes e pediram a cabeça de Morozov. Aleksei conseguiu salvá-lo e a agitação acalmou-se. Parte do compromisso resultante foi uma nova Assembleia da Terra, desta vez para confirmar um novo código de Direito, e em 1649 as prensas publicaram a primeira compilação de leis da Rússia, o Código Conciliar de 1649. Morozov retornou à corte, mas era Ilya Miloslavskii, o sogro de Aleksei, um homem que o tsar mais temia que amava, quem predominava. Logo Miloslavskii encontrou um rival no patriarca Nikon, que ascendeu ao trono patriarcal em 1652. Nikon viria a lançar mudanças na Igreja que acabariam por levar a um cisma, mas seu papel político fora da Igreja não fora menos importante. Isso porque a Rússia já enfrentava uma nova crise, e dessa vez era uma crise estrangeira.
A Rússia não estava sozinha na defesa da sua fronteira meridional com bandos de cossacos. A Polônia-Lituânia também mantinha uma força de tropas irregulares no rio Dnieper diante dos crimeanos. Os cossacos instalaram-se além da fronteira, nas ilhas abaixo das corredeiras (Zaporozhe). Esses cossacos eram em sua maioria camponeses ucranianos na origem e, portanto, de religião ortodoxa. Eles haviam ido para a fronteira tal como os cossacos russos fugiam da servidão no seu país, mas nesse caso eles fugiam também da opressão religiosa, pois a Polônia, geralmente tolerante, não estendia esse favor aos ortodoxos. A submissão da hierarquia ortodoxa da Polônia-Lituânia a Roma em 1596 havia formado uma nova Igreja católica uniata sobre a base da Igreja ortodoxa anterior. O rei declarou ilegal a ortodoxia, confiscou edifícios e bens da Igreja ortodoxa e entregou-os aos uniatas. Em 1632 o novo rei da Polônia reverteu parcialmente a política de seu pai e declarou um compromisso, permitindo um metropolitanato ortodoxo em Kiev e o culto ortodoxo em certas regiões. O compromisso não foi suficiente, pois os camponeses ucranianos caídos em servidão enxergavam seus senhores majoritariamente poloneses como opressores religiosos e sociais. Então, no inverno de 1648, os cossacos ucranianos elegeram um novo hetman (hetmã), ou comandante, sem a aprovação do rei. O novo hetman, um nobre menor chamado Bohdan Khmel’nyts’kyi, e sua hoste de cossacos começaram a deslocar-se para noroeste fora de Zaporozh e, proclamando a libertação da opressão religiosa e de outros tipos. O Exército polonês, arregimentado às pressas, foi completamente aniquilado e as terras ucranianas explodiram em revolta; camponeses e cossacos matavam e expulsavam a aristocracia polonesa, os uniatas e os judeus.
Khmel’nyts’kyi conseguiu derrotar o Exército do rei no campo de batalha, mas ele sabia que em breve precisaria de aliados. De início ele aliou-se à Crimeia, mas essa aliança era difícil de manter, pois os interesses das duas partes diferiam em demasia. O hetmã voltou-se para o tsar Aleksei e suplicou que apoiasse seus irmãos ortodoxos. Essa mensagem não foi bem-vinda em Moscou. Os emissários dos cossacos ucranianos chegaram logo após o motim de 1648 em Moscou, e nem Aleksei nem os boiardos tinham vontade alguma de apoiar rebeldes camponeses nos países vizinhos. Além disso, o tsar Michael (nos seus últimos anos) e seu filho Aleksei estavam tentando chegar a um acordo com a Polônia para formar uma aliança contra os crimeanos. Aleksei hesitou por cinco anos, oferecendo promessas vagas aos cossacos e enviando mensagens de paz ao rei da Polônia. Na primavera de 1653, o hetmã mandou mais uma embaixada a Moscou e ofereceu a Aleksei a soberania sobre a hoste dos cossacos ucranianos. Dessa vez o tsar concordou, aparentemente persuadido pelo patriarca Nikon. Pouco tempo depois, em janeiro de 1654, uma embaixada do tsar assinou em Pereiaslav, na Ucrânia, um acordo com o hetman para pôr os cossacos e o território deles “sob sua soberania”, ao mesmo tempo que afirmava a autonomia recém-conquistada por eles, agora dentro da Rússia. No acordo a Rússia também se comprometeu a travar uma guerra com a Polônia, a qual redefiniu fundamentalmente o equilíbrio do poder no Leste Europeu.
A guerra duraria 13 anos, até 1667. Aleksei tinha um novo Exército, pois havia contratado oficiais ocidentais para formar regimentos de soldados russos nos moldes europeus. Nos primeiros anos da guerra, o Exército russo recapturou rapidamente Smolensk e prosseguiu até Wilno. Depois de um vaivém considerável e da morte de Khmel’nyts’kyi em 1656, a Rússia e a Polônia assinaram um tratado em 1667. A Polônia recuperou a maior parte do seu território; apesar disso, o tratado foi uma nítida vitória russa: Smolensk permaneceu russa e a Ucrânia a leste do Dnieper com a cidade de Kiev continuou a constituir um hetmanato autónomo sob o poder do tsar. Embora nem os russos ainda não tivessem percebido, a época da Polônia como a grande potência do Leste Europeu havia acabado, pois a revolta dos cossacos e a guerra haviam causado estragos demasiados ao tecido social e político do Estado polaco-lituano. Sua economia e população estagnaram pelos próximos cem anos, deixando o caminho aberto para a Rússia.
A Rússia não escapara totalmente ilesa. A guerra havia levado a uma adulteração da moeda de prata com moedas de cobre, o que levou o povo de Moscou a protestar na “Revolta do Cobre” de 1662. O tsar foi obrigado a convocar os regimentos de infantaria de estilo novo comandados por mercenários estrangeiros para restaurar a ordem. Muito mais grave foi a agitação no Don que estourou como a grande revolta dos cossacos de Stenka Razin em 1670. Semelhantes em alguns aspectos à revolta ucraniana, os acontecimentos russos careciam do elemento religioso e étnico; na verdade, muitos povos nativos da fronteira meridional juntaram-se a Razin. Os cossacos russos também eram mais plebeus que os ucranianos, que incluíam uma pequena aristocracia entre os seus líderes. Eles espalharam o terror na corte do tsar ao capturar Astrakhan e outras cidades do Volga e massacrar nobres e oficiais. Os Exércitos do tsar Aleksei finalmente derrotaram e capturaram Razin em 1671 e levaram-no para Moscou, onde foi executado. Como mostrou a revolta, a expansão na estepe meridional aumentou enormemente o território, o potencial agrícola, a população e o poder da Rússia, assim como as tensões na sociedade russa.
A estepe meridional e seus povos eram apenas parte do complexo mais amplo de territórios e povos que faziam cada vez mais da Rússia uma sociedade multinacional. O território perdido para a Suécia em 1619 significou a perda de alguns grupos finlandeses menores, os ingrianos e parte dos carelianos que povoavam parte do território de Novgorod desde os primórdios da história escrita. As tentativas suecas de impor a fé luterana aos carelianos ortodoxos e a chegada de senhores feudais suecos em aldeias de camponeses livres provocaram uma migração considerável através da fronteira russa para as terras em torno do lago Onega e até para o sul, em direção a Tver’. Povos fino-ugrianos de menor importância continuavam a povoar partes do Norte da Rússia, mas até 1654 os maiores povos não russos incluíam os tártaros, basquírios, chuvash e outros povos do Volga submetidos ao domínio russo no século XVI. Eles continuavam a viver na condição distinta de pagadores de yasak em vez dos impostos russos habituais. Essa condição distinta continuou depois do estabelecimento da servidão, com o resultado paradoxal que o campesinato tártaro não se tornou servil. As autoridades russas continuaram a aceitar, mas não incentivar, o Islã e não realizaram nenhuma tentativa organizada de conversão. Os conflitos eram pela terra, haja vista que camponeses russos se instalavam mais e mais entre eles, principalmente entre os basquírios, que organizaram diversas pequenas rebeliões. Mais ao sul, a chegada nos anos 1630 dos kalmuks, um povo budista mongol que fugia das rixas internas na sua pátria, perturbou as relações entre os nômades logo além da fronteira russa. Por serem budistas, os recém-chegados tinham relações ruins com os crimeanos e outros povos muçulmanos da região. Os kalmuks eram aliados importantes do tsar russo, aceitavam sua soberania geral e forneciam-lhe tropas para guerras estrangeiras e distúrbios internos. Os circassianos também eram leais, pois haviam tomado o partido do tsar contra os rebeldes de Razin.
O tratado de Pereiaslav de 1654 incorporou ao Estado russo um novo elemento na forma do hetmanato ucraniano. A hoste dos cossacos, originalmente democrática, transformou-se logo numa sociedade governada por uma elite hereditária de oficiais cossacos. Conforme o tratado de Pereiaslav, os cossacos continuaram a eleger hetmã, que por sua vez nomeava os oficiais, administrava a justiça (segundo as velhas leis polonesas), geria seu próprio tesouro e comandava o Exército cossaco, tudo isso sem consultar o tsar. Este mantinha guarnições em Kiev e outras cidades principais, cujos comandantes também exerciam controle sobre as cidades, embora estas conservassem seus governos urbanos eleitos. A Igreja ucraniana era mais complicada, pois o metropolita de Kiev não estava sob a jurisdição de Moscou, mas sim do patriarcado grego de Constantinopla, que só aceitou o patriarca de Moscou como seu chefe em 1687.
A inclusão do hetmanato ucraniano na Rússia teve efeitos dessa magnitude porque fortaleceu os laços entre Kiev e Moscou numa época em que mudanças estavam acontecendo na Igreja ortodoxa russa. Essas mudanças fizeram que a elite do clero russo adotasse modelos ucranianos de piedade, mas também deflagraram uma comoção religiosa que acabou levando ao cisma. Já na época do tsar Michael houve sintomas de renovação na Igreja. Elevaram-se vozes entre o clero reclamando que os sacerdotes russos não faziam o bastante para levar o ensinamento ortodoxo às suas congregações. Ninguém contestava a centralidade da liturgia, mas os reformadores pediam uma pregação mais sistemática e isso significava um clero mais instruído e uma literatura religiosa mais variada. À época da ascensão do tsar Aleksei ao trono, o líder da nova tendência era seu pai espiritual Stefan Vonifat’ev, e o grupo incluía Nikon, o metropolita de Novgorod, e Avvakum, sacerdote de uma aldeia da região do Volga que havia se tornado arquissacerdote de uma das principais igrejas de Moscou. Eles estavam na graça do tsar, mas até 1652 fizeram pouco progresso.
O contato intensificado com os ortodoxos em terras ucranianas havia dado aos russos novas ideias, visto que os ucranianos estavam empenhados numa batalha contínua para defender a ortodoxia, reforçando-a nos espíritos e corações dos crentes. Na Academia de Kiev, o clero ucraniano recebia um novo tipo de educação, desconhecido na Rússia, derivado de modelos jesuítas. Ela enfatizava a língua e a retórica, as artes da persuasão e a filosofia. A Academia de Kiev ensinava aos seus pupilos não somente o eslavo, mas também o latim, que ainda era a língua da erudição na Europa, tanto católica quanto protestante. Em 1649, o tsar Aleksei trouxe o primeiro grupo de monges ucranianos para Moscou para lecionar e também ajudar na edição e publicação dos textos litúrgicos e devocionais. Quando o patriarca Iosif morreu em 1652, o clero, por insistência do tsar, elegeu Nikon para substituí-lo. O patriarca Nikon assumiu com especial fervor o exame dos livros litúrgicos e começou a publicar em 1653 livros litúrgicos com textos corrigidos. Essas correções eram feitas para adequar os textos russos às versões gregas (e ucranianas), que ele considerava mais fidedignas. As novas versões também ditavam algumas mudanças nas práticas devocionais diárias, como a maneira de fazer o sinal da cruz. Durante alguns séculos, os russos o haviam feito esticando o indicador e o dedo médio (para simbolizar a natureza dual de Cristo) e dobrando os outros três, enquanto os gregos mantinham dobrados os primeiros dois dedos e o polegar (representando a Trindade). Nikon, no entanto, prescreveu a prática grega, argumentando que a versão russa ofendia a Trindade. Como a tradição russa (e a grega antiga) afirmava que o conjunto da liturgia e de todas as práticas associadas recriava o sacrifício de Cristo e não fazia simplesmente alusão a ele, essas pequenas ações tinham importância fundamental. Porém, alguns antigos aliados de Nikon no movimento de reforma sob a liderança do arquissacerdote Avvakum recusaram-se a obedecer. Avvakum relatou mais tarde que ouvira falar das mudanças durante a semana da Páscoa em 1653 e “vimos que o inverno estava a caminho - os corações congelaram e as pernas começaram a tremer”. Como Avvakum insistiu na recusa de obedecer e começou a pregar contra os novos livros, Nikon e o tsar mandaram ele e seus seguidores para o exílio, o mais longe possível na Sibéria, a leste do lago Baikal.
O exílio de Avvakum e seus poucos seguidores entre o clero em 1655 pareceu pôr fim à controvérsia. As reformas da liturgia de Nikon e seu patrocínio dos professores e eruditos ucranianos em Moscou continuaram. Nikon era uma figura poderosa e uma personalidade que não tolerava nenhuma oposição ou ofensa percebida. Em 1658, um dos favoritos do tsar insultou o criado de Nikon numa recepção dada a um príncipe georgiano em visita, e Nikon anunciou que se retiraria do trono patriarcal. Ele esperava talvez uma desculpa do tsar e do boiardo em questão, mas elas não aconteceram. Nikon retirou-s

No final do século XV, a Rússia passou a existir como Estado, e não mais um simples grupo de principados inter-relacionados. Exatamente nessa época, na linguagem escrita o termo moderno Rossia (uma expressão literária emprestada do grego) começou a desbancar o tradicional e vernáculo Rus. Se tivermos de escolher um momento em que o principado de Moscou dá origem à Rússia, este é a anexação final de Novgorod pelo grão-príncipe Ivã III (1462-1505) de Moscou em 1478. Com esse ato, Ivã uniu os dois principais centros políticos e eclesiásticos da Rússia medieval sob um único governante e, na geração seguinte, ele e seu filho Vassíli III (1505-1533) acrescentaram os demais territórios. A oeste e ao norte, as fronteiras que eles fixaram são aproximadamente as da Rússia atual, ao passo que ao sul e a leste a fronteira continuou, na maior parte da sua extensão, a ser a fronteira ecológica entre a floresta e a estepe. Apesar da expansão posterior, esse território formou o núcleo da Rússia até meados do século XVIII e continha a maior parte da população e os centros do Estado e da Igreja. Os russos ainda eram um povo espalhado ao longo dos rios entre grandes florestas.
Ao sul e a leste, sobretudo além das florestas e na vastidão da estepe, os vizinhos da Rússia ainda eram os canatos tártaros que surgiram na década de 1430 do desmantelamento da Horda Dourada: Kazan, a Crimeia na sua península e a Grande Horda, que dominava a estepe. A Grande Horda, por sua vez, desfez-se por volta de 1500 e formou o canato de Astrakhan no baixo Volga e, mais a leste, a Horda Nogai. Mais a leste, o canato da Sibéria reinava sobre a reduzida população da vasta planície dos rios Ob’ e Irtysh. Esses Estados eram organismos sociais complexos. Kazan era o único que ocupava parte da zona de floresta e seu povo instalou-se nas margens dos rios, onde cultivava a terra como os russos, mas com um prolongamento nômade onde a estepe começava a sudeste. Os nogais eram nômades puros. A Crimeia e Astrakhan eram entidades mistas, pois sua população era composta principalmente de habitantes da estepe, mas Astrakhan era uma cidade e a Crimeia tinha cidades e horticultura. Sua localização proporcionava-lhe um comércio ativo e laços políticos estreitos com seu grande vizinho ao sul, o Império Otomano.
Nesse momento os otomanos estavam no auge do seu poder, pois em 1453 Mehmed, o Conquistador, já senhor da maior parte da Anatólia e dos Bálcãs, tomou Constantinopla, a antiga capital de Bizâncio. Em 1516 os turcos avançaram para o sul, capturando rapidamente o Levante e o Egito, o Norte da África e a Mesopotâmia. Portanto, nascia o último grande império da Eurásia Ocidental, e ele logo voltou sua atenção para a Europa Central. Em 1524, a derrota da Hungria na batalha de Mohacs abriu o caminho para a Alemanha e, em 1529, os otomanos sitiaram Viena. Naquela época, os turcos otomanos davam pouca atenção à Rússia. Seus grandes adversários eram o Irã e o Sacro Império Romano, e de qualquer forma os crimeanos, vassalos dos otomanos a partir de 1475, eram um obstáculo entre a Rússia e os turcos. Os sultões em Istambul queriam a cavalaria crimeana para as guerras turcas na Hungria e no Irã e não pretendiam desperdiçá-la em expedições contra um Estado menor no norte distante. Por outro lado, os sultões davam aos seus vassalos crimeanos considerável liberdade de ação, e Ivã III conseguiu chegar a um entendimento com os crimeanos que durou até o século XVI. A Rússia continuou a desempenhar um papel capital na política da estepe, enviando e recebendo emissários e envolvendo-se nas intermináveis disputas e rivalidades entre as dinastias e clãs reinantes.
A oeste a Rússia só tinha um rival importante, a Lituânia, agora unida à Polônia. O Estado polaco-lituano resultante era a potência hegemônica do Leste Europeu, mais populosa que a Rússia e mais poderosa que qualquer um dos seus vizinhos. A Polônia, por ter vencido os Cavaleiros Teutônicos e repelido os tártaros e turcos em direção ao sul, agora só tinha a Rússia como rival. O poder da Polônia provinha não somente da fraqueza da maioria dos vizinhos, mas também da sua estrutura política, pois o papel crescente da dieta proporcionava um papel de destaque aos magnatas e à nobreza. A dieta dava às elites uma participação importante na prosperidade do Estado, mas um rei forte ainda garantia a ordem e direção básica. Essa constituição levaria mais tarde à ruína, mas em 1500 ela era mais resistente que as dos vizinhos e os Exércitos poloneses conseguiam dominar o campo de batalha contra a maioria dos inimigos.
Os outros vizinhos da Rússia a oeste tinham pouca importância. A Ordem Livoniana era demasiado pequena e descentralizada para ter peso nos assuntos políticos, e a Suécia (incluindo a Finlândia) fez parte do reino unido da Dinamarca, Noruega e Suécia até 1520. 0 centro de gravidade dos três reinos era a Dinamarca, que estava longe demais a oeste para dar muita atenção à remota fronteira com a Finlândia e a Rússia. O comércio continuou por meio da Livônia e da Finlândia e até aumentou em importância, mas com pouco efeito político global.
A situação dos seus vizinhos permitiu que a Rússia despontasse no cenário da política europeia num momento excepcionalmente favorável. Os canatos tártaros estavam preocupados uns com os outros e com os otomanos, enquanto a Livônia e a Suécia, por motivos muito diferentes, não chegavam a tirar o sono dos russos. A Rússia tinha apenas um rival importante, a Polônia-Lituânia, o foco principal da sua política externa. Esse rival era poderoso o bastante para representar um desafio para o novo Estado de Ivã III, um desafio que ele geriu com grande habilidade.
O novo Estado russo que surgiu no final do século XV era muito maior e mais complexo que o principado medieval de Moscou, mesmo nas suas fases mais tardias. O novo Estado exigia novas instituições e terminologia. O grão-príncipe começou a intitular-se “Soberano de Todas as Rússias” ou mesmo “autocrata”, este para indicar sua independência recente da Horda e de quaisquer outros pretendentes. Ivã III não reinava só, como tampouco fizeram seus predecessores. A elite governante da Rússia incluía agora principelhos e boiardos dos territórios recém-adquiridos, além de príncipes Iaroslav e Rostov e de Gediminovichi lituanos. Todos eles formavam uma elite governante expandida em torno do príncipe de Moscou. Por enquanto essa nova elite era pequena, já que, na época de Ivã III, ela comportava somente cerca de 18 famílias, mas aumentou para cerca de 45 por volta de 1550. A maioria dos homens mais velhos desses clãs compunha a Duma, ou conselho do grão-príncipe, e detinha o título de boiardo, ou de um tipo de boiardo subalterno com o título intraduzível de “okol’nichiiA Duma, que mal chegava a ser uma instituição formal, reunia-se com o príncipe no palácio e discutia as questões importantes do Direito e da administração, da guerra e da paz. Os homens desses clãs governantes obtinham o título de boiardo e outros títulos e cargos por tradição e por um complexo sistema de precedência (“mestnichestvo”, em russo) que regulava seu lugar na hierarquia militar, da corte e do governo. O sistema de precedência ordenava que nenhum homem servisse o príncipe num grau e cargo inferiores ao que tiveram seus antepassados.
O grão-príncipe tinha uma certa margem de manobra com o sistema de precedência, pois este não ditava exatamente quem em cada clã devia receber qual título. O sistema exigia apenas que alguns dos homens de cada uma das grandes famílias recebessem certos títulos e que o mais alto tivesse assento na Duma e obtivesse o título de boiardo. Em tese, os príncipes podiam nomear qualquer um para a Duma, mas na prática eles escolhiam membros das mesmas famílias ano após ano, acrescentando novos membros apenas ocasionalmente. Esses homens eram não somente servidores do príncipe, mas também aristocratas imensamente ricos com grandes propriedades - a nata de uma classe muito maior de proprietários rurais. A principal obrigação do nobre russo era servir no Exército, sobretudo na fronteira, pois a administração do Estado estava nas mãos de um grupo seleto de oficiais e servidores principescos.
Alguns desses oficiais eram grandes boiardos, como os tesoureiros, geralmente escolhidos dentre o clã grego Khovrin, ou o mordomo e o escudeiro, que administravam o palácio do Kremlin e a família do príncipe. Para auxiliar esses aristocratas havia também secretários, homens de condição inferior da família do príncipe, que às vezes eram de origem tártara. A maioria deles servia no Tesouro, onde cerca de uma dúzia de escrivães e copistas mantinham os registros da política externa e as cartas e testamentos dos príncipes, cuidadosamente preservados junto com peles, joias, recibos de impostos em prata e outros tesouros no porão da igreja do palácio do Kremlin, a catedral da Anunciação. Na época de Ivã III, havia apenas poucas dúzias desses secretários, o Estado ainda era essencialmente a família do príncipe e seus escritórios eram salas do palácio.
Apesar do seu papel dominante na política russa, o Kremlin e sua elite não eram a totalidade da Rússia. Muitos milhões de camponeses, quase todos eles ainda livres e a maioria deles arrendatários somente da Coroa, compunham a grande massa da população. Eles produziam alimento, criavam vacas e galinhas e complementavam seu parco sustento com os bagos, os cogumelos e a caça das grandes florestas. Sua condição de arrendatários da Coroa, porém, aproximava-se rapidamente do fim à medida que os grandes mosteiros e os boiardos apoderavam-se de suas terras. O grão-príncipe precisava recompensar seus seguidores fiéis, especialmente nos territórios recém-anexados, além de manter a Cavalaria do Exército. O Exército tinha de se manter por conta própria, das terras particulares dos cavaleiros. Os príncipes ainda careciam de dinheiro para pagá-los e, portanto, não era meramente para angariar favores que os príncipes concediam terras. A única restrição que eles podiam impor a essas concessões era fazê-las com a condição de que a propriedade não pudesse ser vendida ou deixada em testamento sem o conhecimento do príncipe. Esse tipo de concessão era chamado pomeste, e tanto grandes boiardos quanto humildes provincianos recebiam essas terras. A classe fundiária dos cavaleiros dividia-se em dois grandes grupos: a “corte do soberano”, que servia em Moscou (pelo menos em tese) imediatamente abaixo dos boiardos, e a “aristocracia da cidade” das províncias. A “aristocracia da cidade” costumava deter terras principalmente em uma área local e servia junto na cavalaria. A elite do Exército era a corte do soberano. O crescimento do Estado e do seu Exército implicava uma reformulação constante da organização da aristocracia fundiária, mas as linhas básicas que começaram a se formar no final do século XV permaneceram até o final do XVI. Depois disso, o sistema pomeste estendeu-se para as fronteiras meridionais, o que aumentou consideravelmente a classe fundiária às custas dos camponeses livres. Essa nova situação contribuiu grandemente para os tumultos das décadas seguintes.
A aristocracia residia sobretudo nas cidades, a maioria das quais eram pequenas, e os boiardos viviam em Moscou. Poucos centros - Moscou, Novgorod e Pskov - eram verdadeiras cidades, as quais recebiam mercadores que comerciavam com a Europa Ocidental ou o Oriente Próximo. Embora fosse uma economia majoritariamente agrária, a Rússia não era desprovida de artesanato ou comércio, nem era uma terra de camponeses de subsistência isolada de todos os mercados. O tamanho colossal do país e a população esparsa ditavam as trocas entre as regiões: quase todo o sal, por exemplo, vinha de fontes salinas no cinturão da taiga setentrional até o final do século XVII. Os homens que ferviam a água para fazer sal e enviá-lo ao sul fizeram grandes fortunas. Os mais notáveis eram os Stroganovs, que amealharam uma fortuna grande o bastante para financiar os primeiros passos da conquista da Sibéria. Novgorod e sua vizinha Pskov continuavam a ser centros importantes do comércio com a Europa Setentrional através do mar Báltico, mas sua capacidade era limitada pelos rios pequenos e pela ausência de grandes portos no extremo Oriente do golfo da Finlândia. Foi então que, em 1553, o capitão de mar e explorador inglês Richard Chancellor contornou a Noruega até o mar Branco e desembarcou na foz do rio Dvina Setentrional. Essa expedição abriu um caminho direto para os grandes navios até a Europa Ocidental, e o tsar Ivã, o Terrível, incentivou a Companhia de Moscóvia inglesa a levar seus navios todo verão para o porto setentrional. O Dvina e outros rios tornaram possível a longa jornada de Moscou até o novo porto de Arcangel, e aos ingleses logo se juntaram os ainda mais empreendedores holandeses. Moscou era a plataforma de todo o comércio russo e a cidade cresceu rapidamente durante o século XVI. O comércio com a Rússia não era desprezível para os holandeses e ingleses, haja vista que, por volta de 1600, os holandeses envolvidos no comércio com Arcangel haviam ganhado tanto dinheiro que puderam constituir uma nova companhia, a Companhia das índias Orientais holandesa, que mais tarde foi conquistar o que é hoje a Indonésia. O comércio com a Rússia financiou em parte a maior aventura comercial da Holanda.
Contra esse pano de fundo de mudança social e evolução econômica, os governantes da Rússia e sua corte não ficaram ociosos. Durante toda a sua vida, Ivã III travou uma luta incansável para expandir o poder e o território dos grão-príncipes de Moscou. A anexação de Novgorod foi sua maior vitória, mas não a única. Ele explorou a insatisfação dos principelhos regionais da Lituânia ao longo da sua fronteira ocidental de modo a incentivar vários deles a aceitarem sua soberania, além de completar e confirmar essas aquisições pela guerra. Ele absorveu Tver’, a antiga rival de Moscou, em 1485 e estabeleceu sua influência sobre os dois últimos territórios independentes de Riazan e Pskov, de modo que seu filho pôde mais tarde anexá-los sem esforço. Igualmente importante foi o fato de que ele pôs fim aos dois séculos e meio de dependência russa das Hordas tártaras. Em 1480 o khan da Grande Horda mandou seu Exército para o norte em direção a Moscou. Ivã e muitos dos seus boiardos hesitaram, sem saber se deviam ir de encontro aos tártaros ou simplesmente fugir para o norte. Com um ligeiro incentivo da Igreja, ele marchou para enfrentá-los no rio Ugra, um pequeno tributário do alto Don. Depois de alguns dias observando-se mutuamente, os dois Exércitos voltaram para casa. Esse evento, o “confronto no Ugra”, passou a ser visto para sempre na Rússia como o fim do domínio tártaro. Ivã avançou agressivamente sobre o espaço deixado pela fragmentação da Horda e envolveu-se na política dinástica de Kazan. Com o tempo, as intrigas de Ivã com os tártaros teriam consequências importantes.
Ivã III de Moscou começou a intitular-se governante de “Todas as Rússias”, mas seu novo e maior Estado exigia uma capital mais bem defendida e adequada. Para tanto, Ivã recorreu à Itália, o centro europeu da arquitetura, bem como da engenharia e fortificação. Ele já tinha tido contato com a Itália desde a época do seu casamento em 1473 com Zoé Paleóloga, filha do último governante bizantino do Peloponeso, pois ela havia se refugiado dos turcos na corte papal. Havia igualmente outros gregos em Moscou que tinham intenso contato com seus compatriotas e parentes na Itália, e por meio deles Ivã mandou chamar arquitetos e engenheiros para reconstruir o Kremlin de Moscou e suas igrejas. O resultado foi que o Kremlin, a quintessência da Rússia aos olhos modernos, com suas antigas igrejas e torres pontudas de tijolo vermelho escuro, não foi obra de nenhum russo, mas (com poucas exceções) de mestres italianos.
O antigo Kremlin do século XIV tinha paredes de granito branco no estilo nativo habitual das fortalezas russas, e para dentro das muralhas havia habitações de madeira para príncipes e boiardos, bem como igrejas de pedra. Ivã não queria modificar a forma básica das igrejas. A forma continha um significado espiritual que um plano ocidental não poderia ter. Aristotele Fioravanti de Bolonha resolveu o problema ao construir uma nova e maior catedral da Dormição no Kremlin com técnica italiana mas forma russa. Então ele e outros, dentre os quais Marco Ruffo e Pietro Antonio Solari de Milão, Aloisio da Caresano e mais, começaram a trabalhar nas muralhas. Um dos construtores escreveu para um irmão em Milão que o príncipe de Moscou queria um castelo “como o de Milão” (referindo-se ao castelo Sforza) e foi mais ou menos isso o que o príncipe recebeu. Eles também iniciaram um novo palácio no estilo italiano setentrional, partes do qual ainda restam. Somente as igrejas foram construídas no estilo russo tradicional, ainda que por construtores italianos, com a única exceção da catedral da Anunciação, a capela do palácio. Atualmente o trabalho dos italianos é visível apenas nas muralhas e na “Casa das Facetas”, uma das principais salas de audiência. Os outros fragmentos do velho palácio e os elementos renascentistas das igrejas foram fortemente “russificados” por reparos posteriores. De fato, o acréscimo de telhados pontudos nas torres ao longo da muralha no século XVII ocultou o modelo milanês, mas em 1520 o palácio e as muralhas deviam ter um aspecto realmente muito italiano.
A nova Rússia com seu Kremlin italianizado pode ter tirado sua arquitetura, ainda que por uma única geração, da Itália, mas permaneceu ortodoxa na religião e sua cultura continuou firmemente religiosa. O contexto da ortodoxia, porém, havia se modificado, pois a emergência do novo Estado havia sucedido rapidamente a uma mudança capital na situação da Igreja Ortodoxa, o estabelecimento da autocefalia em 1448. A nova situação da Igreja e da Rússia exigia uma nova concepção do lugar da Rússia no plano divino da salvação e, já na época do “confronto no Ugra” de Ivã III, em 1480, a Igreja havia achado a resposta. A Rússia devia ser entendida como a “nova Israel”, os russos eram o novo povo eleito e sua capital em Moscou, a nova Jerusalém. Como os antigos israelitas, os russos eram o povo escolhido por Deus na terra para receber a verdadeira fé. Como a antiga Israel a Rússia estava cercada de todos os lados por inimigos ímpios, os suecos e poloneses católicos a oeste e os tártaros muçulmanos ao sul e a leste. Era essencial para a sua sobrevivência, como para a antiga Israel, a firme adesão à verdadeira fé em Deus e a obediência escrupulosa aos seus mandamentos. Tal fé e comportamento garantiriam a sobrevivência, pois Deus entregaria os inimigos nas suas mãos, como ele havia feito para o rei Davi. Se eles se mantivessem fiéis, evitariam o destino da antiga Israel até que Cristo voltasse à terra.
Contudo, manter a verdadeira fé nos últimos anos do reinado de Ivã III tornara-se um problema sério. Pela primeira vez desde a conversão de São Vladimir em 988, a Igreja russa viu-se enfrentando adversários no seu interior e foi acometida por disputas internas acerca do sistema da crença. Em Novgorod um pequeno grupo do clero passou a questionar a formulação ortodoxa da noção da divindade de Cristo, as formas comuns de devoção envolvendo ícones e o próprio monasticismo. Como eles parecem ter questionado as noções cristãs da Trindade, seus adversários, sobretudo São José de Volokolamsk, tacharam-nos de judaizantes, exagerando sua dissensão e caluniando-os como inimigos do cristianismo. O grupo angariou alguns seguidores em Moscou, até entre os oficiais dos escritórios do Kremlin, antes de ser suprimido em 1503 e ter seus líderes queimados como heréticos. Foram as primeiras execuções desse tipo por heresia na história russa. A Igreja não encontrou nenhuma defesa dessas ações nas suas tradições e teve de recorrer ao Ocidente, a uma descrição da Inquisição espanhola tirada das palavras do embaixador imperial, para justificar as execuções.
Mais difundida foi a controvérsia sobre a vida monástica que surgiu ao mesmo tempo e durou uma geração. Essa disputa estava longe de ser um debate obscuro entre monges, pois o monasticismo ainda era central para a ortodoxia nesse momento em que ela saía do período medieval. O próprio Kremlin comportava o mosteiro do Milagre de São Miguel Arcanjo e o convento da Ascensão, cujas atividades faziam parte integral da vida da corte. A cidade de Moscou tinha dezenas de pequenos mosteiros dentro de suas muralhas e vários grandes mosteiros logo do lado de fora. A apenas um dia de viagem para o norte, o mosteiro da Trindade de São Sérgio era o local da peregrinação anual de toda a corte para o festival do santo em setembro. Toda cidade russa de alguma importância exibia um ou dois mosteiros dentro ou em torno dela. Durante a maior parte da primeira metade do século XVI, monges russos discutiram o tipo adequado de vida monástica e alguns deles enfatizaram o ascetismo individual e a vida comunitária. Ambos estilos faziam parte da tradição ortodoxa, exemplificada na obra e no ensinamento de São José de Volokolamsk e de Nil Sorskii. Alguns dos seguidores póstumos de Nil acabaram por questionar a própria ideia da propriedade monástica como obstáculo para uma vida santa.
Essa controvérsia era puramente russa, mas a Igreja não estava inteiramente isolada do mundo. A fratria ortodoxa ainda compunha a maior parte da população dos Bálcãs sob domínio turco e os grandes mosteiros do monte Athos ofereciam liderança espiritual. O escritor mais prolífico de temas religiosos no início do século XVI na Rússia era na verdade um grego, chamado Michael Trivolis (1470-1556), que na vida monástica assumiu o nome de Máximo. Maksim, o Grego, como era conhecido na Rússia, passara a juventude em Veneza e Florença, mas finalmente rejeitou a cultura secular do Renascimento para aderir ao monasticismo ortodoxo. Nessa decisão ele imitou Savonarola, cujo ensinamento ele conhecia. Na Rússia ele produziu uma coleção enciclopédica de panfletos e ensaios sobre temas que iam dos erros do Islã à posição correta sobre a propriedade monástica. Sua crítica branda dessa prática e de outros desvios das noções então dominantes entre o alto clero levou à sua condenação e exílio na década de 1530, mas até no exílio ele permaneceu uma figura capital na Igreja e, por fim, o jovem Ivã IV ordenou que ele fosse solto. Seus escritos foram amplamente copiados e continuaram a ter autoridade sobre muitos temas no século seguinte.
O sucessor de Ivã III, Vassíli III (1505-1533), ascendeu ao trono não como o filho mais velho, mas como resultado da decisão de Ivã de dá-lo a ele. Ele era filho da segunda esposa de Ivã, a grega Sofia Paleóloga, e Ivã escolheu-o, depois de alguma hesitação, em detrimento do seu neto descendente de sua primeira esposa (seu filho da sua primeira esposa havia morrido). Grande parte do esforço de Vassíli seria dedicada a manter e expandir a posição da Rússia no mundo. A rivalidade territorial com a Polônia-Lituânia terminou numa guerra que foi vitoriosa para a Rússia com a captura de Smolensk em 1514. Smolensk era o último território etnicamente russo fora do domínio de Moscou e, além disso, sua conquista proporcionou ao Estado uma fortaleza importante no oeste distante de Moscou. Embora a guerra tenha terminado somente com uma trégua, ela fixou a fronteira russo-polonesa por um século. As relações com os canatos tártaros, ao contrário, envolviam uma cadeia desconcertante de intrigas e contraintrigas, além de intermináveis incursões tártaras para obter escravos e butim na fronteira sul. Por volta dessa época, Vassíli adotou a prática de mobilizar o Exército na fronteira sul todo verão, quer houvesse um estado de guerra formal quer não, pois não havia outra maneira de impedir as incursões anuais que representavam uma parte importante da economia nômade.
Todavia, o maior desafio de Vassíli não veio dos tártaros ou da Polônia, mas dos seus próprios problemas dinásticos. Como primeira esposa ele havia tomado Solomoniia Saburova, que não era uma princesa estrangeira como sua mãe, mas filha de um proeminente boiardo. O casamento foi bem-sucedido em todos aspectos, menos o fundamental: não houve filhos.
Depois de muita controvérsia e consultas com a Igreja, ele forçou Solomoniia a entrar para um convento e finalmente dissolveu o casamento em 1525. Vassíli casou-se então com a princesa Elena Glinskaia, filha de um príncipe lituano cujo clã havia se refugiado em Moscou depois de ter fracassado em desafiar seu próprio soberano. Os Glinskiis continuaram a ser uma família poderosa no seu exílio russo e alegavam descender do emir tártaro Yedigei, um grande guerreiro que havia lutado contra Tamerlão no início do século XV. Em 1530, Elena deu à luz o seu filho Ivã, que passaria para a história como Ivã, o Terrível.



O problema de saber por que e como uma pessoa pode ficar doente de uma neurose acha-se certamente entre aqueles aos quais a psicanálise deveria oferecer uma solução, mas provavelmente será preciso encontrar primeiro solução para outro problema, mais restrito – a saber, por que é que esta ou aquela pessoa tem de cair enferma de uma neurose específica e de nenhuma outra. Este é o problema da ‘escolha da neurose’.
O que sabemos, até o presente, sobre este problema? Estritamente falando, apenas uma única proposição geral pode ser asseverada com certeza sobre o assunto. Lembrar-se-á que dividimos os determinantes patogênicos que estão envolvidos nas neuroses em aqueles que uma pessoa traz consigo, para a sua vida, e aqueles que a vida lhe traz – o constitucional e o acidental – mediante cuja operação combinada, somente, o determinante patogênico é via de regraestabelecido. Além disso, a proposição geral, à que aludi acima, estabelece que os motivos para determinar a escolha da neurose são inteiramente do primeiro tipo – isto é, que eles têm caráter de disposições e são independentes de experiências que operam patogenicamente.
Onde devemos procurar a fonte destas disposições? Tornamo-nos cientes de que as funções psíquicas envolvidas – sobretudo a função sexual, mas também várias importantes funções do ego – têm de passar por um longo e complicado desenvolvimento, antes de chegar ao estado característico do adulto normal. Podemos presumir que estes desenvolvimentos não são sempre tão serenamente realizados que a função total atravesse esta modificação regular progressiva. Onde quer que uma parte dela se apegue a um estádio anterior resulta o que se chama ‘ponto de fixação’, para o qual a função pode regredir se o indivíduo ficar doente devido a alguma perturbação externa.
Assim, nossas disposições são inibições de desenvolvimento. Somos corroborados nesta opinião pela analogia dos fatos da patologia geral de outras moléstias. Entretanto, ante a questão de saber que fatores podem ocasionar tais distúrbios de desenvolvimento, o trabalho da psicanálise se interrompe: ela deixa o problema para a pesquisa biológica.
Já há alguns anos arriscamo-nos, com o auxílio destas hipóteses, a abordar o problema da escolha da neurose. Nosso método de trabalho, que visa a descobrir condições normais pelo estudo de suas perturbações, levou-nos a adotar uma linha de ataque muito singular e inesperada. A ordem em que as principais formas de psiconeurose são geralmente enumeradas – Histeria, Neurose Obsessiva, Paranóia, Demência Precoce – corresponde (ainda que não de modo inteiramente exato) à ordem das idades em que o desencadeamento destas perturbações ocorre. Formas histéricas de doença podem ser observadas mesmo na mais primitiva infância; a neurose obsessiva geralmente apresenta seus primeiros sintomas no segundo período da infância (entre as idades de seis e oito anos); enquanto as outras duas psiconeuroses, que reuni sob o título de ‘parafrenia’, não aparecem senão depois da puberdade e durante a vida adulta. Estes distúrbios – os últimos a surgir – foram os primeiros a se mostrar acessíveis a nossa indagação sobre as disposições que resultam na escolha da neurose. As características peculiares a ambos – megalomania, afastamento do mundo dos objetos, dificuldade aumentada na transferência – obrigaram-nos a concluir que sua fixação disposicional deve ser procurada num estádio de desenvolvimento libidinal antes de a escolha objetal ter-se estabelecido – isto é, na fase do auto-erotismo e do narcisismo. Assim, estas formas de moléstia, que fazem seu aparecimento tão tardiamente, remontam a inibições e fixações muito primitivas. Isto, por conseguinte, nos levaria a supor que a disposição à histeria e à neurose obsessiva, as duas neuroses de transferência propriamente ditas, que produzem seus sintomas bem cedo na vida, reside em fases posteriores de desenvolvimento libidinal. Mas em que ponto delas deveríamos encontrar uma inibição desenvolvimental? E, acima de tudo, qual seria a diferença de fases que determinaria uma disposição para a neurose obsessiva, em contraste com a histeria? Por longo tempo, nada deveria se aprender sobre isto, e minhas primeiras tentativas de descobrir estas duas disposições – a noção, por exemplo, de que a histeria poderia ser determinada pela passividade e a neurose obsessiva pela atividade, na experiência infantil – teve de ser logo abandonada, por incorreta.
Apoiar-me-ei agora, mais uma vez, na observação clínica de um caso individual. Durante longo período estudou uma paciente cuja neurose experimentou uma mudança fora do comum. Começou, após uma experiência traumática, como uma histeria direta de ansiedade e manteve esse caráter por alguns anos. Certo dia, contudo, subitamente, transformou-se numa neurose obsessiva do tipo mais grave. Um caso desta espécie não poderia deixar de ser significativo em mais de um sentido. Por um lado, poderia talvez reivindicar ser encarado como um documento bilingual e demonstrar como um conteúdo idêntico pode ser expresso, pelas duas neuroses, em linguagens diferentes. Por outro lado, ameaçava contradizer completamente nossa teoria de que a disposição origina-se da inibição do desenvolvimento, a menos que estivéssemos preparados para aceitar a suposição de que uma pessoa poderia possuir congenitamente mais de um ponto fraco em seu desenvolvimento libidinal. Disse a mim mesmo que não tínhamos o direito de desprezar esta última possibilidade, mas achava-me grandemente interessado em chegar a uma compreensão do caso.
Quando, no decurso da análise, isto aconteceu, fui forçado a ver que a situação era inteiramente diferente do que havia imaginado. A neurose obsessiva não constituía outra reação ao mesmo trauma que primeiramente provocara a histeria de ansiedade; era uma reação a uma segunda experiência, que havia apagado completamente a primeira. (Aqui, então, temos uma exceção – embora, é verdade, uma exceção não indiscutível – à nossa proposição que afirma que a escolha da neurose é independente da experiência [ver em [1]].)
Infelizmente, acho-me incapacitado, por razões familiares, para ingressar na história do caso até onde gostaria de fazê-lo e tenho de restringir-me à descrição que se segue. Até a ocasião em que caiu doente, a paciente fora uma esposa feliz e quase completamente satisfeita. Queria ter filhos, por motivos baseados numa fixação infantil de seus desejos, e adoeceu quando soube que era impossível tê-los do marido que era o único objeto de seu amor. A histeria de ansiedade com que reagiu a esta frustração correspondia, como ela própria logo aprendeu a compreender, ao repúdio de fantasias de sedução em que seu firmemente implantado desejo de um filho encontrava expressão. Ela então fez tudo o que pôde para impedir que o marido adivinhasse que caíra enferma devido à frustração de que era a causa. Mas tenho boas razões para asseverar que todos possuem, em seu próprio inconsciente, um instrumento com que podem interpretar as elocuções do inconsciente das outras pessoas. O marido compreendeu, sem qualquer admissão ou explicação da parte dela, o que a ansiedade de sua esposa significava; sentiu-se magoado, sem demonstrá-lo, e, por sua vez, reagiu neuroticamente, fracassando – pela primeira vez – nas relações sexuais com ela. Imediatamente depois, partiu para uma viagem. A esposa acreditou que ele se havia tornado permanentemente impotente e produziu seus primeiros sintomas obsessivos no dia anterior ao seu esperado regresso.
O conteúdo de sua neurose obsessiva era uma compulsão por lavagem e limpeza escrupulosas, bem como medidas protetoras extremamente enérgicas contra danos graves que pensava que outras pessoas tinham razão para temer dela – isto é, formações reativas contra seus próprios impulsos anal-eróticos e sádicos. Sua necessidade sexual foi obrigada a encontrar expressão nestas formas, após sua vida genital ter perdido todo o valor devido à impotência do único homem que lhe poderia importar.
Este é o ponto de partida do pequeno e novo fragmento da teoria que formulei. Naturalmente, é apenas na aparência que ela se baseia nesta observação determinada; na realidade, reúne grande número de impressões anteriores, embora uma compreensão delas só tenha sido possibilitada por esta última experiência. Disse a mim mesmo que meu quadro esquemático do desenvolvimento da função libidinal exigia uma inserção suplementar. Para começar, havia apenas distinguido, primeira, a fase do auto-erotismo, durante a qual os instintos parciais do indivíduo, cada um por sua conta, buscam a satisfação de seus desejos no próprio corpo, e, depois, a combinação de todos os instintos componentes para a escolha de um objeto, sob a primazia dos órgãos genitais a agir em nome da reprodução. A análise das parafrenias, como sabemos, tornou necessária a inserção entre elas de um estádio de narcisismo, durante o qual a escolha de um objeto já se realizou, mas esse objeto coincide com o próprio ego do indivíduo. E agora vemos a necessidade de outro estádio ainda ser inserido, antes que a forma final seja alcançada, um estádio no qual os instintos componentes já se reuniram para a escolha de um objeto e este objeto é já algo extrínseco, em contraste com o próprio eu (self) do sujeito, mas no qual a primazia das zonas genitais ainda não foi estabelecida. Pelo contrário, os instintos componentes que dominam esta organização pré-genital da vida sexual são anal-erótico e o sádico.
Estou ciente de que tais hipóteses soam estranhas a princípio. É somente descobrindo suas relações com nosso conhecimento anterior que elas se nos tornam familiares; e, no final, é muitas vezes sua sina serem encarados como inovações menores e há muito tempo previstas. Voltemos-nos, portanto, com previsões como estas, para um exame da ‘organização sexual pré-genital’.
(a) O papel extraordinário desempenhado por impulsos de ódio e erotismo anal na sintomatologia da neurose obsessiva já impressionou muitos observadores e foi recentemente enfatizado, com particular clareza, por Ernest Jones (1913). Isto decorre diretamente de nossa hipótese, se supomos que, nessa neurose, os instintos componentes em apreço mais uma vez assumiram a representação dos instintos genitais, dos quais foram precursores no processo de desenvolvimento. Neste ponto, ajunta-se uma parte de nossa história clínica, que até agora havia escondido. A vida sexual da paciente começou, em sua mais remota infância, com fantasias de espancamento. Após estas haverem sido suprimidas, estabeleceu-se um período de latência inusitadamente longo, durante o qual passou por um período de crescimento moral exaltado, sem qualquer despertar das sensações sexuais femininas. O casamento, que se realizou muito cedo, iniciou uma época de atividade sexual normal. Este período, durante o qual ela foi uma esposa feliz, continuou por vários anos, até que sua primeira grande frustração provocou a neurose histérica. Quando isto foi seguido pela perda de valor de sua vida genital, a vida sexual, como já disse, retornou ao estádio infantil do sadismo.
Não é difícil determinar a característica que distingue este caso de neurose obsessiva daqueles mais frequentes que começam bem cedo e depois seguem um curso crônico, com exacerbações de tipo mais ou menos marcante. Nestes outros casos, uma vez estabelecida a organização sexual que contém a disposição à neurose obsessiva, ela, depois, nunca mais é completamente superada; em nosso caso, para começar, ela foi substituída pelo estádio mais alto de desenvolvimento e depois reativada, por regressão, a partir deste último.
(b) Se desejarmos colocar nossa hipótese em contato com linhas biológicas de pensamento, não devemos esquecer que a antítese entre masculino e feminino, que é introduzida pela função reprodutora, não pode ainda estar presente no estádio da escolha objetal pré-genital. Encontramos, em seu lugar, a antítese entre tendências com objetivo ativo e com objetivo passivo, a qual, posteriormente, se torna firmemente ligada à existente entre os sexos. A atividade é suprida pelo instinto comum de domínio, que chamamos sadismo quando o encontramos a serviço da função sexual; e, mesmo na vida sexual normal plenamente desenvolvida, ele tem importantes serviços subsidiários a desempenhar. A tendência passiva é alimentada pelo erotismo anal, cuja zona erógena corresponde à antiga e indiferenciada cloaca. Uma acentuação deste erotismo anal no estádio pré-genital de organização deixa atrás de si uma predisposição significante ao homossexualismo, nos homens, quando o estádio seguinte da função sexual, a primazia dos órgãos genitais, é atingido. A maneira pela qual esta última fase é erguida sobre a precedente e a concomitante remodelação das catexias libidinais oferecem à pesquisa analítica os mais interessantes problemas.
Pode-se sustentar a opinião de que todas as dificuldades e complicações envolvidas nisto podem ser evitadas negando-se que haja qualquer organização pré-genital da vida sexual e sustentando que a vida sexual coincide com a função genital e reprodutora e começa com ela. Afirma-se-ia então, considerando as descobertas inequívocas da pesquisa analítica, que, pelo processo de repressão sexual, as neuroses são compelidas a dar expressão a tendências sexuais através de outros instintos, não sexuais, e assim sexualizam estes últimos à guisa de compensação. Mas esta linha de argumento colocar-nos-ia fora da psicanálise. Colocar-nos-á onde nos achávamos antes desta e significaria abandonar a compreensão que a psicanálise nos deu das relações entre saúde, perversão e neurose. A psicanálise sustenta-se ou tomba com o reconhecimento dos instintos componentes sexuais, das zonas erógenas e da ampliação, que assim se torna possível, do conceito de ‘função sexual’, em contraste com a ‘função genital’, mais restrita. Além disso, a observação de desenvolvimento normal das crianças é, em si própria, suficiente para fazer-nos rejeitar qualquer tentação desse tipo.
c) No campo do desenvolvimento do caráter, estamos sujeitos a encontrar as mesmas forças instituais que encontramos em operação nas neuroses. Mas uma nítida distinção teórica entre as duas se faz necessária pelo único fato de que o fracasso da repressão e o retorno do reprimido – peculiares ao mecanismo da neurose – acham-se ausentes na formação do caráter. Nesta, a repressão não entra em ação ou então alcança sem dificuldades reativas e sublimações. Daí os processos da formação de caráter serem mais obscuros e menos acessíveis à análise que os neuróticos.
Mas é precisamente no campo do desenvolvimento do caráter que deparamos com uma boa analogia com o caso que estivemos descrevendo – isto é, uma confirmação da ocorrência da organização sexual pré-genital sádica e anal-erótica. É fato bem conhecido, e que tem dado muito motivo para queixas, que após as mulheres perderem a função genital seu caráter, amiúde, sofre uma alteração peculiar. Tornam-se briguentas, irritantes, despóticas, mesquinhas e sovinas, o que equivale a dizer que apresentam tipicamente traços sádicos e anal-eróticos que não possuíam antes, durante seu período de feminilidade. Os autores de comédias e os satiristas em todas as épocas dirigiram suas invectivas contra o ‘velho dragão’ no qual a moça encantadora, a esposa amante e a terna mãe se transformaram. Podemos ver que esta alteração de caráter corresponde a uma regressão da vida sexual ao estádio pré-genital sádico e anal-erótico, na qual descobrimos a disposição à neurose obsessiva. Ela parece ser, então, não apenas o precursor da fase genital, mas, bastante amiúde, também seu sucessor, seu término, após os órgãos genitais haverem desempenhado sua função.
Uma comparação entre tal mudança de caráter e a neurose obsessiva é muito impressionante. Em ambos os casos, o trabalho da regressão é aparente. Mas enquanto na primeira encontramos uma regressão completa a seguir a repressão (ou supressão) que ocorreu suavemente, na neurose há conflito, um esforço para impedir que a regressão ocorra, formações reativas contra ela e formações de sintomas produzidos por conciliações entre os dois lados opostos, assim como uma divisão (splitting) das atividades psíquicas em algumas que são admissíveis à consciência e outras que são inconscientes.
(d) Nossa hipótese de uma organização sexual pré-genital é incompleta sob dois aspectos. Em primeiro lugar, não leva em consideração o comportamento de outros instintos componentes, com referência aos quais há muita coisa que valeria o exame e a discussão, e contenta-se com acentuar a marcante primazia do sadismo e do erotismo anal. Em particular, ficamos sempre com a impressão de que o instinto do conhecimento pode realmente tomar o lugar do sadismo no mecanismo da neurose obsessiva. Na verdade, ele é, no fundo, uma ramificação sublimada do instinto de domínio, exaltado em algo intelectual, e seu repúdio sob a forma de dúvida desempenha grande papel no quadro da neurose obsessiva.
A segunda lacuna em nossa hipótese é muito mais importante. Como sabemos, a disposição desenvolvimental a uma neurose só é completa se a fase do desenvolvimento do ego em que a fixação ocorre é levada em consideração, assim como a da libido. Mas nossa hipótese só se relacionou com a última, e, portanto, não inclui todo o conhecimento que deveríamos exigir. Os estádios de desenvolvimento dos instintos do ego são-nos presentemente muito pouco conhecidos; só sei de uma tentativa – a altamente promissora, feita por Ferenczi (1913) – de abordar estas questões. Não posso dizer se pode parecer muito precipitado se, com base nas indicações que possuímos, sugiro a possibilidade que uma ultrapassagem cronológica do desenvolvimento libidinal pelo desenvolvimento do ego deve ser incluída na disposição à neurose obsessiva. Uma precocidade deste tipo tornaria necessária a escolha de um objeto sob a influência dos instintos do ego, numa época em que os instintos sexuais ainda não assumiram sua forma final, e uma fixação no estádio da organização sexual pré-genital seria assim abandonada. Se considerarmos que os neuróticos obsessivos têm de desenvolver uma supermoralidade a fim de proteger seu amor objetal da hostilidade que espreita por trás dele, ficaremos incl que, na ordem deinados a considerar um certo grau desta precocidade de desenvolvimento do ego como típico da natureza humana e derivar a condição para a origem da moralidade do fato de desenvolvimento, o ódio é o precursor do amor. É este talvez o significado de uma assertiva da autoria de Stekel (1911a, 536), que na ocasião achei incompreensível de que o ódio, e não o amor, é a relação emocional primária entre os homens.
(e) Decorre, do que foi dito, que resta para a histeria uma relação íntima com a fase final do desenvolvimento libidinal, que se caracteriza pela primazia dos órgãos genitais e pela introdução da função reprodutora. Na neurose histérica, esta aquisição acha-se sujeita à repressão, que não implica regressão ao estádio pré-genital. A lacuna na determinação da disposição, devida à nossa ignorância do desenvolvimento do ego, é ainda mais evidente aqui do que na neurose obsessiva.
Por outro lado, não é difícil demonstrar que uma outra regressão, a um nível mais primitivo, ocorre também na histeria. A sexualidade das crianças do sexo feminino é, como sabemos, dominada e dirigida por um órgão masculino (o clitóris) e amiúde se comporta como a sexualidade dos meninos. Esta sexualidade masculina tem de ser abandonada mediante uma última onda de desenvolvimento, na puberdade, e a vagina, órgão derivado da cloaca, tem de ser elevada à zona erógena dominante. Ora, é muito comum na neurose histérica que esta sexualidade masculina reprimida seja reativada e, então, que a luta defensiva por parte dos instintos egossintônicos seja dirigida contra ela. Mas parece-me cedo demais para ingressar aqui num debate dos problemas da disposição à histeria.

Todo principiante em psicanálise provavelmente se sente alarmado, de início, pelas dificuldades que lhe estão reservadas quando vier a interpretar as associações do paciente e lidar com a reprodução do reprimido. Quando chega a ocasião, contudo, logo aprende a encarar estas dificuldades como insignificantes e, ao invés, fica convencido de que as únicas dificuldades realmente sérias que tem de enfrentar residem no manejo da transferência. Entre as situações que surgem a este respeito, selecionarei uma que é muito nitidamente definida; e selecioná-la-ei, em parte, porque ocorre muito amiúde e é tão importante em seus aspectos reais e em parte devido ao seu interesse teórico. O que tenho em mente é o caso em que uma paciente demonstra, mediante indicações inequívocas, ou declara abertamente, que se enamorou, como qualquer outra mulher mortal poderia fazê-lo, do médico que a está analisando. Esta situação tem seus aspectos aflitivos e cômicos, bem como os sérios. Ela é também determinada por tantos e tão complicados fatores, é tão inevitável e tão difícil de esclarecer, que uma discussão sobre o assunto, para atender a uma necessidade vital da técnica analítica, já há muito se fazia necessária. Mas visto que nós, que rimos das fraquezas de outras pessoas, nem sempre estamos livres delas, até agora não estivemos precisamente apressados em cumprir esta tarefa. Deparamos constantemente com a obrigação à discrição profissional – discrição que não se pode dispensar na vida real, mas que é inútil em nossa ciência. Na medida em que as publicações psicanalíticas também fazem parte da vida real, temos aqui uma contradição insolúvel. Recentemente desprezei esta questão da discrição a certa altura, e demonstrei como esta mesma situação transferencial retardou o desenvolvimento da terapia psicanalítica durante sua primeira década.
Para um leigo instruído (a pessoa civilizada ideal, em relação à psicanálise), as coisas que se relacionam com o amor são incomensuráveis; acham-se, por assim dizer, escritas numa página especial em que nenhum outro texto é tolerado. Se uma paciente enamorou-se de seu médico, parece a tal leigo que são possíveis apenas dois desfechos. Um, que acontece de modo comparativamente raro, é que todas as circunstâncias permitam uma união legal e permanente entre eles; o outro, mais freqüente, é que médico e paciente se separem e abandonem o trabalho que começaram e que deveria levar ao restabelecimento dela, como se houvesse sido interrompido por algum fenômeno elementar. Há, sem dúvida, um terceiro desfecho concebível, que até mesmo parece compatível com a continuação do tratamento. É que eles iniciam um relacionamento amoroso ilícito e que não se destina a durar para sempre. Mas esse caminho é impossível por causa da moralidade convencional e dos padrões profissionais. Não obstante, o nosso leigo implorará ao analista que lhe assegure, tão inequivocamente quanto possível, que esta terceira alternativa se acha excluída.
É claro que um psicanalista tem de encarar as coisas de um ponto de vista diferente.
Tomemos o caso do segundo desfecho da situação que estamos considerando. Após a paciente ter-se enamorado de seu médico, eles se separam; o tratamento é abandonado. Mas logo o estado da paciente obriga-a a fazer uma segunda tentativa de análise, com outro médico. O que acontece a seguir é que ela sente se ter enamorado deste segundo médico também; e, se romper com ele e recomeçar outra vez, o mesmo acontecerá com o terceiro médico, e assim por diante. Este fenômeno, que ocorre constantemente e que é, como sabemos, um dos fundamentos da teoria psicanalítica, pode ser avaliado a partir de dois pontos de vista, o do médico e o da paciente que dele necessita.
Para o médico, o fenômeno significa um esclarecimento valioso e uma advertência útil contra qualquer tendência a uma contratransferência que pode estar presente em sua própria mente. Ele deve reconhecer que o enamoramento da paciente é induzido pela situação analítica e não deve ser atribuído aos encantos de sua própria pessoa; de maneira que não tem nenhum motivo para orgulhar-se de tal ‘conquista’, como seria chamada fora da análise. E é sempre bom lembrar-se disto. Para a paciente, contudo, há duas alternativas: abandonar o tratamento psicanalítico ou aceitar enamorar-se de seu médico como um destino inelutável.
Não tenho dúvida de que os parentes e amigos da paciente se decidirão enfaticamente pela primeira destas duas alternativas, assim como o analista optará pela segunda. Mas acho que temos aqui um caso em que a decisão não pode ser deixada ao terno – ou antes, egoísta e ciumento – cuidado dos parentes. Somente o bem-estar da paciente deveria ser a pedra de toque; o amor dos parentes não pode insistir que é indispensável para a consecução de certos fins. Qualquer parente que adote a atitude de Tolstoi em relação ao problema pode permanecer na posse imperturbada de sua esposa ou filha; mas terá de tentar suportar o fato de que ela, de sua parte, mantém a neurose e a interferência com sua capacidade de amar que aquela acarreta. A situação, afinal, é semelhante à de um tratamento ginecológico. Além disso, o pai ou marido ciumento está grandemente equivocado se pensa que a paciente escapará de enamorar-se do médico se ele entregá-la a algum outro tipo de tratamento, que não a análise, para combater-lhe a neurose. Pelo contrário, a única diferença será que um amor deste tipo, fadado a permanecer oculto e não analisado, nunca poderá prestar ao restabelecimento da paciente a contribuição que a análise dele teria extraído.
Chegou ao meu conhecimento que alguns médicos que praticam a análise preparam freqüentemente suas pacientes para o surgimento da transferência erótica ou até mesmo as instam a ‘ir em frente a enamorar-se do médico, de modo a que o tratamento possa progredir’. Dificilmente posso imaginar procedimento mais insensato. Assim procedendo, o analista priva o fenômeno do elemento de espontaneidade que é tão convincente e cria para si próprio, no futuro, obstáculos difíceis de superar.
À primeira vista, certamente não parece que o fato de a paciente se enamorar na transferência possa resultar em qualquer vantagem para o tratamento. Por mais dócil que tenha sido até então, ela repentinamente perde toda a compreensão do tratamento e todo o interesse nele, e não falará ou ouvirá a respeito de nada que não seja o seu amor, que exige que seja retribuído. Abandona seus sintomas ou não lhes presta atenção; na verdade, declara que está boa. Há uma completa mudança de cena; é como se uma peça de fingimento houvesse sido interrompida pela súbita irrupção da realidade – como quando, por exemplo, um grito de incêndio se erguer durante uma representação teatral. Nenhum médico que experimente isto pela primeira vez achará fácil manter o controle sobre o tratamento analítico e livrar-se da ilusão de que o tratamento realmente chegou ao fim.
Uma pequena reflexão capacita-nos a encontrar orientação. Primeiro e antes de tudo, mantém-se na mente a suspeita de que tudo que interfere com a continuação do tratamento pode constituir expressão da resistência. Não pode haver dúvida de que a irrupção de uma apaixonada exigência de amor é, em grande parte, trabalho da resistência. Há muito notaram-se na paciente sinais de uma transferência afetuosa, e pôde-se ter certeza de que a docilidade dela, sua aceitação das explicações analíticas, sua notável compreensão e o alto grau de inteligência que apresentava deveriam ser atribuídos a esta atitude em relação ao médico. Agora, tudo isto passou. Ela ficou inteiramente sem compreensão interna (insight) e parece estar absorvida em seu amor. Ademais, esta modificação ocorre muito regularmente na ocasião precisa em que se está tentando levá-la a admitir ou recordar algum fragmento particularmente aflitivo e pesadamente reprimido da história da sua vida. Ela esteve enamorada, portanto, por longo tempo; mas agora a resistência está começando a utilizar seu amor a fim de estorvar a continuação do tratamento, desviar todo o seu interesse do trabalho e colocar o analista em posição canhestra.
Se se examinar a situação mais de perto, reconhece-se a influência de motivos que complicam ainda mais as coisas – dos quais, alguns acham-se vinculados ao enamoramento e outros são expressões específicas da resistência. Do primeiro tipo são os esforços da paciente em certificar-se de sua irresistibilidade, em destruir a autoridade do médico rebaixando-o ao nível de amante e em conquistar todas as outras vantagens prometidas, que são incidentais à satisfação do amor. Com referência à resistência, podemos suspeitar que, ocasionalmente, ela faz uso de uma declaração de amor da paciente como meio de colocar à prova a severidade do analista, de maneira que, se ele mostra sinais de complacência, pode esperar se chamado à ordem por isso. Acima de tudo, porém, fica-se com a impressão de que a resistência está agindo como um agent provocateur; ela intensifica o estado amoroso da paciente e exagera sua disposição à rendição sexual, a fim de justificar ainda mais enfaticamente o funcionamento da repressão, ao apontar os perigos de tal licenciosidade. Todos estes motivos acessórios, que em casos mais simples podem não se achar presente, foram, como sabemos, encarados por Adler como parte essencial de todo o processo.
Mas como deve o analista comportar-se, a fim de não fracassar nessa situação, se estiver persuadido de que o tratamento deve ser levado avante, apesar desta transferência erótica, e que deve enfrentá-la com calma?
Ser-me-ia fácil enfatizar os padrões universalmente aceitos de moralidade e insistir que o analista nunca deve, em quaisquer circunstâncias aceitar ou retribuir os ternos sentimentos que lhe são oferecidos; que, ao invés disso, deve ponderar que chegou sua vez de apresentar à mulher que o ama as exigências da moralidade social e a necessidade de renúncia, conseguir fazê-las abandonar seus desejos e, havendo dominado o lado animal do seu eu (self), prosseguir com o trabalho da análise.
Não atenderei, contudo, a estas expectativas – nem a primeira nem a segunda delas. A primeira, porque não estou escrevendo para pacientes, mas sim para médicos que têm sérias dificuldades com que lutar, e também porque, neste caso, posso remontar a prescrição moral à sua fonte, ou seja, a conveniência. Encontro-me, nesta ocasião, na feliz posição de poder substituir o impedimento moral por considerações de técnica analítica, sem qualquer alteração no resultado.
Ainda mais decididamente, contudo, recuso-me a atender à segunda das expectativas que mencionei. Instigar a paciente a suprimir, renunciar ou sublimar seus instintos, no momento em que ela admitiu sua transferência erótica, seria, não uma maneira analítica de lidar com eles, mas uma maneira insensata. Seria exatamente como se, após invocar um espírito dos infernos, mediante astutos encantamentos, devêssemos mandá-lo de volta para baixo, sem lhe haver feito uma única pergunta. Ter-se-ia trazido o reprimido à consciência, apenas para reprimi-lo mais uma vez, um susto. Não devemos iludir-nos sobre o êxito de qualquer procedimento desse tipo. Como sabemos, as paixões pouco são afetadas por discursos sublimes. A paciente sentirá apenas humilhação e não deixará de vingar-se por ela.
Tampouco posso eu advogar um caminho intermediário, que a certas pessoas se recomendaria como especialmente engenhoso. Consistiria em declarar que se retribuem os amorosos sentimentos da paciente, mas, ao mesmo tempo, em evitar qualquer complementação física desta afeição, até que se possa orientar o relacionamento para canais mais calmos e elevá-lo a um nível mais alto. Minha objeção a este expediente é que o tratamento analítico se baseia na sinceridade, e neste fato reside grande parte de seu efeito educativo e de seu valor ético. É perigoso desviar-se deste fundamento. Todo aquele que se tenha embebido na técnica analítica não mais será capaz de fazer uso das mentiras e fingimentos que um médico normalmente acha inevitáveis; e se, com a melhor das intenções, tentar fazê-lo, é muito provável que se traia. Visto exigirmos estrita sinceridade de nossos pacientes, colocamos em perigo toda a nossa autoridade, se nos deixarmos ser por eles apanhados num desvio da verdade. Além disso, a experiência de se deixar levar um pouco por sentimentos ternos em relação à paciente não é inteiramente sem perigo. Nosso controle sobre nós mesmos não é tão completo que não possamos subitamente, um dia, ir mais além do que havíamos pretendido. Em minha opinião, portanto, não devemos abandonar a neutralidade para com a paciente, que adquirimos por manter controlada a contratransferência.
Já deixei claro que a técnica analítica exige do médico que ele negue à paciente que anseia por amor a satisfação que ela exige. O tratamento deve ser levado a cabo na abstinência. Com isto não quero significar apenas a abstinência física, nem a privação de tudo o que a paciente deseja, pois talvez nenhuma pessoa enferma pudesse tolerar isto. Em vez disso, fixarei como princípio fundamental que se deve permitir que a necessidade e anseio da paciente nela persistam, a fim de poderem servir de forças que a incitem a trabalhar e efetuar mudanças, e que devemos cuidar de apaziguar estas forças por meio de substitutos. O que poderíamos oferecer nunca seria mais que um substituto, pois a condição da paciente é tal que, até que suas repressões sejam removidas, ela é incapaz de alcançar satisfação real.
Admitamos que este princípio fundamental de o tratamento ser levado a cabo na abstinência estenda-se muito além do caso isolado que estamos aqui considerando, e que ele necessite ser completamente debatido, a fim de podermos definir os limites de sua possível aplicação. Todavia, abordaremos agora este assunto, mas manter-nos-emos tão próximos quanto possível da situação de que partimos. O que aconteceria se o médico se comportasse diferentemente e, supondo que ambas as partes fossem livres, se aproveitasse dessa liberdade para retribuir o amor da paciente e acalmar sua necessidade de afeição?
Se ele houvesse sido guiado pelo cálculo de que esta concordância de sua parte lhe garantiria o domínio sobre a paciente e assim capacitá-lo-ia a influenciá-la a realizar as tarefas exigidas pelo tratamento e, dessa maneira, liberar-se permanentemente de sua neurose, então a experiência inevitavelmente mostrar-lhe-ia que seu cálculo estava errado. A paciente alcançaria o objetivo dela, mas ele nunca alcançaria o seu. O que aconteceria ao médico e à paciente seria apenas o que aconteceu, segundo a divertida anedota, ao pastor e ao corretor de seguros. O corretor de seguros, livre pensador, estava à morte e seus parentes insistiram em trazer um homem de deus para convertê-lo antes de morrer. A entrevista durou tanto tempo que aqueles que esperavam do lado de fora começaram a ter esperanças. Por fim, a porta do quarto do doente se abriu. O livre pensador não havia sido convertido, mas o pastor foi embora com um seguro.
Se os avanços da paciente fossem retribuídos, isso constituiria grande triunfo para ela, mas uma derrota completa para o tratamento. Ela teria alcançado sucesso naquilo por que todos os pacientes lutam na análise – teria tido êxito em atuar (acting out), em repetir na vida real o que deveria apenas ter lembrado, reproduzido como material psíquico e mantido dentro da esfera dos eventos psíquicos. No curso ulterior do relacionamento amoroso, ela expressaria todas as inibições e reações patológicas de sua vida erótica, sem que houvesse qualquer possibilidade de corrigi-las; e o episódio penoso terminaria em remorso e num grande fortalecimento de sua propensão à repressão. O relacionamento amoroso, em verdade, destrói a suscetibilidade da paciente à influência do tratamento analítico. Uma combinação dos dois seria impossível.
É, portanto, tão desastroso para a análise que o anseio da paciente por amor seja satisfeito, quanto que seja suprimido. O caminho que o analista deve seguir não é nenhum destes; é um caminho para o qual não existe modelo na vida real. Ele tem de tomar cuidado para não se afastar do amor transferencial, repeli-lo ou torná-lo desagradável para a paciente; mas deve, de modo igualmente resoluto, recusar-lhe qualquer retribuição. Deve manter um firme domínio do amor transferencial, mas tratá-lo como algo irreal, como uma situação que se deve atravessar no tratamento e remontar às suas origens inconscientes e que pode ajudar a trazer tudo que se acha muito profundamente oculto na vida erótica da paciente para sua consciência e, portanto, para debaixo de seu controle. Quanto mais claramente o analista permite que se perceba que ele está à prova de qualquer tentação, mais prontamente poderá extrair da situação seu conteúdo analítico. A paciente, cuja repressão sexual naturalmente ainda não foi removida, mas simplesmente empurrada para segundo plano, sentir-se-á então segura o bastante para permitir que todas as suas precondições para amar, todas as fantasias que surgem de seus desejos sexuais, todas as características pormenorizadas de seu estado amoroso venham à luz. A partir destas, ela própria abrirá o caminho para as raízes infantis de seu amor.
Existe, é verdade, determinada classe de mulheres com quem esta tentativa de preservar a transferência erótica para fins do trabalho analítico, sem satisfazê-la, não logrará êxito. Trata-se de mulheres de paixões poderosas, que não toleram substitutos. São filhas da natureza que se recusam a aceitar o psíquico em lugar do material e que, nas palavras do poeta, são acessíveis apenas à ‘lógica da sopa, com bolinhos por argumentos’. [‘Suppenlongik mit Knödelgründen’, de ‘Die Wanderraten’ de Heine. (Transcrito erradamente por Freud: ‘Knödelargumenten’.)] Com tais pessoas tem-se de escolher entre retribuir seu amor ou então acarretar para si toda a inimizade de uma mulher desprezada. Em nenhum dos casos se podem salvaguardar os interesses do tratamento. Tem-se de bater em retirada, sem sucesso, e tudo o que se pode fazer é revolver na própria mente o problema de como é que uma capacidade de neurose se liga a tão obstinada necessidade de amor.
Muitos analistas indubitavelmente estarão de acordo sobre o método pelo qual outras mulheres, menos violentas em seu amor, podem ser gradativamente levadas a adotar a atitude analítica. O que fazemos, acima de tudo, é acentuar para a paciente o elemento inequívoco de resistência nesse ‘amor’. O amor genuíno, dizemos, torná-la-ia dócil e intensificaria sua presteza em solucionar os problemas de seu caso, simplesmente porque o homem de quem está enamorada espera isso dela. Em tal caso, ela alegremente escolheria a estrada da conclusão do tratamento, a fim de adquirir valor aos olhos do médico e preparar-se para a vida real, onde este sentimento de amor poderia encontrar lugar adequado. Em vez disso, apontamos nós, ela está mostrando um espírito teimoso e rebelde, abandonou todo o interesse no tratamento e claramente não sente respeito pelas convicções bem fundadas do médico. Está assim expressando uma resistência, sob o disfarce de estar enamorada dele; e, além disso, não se compunge por colocá-lo numa situação difícil. Pois, se ele recusa seu amor, como o dever e a compreensão compelem-no a fazer, ela pode representar o papel de mulher desprezada e então afastar-se de seus esforços terapêuticos por vingança e ressentimento, exatamente como agora está fazendo por amor ostensivo.
Como segundo argumento contra a genuinidade desse amor, apresentamos o fato de que ele não exibe uma só característica nova que se origine da situação atual, mas compõe-se inteiramente de repetições e cópias de reações anteriores, inclusive infantis. Prometemos provar isso mediante uma análise pormenorizada do comportamento da paciente no amor.
Se se acrescenta a dose necessária de paciência a estes argumentos, é geralmente possível superar a difícil situação e continuar o trabalho com um amor que foi moderado ou transformado; o trabalho visa então a desvendar a escolha objetal infantil da paciente e as fantasias tecidas ao redor dela.
Todavia, gostaria agora de examinar estes argumentos com olhos críticos e levantar a questão de saber se, apresentando-os à paciente, estamos realmente dizendo a verdade, ou se não nos estamos valendo, em nosso desespero, de ocultamentos e deturpações. Em outras palavras: podemos verdadeiramente dizer que o estado de enamoramento que se manifesta no tratamento analítico não é real?
Acho que dissemos à paciente a verdade, mas não toda a verdade, sem atentar para as conseqüências. Dos nossos dois argumentos, o primeiro é o mais forte. O papel desempenhado pela resistência no amor transferencial é inquestionável e muito considerável. Entretanto, a resistência, afinal de contas, não cria esse amor; encontra-o pronto, à mão, faz uso dele e agrava suas manifestações. Tampouco a genuinidade do fenômeno deixa de ser provada pela resistência. O segundo argumento é muito mais débil. É verdade que o amor consiste em novas adições de antigas características e que ele repete reações infantis. Mas este é o caráter essencial de todo estado amoroso. Não existe estado deste tipo que não reproduza protótipos infantis. É precisamente desta determinação infantil que ele recebe seu caráter compulsivo, beirando, como o faz, o patológico. O amor transferencial possui talvez um grau menor de liberdade do que o amor que aparece na vida comum e é chamado de normal; ele exibe sua dependência do padrão infantil mais claramente e é menos adaptável e capaz de modificação; mas isso é tudo, e não o que é essencial.
Por que outros sinais pode a genuinidade de um amor ser reconhecida? Por sua eficácia, sua utilidade em alcançar o objetivo do amor? A esse respeito, o amor transferencial não parece ficar devendo nada a ninguém; tem-se a impressão de que se poderia obter dele qualquer coisa.
Resumamos, portanto. Não temos o direito de contestar que o estado amoroso que faz seu aparecimento no decurso do tratamento analítico tenha o caráter de um amor ‘genuíno’. Se parece tão desprovido de normalidade, isto é suficientemente explicado pelo fato de que estar enamorado na vida comum, fora da análise, é também mais semelhante aos fenômenos mentais anormais que aos normais. Não obstante, o amor transferencial caracteriza-se por certos aspectos que lhe asseguram posição especial. Em primeiro lugar, é provocado pela situação analítica; em segundo, é grandemente intensificado pela resistência, que domina a situação; e, em terceiro, falta-lhe em alto grau consideração pela realidade, é menos sensato, menos interessado nas conseqüências e mais ego em sua avaliação da pessoa amada do que estamos preparados para admitir no caso do amor normal. Não devemos esquecer, contudo, que esses afastamentos da norma constituem precisamente aquilo que é essencial a respeito de estar enamorado.
Quanto à linha de ação do analista, é a primeira destas três características do amor transferencial que constitui o fator decisivo. Ele evocou este amor, ao instituir o tratamento analítico a fim de curar a neurose. Para ele, trata-se de conseqüência inevitável de uma situação médica, tal como a exposição do corpo de um paciente ou a comunicação de um segredo vital. É-lhe, portanto, evidente que não deve tirar qualquer vantagem pessoal disso. A disposição da paciente não faz diferença; simplesmente lança toda a responsabilidade sobre o próprio analista. Na verdade, como ele deve saber, a paciente não se preparara para nenhum outro mecanismo de cura. Após todas as dificuldades haverem sido triunfantemente superadas, ela muitas vezes confessará ter tido uma fantasia antecipatória na ocasião em que começou o tratamento, no sentido de que, se se comportasse bem, seria recompensada no final pela afeição do médico.
Para o médico, motivos éticos unem-se aos técnicos para impedi-lo de dar à paciente seu amor. O objetivo que tem de manter em vista é que a essa mulher, cuja capacidade de amor acha-se prejudicada por fixações infantis, deve adquirir pleno controle de uma função que lhe é de tão inestimável importância; que ela não deve, porém, dissipá-lo no tratamento, mas mantê-la pronta para o momento em que, após o tratamento, as exigências da vida real se fazem sentir. Ele não deve encenar a situação de uma corrida de cães em que o prêmio deveria ser uma guirlanda de salsichas, mas que algum humorista estragou ao atirar uma salsicha na pista. O resultado foi, naturalmente, que os cães se atiraram sobre ela e esqueceram tudo sobre a corrida e sobre a guirlanda que os atraía à vitória muito distante. Não quero dizer que é sempre fácil ao médico se manter dentro dos limites prescritos pela ética e pela técnica. Aqueles que ainda são jovens e não estão ligados por fortes laços podem, em particular, achá-lo tarefa árdua. O amor sexual é indubitavelmente uma das principais coisas da vida, e a união da satisfação mental e física no gozo do amor constitui um de seus pontos culminantes. À parte alguns excêntricos fanáticos, todos sabem disso e conduzem sua vida dessa maneira; só a ciência é refinada demais para admiti-lo. Por outro lado, quando uma mulher solicita amor, rejeitá-la e recusá-la constitui papel penoso para um homem desempenhar; e, apesar da neurose e da resistência, existe um fascínio incomparável numa mulher de elevados princípios que confessa sua paixão. Não são os desejos cruamente sensuais da paciente que constituem a tentação. É mais provável que estes repugnem, e encará-los como fenômeno natural exigirá toda a tolerância do médico. São, talvez, os desejos de mulher mais sutis e inibidos em seu propósito que trazem consigo o perigo de fazer um homem esquecer sua técnica e sua missão médica no interesse de uma bela experiência.
E no entanto é inteiramente impossível para o analista ceder. Por mais alto que possa prezar o amor, tem de prezar ainda mais a oportunidade de ajudar sua paciente a passar por um estádio decisivo de sua vida. Ela tem de aprender com ele a superar o princípio do prazer, e abandonar uma satisfação que se acha à mão, mas que socialmente não é aceitável, em favor de outra mais distante, talvez inteiramente incerta, mas que é psicológica e socialmente irrepreensível. Para conseguir esta superação, ela tem de ser conduzida através do período primevo de seu desenvolvimento mental e, nesse caminho, tem de adquirir a parte adicional de liberdade mental que distingue a atividade mental consciente – no sentido sistemático – da inconsciente.
O psicoterapeuta analítico tem, assim, uma batalha tríplice a travar – em sua própria mente, contra as forças que procuram arrastá-lo para abaixo do nível analítico; fora da análise, contra opositores que discutem a importância que ele dá às forças instintuais sexuais e impedem-nos de fazer uso delas em sua técnica científica; e, dentro da análise, contra as pacientes, que a princípio comportam-se como opositores, mas, posteriormente, revelam a supervalorização da vida sexual que as domina e tentam torná-lo cativo de sua paixão socialmente indomada.
O público, leigo, sobre cuja atitude em relação à psicanálise falei no início, indubitavelmente apossar-se-á deste debate do amor transferencial como mais outra oportunidade de dirigir a atenção do mundo para o sério perigo desse método terapêutico. O psicanalista sabe que está trabalhando com forças altamente explosivas e que precisa avançar com tanto cautela e escrúpulo quanto um químico. Mas quando foram os químicos proibidos, devido ao perigo, de manejar substâncias explosivas, que são indispensáveis, por causa de seus efeitos? É digno de nota que a psicanálise tenha de conquistar para a própria, de novo, todas as liberdades que há muito tempo foram concebidas a outras atividades médicas. Certamente não sou favorável a abandonar os métodos inócuos de tratamento. Para muitos casos, eles são suficientes e, quando tudo está dito, a sociedade humana não tem mais uso para o furor senandi do que para qualquer outro fanatismo. Mas acreditar que as neuroses podem ser vencidas pela administração de remediozinhos inócuos é subestimar grosseiramente esses distúrbios, tanto quanto à sua origem quanto à sua importância prática. Não; na clínica médica sempre haverá lugar para o ‘ferrum‘ e para o ‘ignis‘, lado a lado com as ‘medicinas‘; e, da mesma maneira, nunca seremos capazes de passar sem uma psicanálise estritamente regular e forte, que não tenha medo de manejar os mais perigosos impulsos mentais e de obter domínio sobre eles, em benefício do paciente.

O tópico quase inexaurível da transferência foi recentemente tratado por Wilhelm Stekel [1911b] nesse periódico, em estilo descritivo. Gostaria de, nas páginas seguintes, acrescentar algumas considerações destinadas a explicar como a transferência é necessariamente ocasionada durante o tratamento psicanalítico, e como vem ela a desempenhar neste seu conhecido papel. Deve-se compreender que cada indivíduo, através da ação combinada de sua disposição inata e das influências sofridas durante os primeiros anos, conseguiu um método específico próprio de conduzir-se na vida erótica - isto é, nas precondições para enamorar-se que estabelece, nos instintos que satisfaz e nos objetivos que determina a si mesmo no decurso daquela. Isso produz o que se poderia descrever como um clichê estereotípico (ou diversos deles), constantemente repetido - constantemente reimpresso - no decorrer da vida da pessoa, na medida em que as circunstâncias externas e a natureza dos objetos amorosos a ela acessíveis permitam, e que decerto não é inteiramente incapaz de mudar, frente a experiências recentes. Ora, nossas observações demonstraram que somente uma parte daqueles impulsos que determinam o curso da vida erótica passou por todo o processo de desenvolvimento psíquico. Esta parte está dirigida para a realidade, acha-se à disposição da personalidade consciente e faz parte dela. Outra parte dos impulsos libidinais foi retida no curso do desenvolvimento; mantiveram-na afastada da personalidade consciente e da realidade, e, ou foi impedida de expansão ulterior, exceto na fantasia, ou permaneceu totalmente no inconsciente, de maneira que é desconhecida pela consciência da personalidade. Se a necessidade que alguém tem de amar não é inteiramente satisfeita pela realidade, ele está fadado a aproximar-se de cada nova pessoa que encontra com idéias libidinais antecipadas; e é bastante provável que ambas as partes de sua libido, tanto a parte que é capaz de se tornar consciente quanto a inconsciente, tenham sua cota na formação dessa atitude.
Assim, é perfeitamente normal e inteligível que a catexia libidinal de alguém que se acha parcialmente insatisfeito, uma catexia que se acha pronta por antecipação, dirija-se também para a figura do médico. Decorre de nossa hipótese primitiva que esta catexia recorrerá a protótipos, ligar- se-á a um dos clichês estereotípicos que se acham presentes no indivíduo; ou, para colocar a situação de outra maneira, a catexia incluirá o médico numa das ‘séries’ psíquicas que o paciente já formou. Se a ‘imago paterna’, para utilizar o termo adequado introduzido por Jung (1911, 164), foi o fator decisivo no caso, o resultado concordará com as relações reais do indivíduo com seu médico. Mas a transferência não se acha presa a este protótipo específico: pode surgir também semelhante à imago materna ou à imago fraterna. As peculiaridades da transferência para o médico, graças às quais ela excede, em quantidade e natureza, tudo que se possa justificar em fundamentos sensatos ou racionais, tornam-se inteligíveis se tivermos em mente que essa transferência foi precisamente estabelecida não apenas pelas idéias antecipadas conscientes, mas também por aquelas que foram retidas ou que são inconscientes.
Nada mais haveria a examinar ou com que se preocupar a respeito deste comportamento da transferência, não fosse permanecerem inexplicados nela dois pontos que são de interesse específico para os psicanalistas. Em primeiro lugar, não compreendemos por que a transferência é tão mais intensa nos indivíduos neuróticos em análise que em outras pessoas desse tipo que não estão sendo analisadas. Em segundo, permanece sendo um enigma a razão por que, na análise, a transferência surge como a resistência mais poderosa ao tratamento, enquanto que, fora dela, deve ser encarada como veículo de cura e condição de sucesso. Pois nossa experiência demonstrou - e o fato pode ser confirmado com tanta freqüência quanto o desejarmos - que, se as associações de um paciente faltam, a interrupção pode invariavelmente ser removida pela garantia de que ele está sendo dominado, momentaneamente, por uma associação relacionada com o próprio médico ou com algo a este vinculado. Assim que esta explicação é fornecida, a interrupção é removida ou a situação se altera, de uma em que as associações faltam para outra em que elas estão sendo retidas. À primeira vista, parece ser uma imensa desvantagem, para a psicanálise como método, que aquilo que alhures constitui o fator mais forte no sentido do sucesso nela se transforme no mais poderoso meio de resistência. Contudo, se examinarmos a situação mais de perto, podemos pelo menos dissipar o primeiro de nossos dois problemas. Não é fato que a transferência surja com maior intensidade e ausência de coibição durante a psicanálise que fora dela. Nas instituições em que doentes dos nervos são tratados de modo não analítico, podemos observar que a transferência ocorre com a maior intensidade e sob as formas mais indignas, chegando a nada menos que servidão mental e, ademais, apresentando o mais claro colorido erótico. Gabriele Reuter, com seus agudos poderes de observação, descreveu isso em época na qual não havia ainda uma coisa chamada psicanálise, num livro notável, que revela, sob todos os aspectos, a mais clara compreensão interna (insight) da natureza e gênese das neuroses. Essas características da transferência, portanto, não devem ser atribuídas à psicanálise, mas sim à própria neurose.
Nosso segundo problema - o problema de saber por que a transferência aparece na psicanálise como resistência - está por enquanto intacto; e temos agora de abordá-lo mais de perto. Figuremos a situação psicológica durante o tratamento. Uma precondição invariável e indispensável de todo desencadeamento de uma psiconeurose é o processo a que Jung deu o nome apropriado de ‘introversão’. Isto equivale a dizer: a parte da libido que é capaz de se tornar consciente e se acha dirigida para a realidade é diminuída, e a parte que se dirige para longe da realidade e é inconsciente, e que, embora possa ainda alimentar as fantasias do indivíduo, pertence todavia ao inconsciente, é proporcionalmente aumentada. A libido (inteiramente ou em parte) entrou num curso regressivo e reviveu as imagos infantis do indivíduo. O tratamento analítico então passa a segui-la; ele procura rastrear a libido, torná-la acessível à consciência e, enfim, útil à realidade. No ponto em que as investigações da análise deparam com a libido retirada em seu esconderijo, está fadado a irromper um combate; todas as forças que fizeram a libido regredir se erguerão como ‘resistências’ ao trabalho da análise, a fim de conservar o novo estado de coisas. Pois, se a introversão ou regressão da libido não houvesse sido justificada por uma relação específica entre o indivíduo e o mundo externo - enunciado, em termos mais gerais, pela frustração da satisfação - e se não se tivesse, no momento, tornado mesmo conveniente, não teria absolutamente ocorrido. Mas as resistências oriundas desta fonte não são as únicas ou, em verdade, as mais poderosas. A libido à disposição da personalidade do indivíduo esteve sempre sob a influência da atração de seus complexos inconscientes (ou mais corretamente, das partes desse complexos pertencentes ao inconsciente), e encontrou num curso regressivo devido ao fato de a atração da realidade haver diminuído. A fim de liberá-la, esta atração do inconsciente tem de ser superada, isto é, a repressão dos instintos inconscientes e de suas produções, que entrementes estabeleceu no indivíduo, deve ser removida. Isto é responsável, de longe, pela maior parte da resistência, que tão amiúde faz a doença persistir mesmo após o afastamento da realidade haver perdido sua justificação temporária. A análise tem de lutar contra as resistências oriundas de ambas essas fontes. A resistência acompanha o tratamento passo a passo. Cada associação isolada, cada ato da pessoa em tratamento tem de levar em conta a resistência e representa uma conciliação entre as forças que estão lutando no sentido do restabelecimento e as que se lhe opõem, já descritas por mim.
Se acompanharmos agora um complexo patogênico desde sua representação no consciente (seja ele óbvio, sob a forma de um sintoma, ou algo inteiramente indiscernível) até sua raiz no inconsciente, logo ingressaremos numa região em que a resistência se faz sentir tão claramente que a associação seguinte tem de levá-la em conta a aparecer como uma conciliação entre suas exigências e as do trabalho de investigação. É neste ponto, segundo prova nossa experiência, que a transferência entra em cena. Quando algo no material complexivo (no tema geral do complexo) serve para ser transferido para a figura do médico, essa transferência é realizada; ela produz a associação seguinte e se anuncia por sinais de resistências - por uma interrupção, por exemplo. Inferimos desta experiência que a idéia transferencial penetrou na consciência à frente de quaisquer outras associações possíveis, porque ela satisfaz a resistência. Um evento deste tipo se repete inúmeras vezes no decurso de um análise. Reiteradamente, quando nos aproximamos de um complexo patogênico, a parte desse complexo capaz de transferência é empurrada em primeiro lugar para a consciência e defendida com a maior obstinação.
Depois que ela for vencida, a superação das outras partes do complexo quase não apresenta novas dificuldades. Quanto mais um tratamento analítico demora e mais claramente o paciente se dá conta de que as deformações do material patogênico não podem, por si próprias, oferecer qualquer proteção contra sua revelação, mais sistematicamente faz ela uso de um tipo de deformação que obviamente lhe concede as maiores vantagens - a deformação mediante a transferência. Essas circunstâncias tendem para uma situação na qual, finalmente, todo conflito tem de ser combatido na esfera da transferência.
Assim, a transferência, no tratamento analítico, invariavelmente nos aparece, desde o início, como a arma mais forte da resistência, e podemos concluir que a intensidade e persistência da transferência constituem efeito e expressão da resistência. Ocupamo-nos do mecanismo da transferência, é verdade, quando o remontamos ao estado de prontidão da libido, que conservou imagos infantis, mas o papel que a transferência desempenha no tratamento só pode ser explicado se entrarmos na consideração de suas relações com as resistências.
Como é possível que a transferência sirva tão admiravelmente de meio de resistência? Poder-se-ia pensar que a resposta possa ser fornecida sem dificuldade, pois é claro que se torna particularmente difícil de admitir qualquer impulso proscrito de desejo, se ele tem de ser revelado diante desse tipo dá origem a situações que, no mundo real, mal parecem possíveis. Mas é precisamente a isso que o paciente visa, quando faz o objeto de seus impulsos emocionais coincidir com o médico. Uma nova consideração, no entanto, mostra que essa vitória aparente não pode fornecer a solução do problema. Na verdade, uma relação de dependência afetuosa e dedicada pode, pelo contrário, ajudar uma pessoa a superar todas as dificuldades de fazer uma confissão. Em situações reais análogas, as pessoas geralmente dirão: ‘Na sua frente, não sinto vergonha: posso dizer-lhe qualquer coisa.’ Assim, a transferência para o médico poderia, de modo igualmente simples, servir para facilitar as confissões, e não fica claro por que deve tornar as coisas mais difíceis.
A resposta à questão que foi tão amiúde repetida nestas páginas não pode ser alcançada por nova reflexão, mas pelo que descobrimos quando examinamos resistências transferenciais particulares que ocorrem durante o tratamento. Percebemos afinal que não podemos compreender o emprego da transferência como resistência enquanto pensarmos simplesmente em ‘transferência’. Temos de nos resolver a distinguir uma transferência ‘positiva’ de uma ‘negativa’, a transferência de sentimentos afetuosos da dos hostis e tratar separadamente os dois tipos de transferência para o médico. A transferência positiva é ainda divisível em transferência de sentimentos amistosos ou afetuosos, que são admissíveis à consciência, e transferência de prolongamentos desses sentimentos no inconsciente. Com referência aos últimos, a análise demonstra que invariavelmente remontam a fontes eróticas. E somos assim levados à descoberta de que todas as relações emocionais de simpatia, amizade, confiança e similares, das quais podemos tirar bom proveito em nossas vidas, acham-se geneticamente vinculadas à sexualidade e se desenvolveram a partir de desejos puramente sexuais, através da suavização de seu objetivo sexual, por mais puros e não sensuais que possam parecer à nossa autopercepção consciente. Originalmente, conhecemos apenas objetos sexuais, e a psicanálise demonstra-nos que pessoas que em nossa vida real são simplesmente admiradas ou respeitadas podem ainda ser objetos sexuais para nosso inconsciente.
Assim, a solução do enigma é que a transferência para o médico é apropriada para a resistência ao tratamento apenas na medida em que se tratar de transferência negativa ou de transferência positiva de impulsos eróticos reprimidos. Se “removermos" a transferência por torná- la consciente, estamos desligando apenas, da pessoa do médico, aqueles dois componentes do ato emocional; o outro componente, admissível à consciência e irrepreensível, persiste, constituindo o veículo de sucesso na psicanálise, exatamente como o é em outros métodos de tratamento. Até este ponto admitimos prontamente que os resultados da psicanálise baseiam-se na sugestão; por esta, contudo, devemos entender, como o faz Ferenczi (1909), a influenciação de uma pessoa por meio dos fenômenos transferenciais possíveis em seu caso. Cuidamos da independência final do paciente pelo emprego da sugestão, a fim de fazê-lo realizar um trabalho psíquico que resulta necessariamente numa melhora constante de sua situação psíquica.
Pode-se levantar ainda a questão de saber por que os fenômenos de resistência da transferência só aparecem na psicanálise e não em formas indiferentes de tratamento (em instituições, por exemplo). A resposta é que eles também se apresentam nestas outras situações, mas têm de ser identificados como tal. A manifestação de uma transferência negativa é, na realidade, acontecimento muito comum nas instituições. Assim que um paciente cai sob o domínio da transferência negativa, ele deixa a instituição em estado inalterado ou agravado. A transferência erótica não possui efeito tão inibidor nas instituições, visto que nestas, tal como acontece na vida comum, ela é encoberta ao invés de revelada. Mas se manifesta muito claramente como resistência ao restabelecimento, não, é verdade, por levar o paciente a sair da instituição - pelo contrário, retém-no aí - mas por mantê-lo a certa distância da vida. Pois, do ponto de vista do restabelecimento, é completamente indiferente que o paciente supere essa ou aquela ansiedade ou inibição na instituição; o que importa é que ele fique livre dela também na vida real.
A transferência negativa merece exame pormenorizado, que não pode ser feito dentro dos limites do presente trabalho. Nas formas curáveis de psiconeurose, ela é encontrada lado a lado com a transferência afetuosa, amiúde dirigidas simultaneamente para a mesma pessoa. Bleuler adotou o excelente termo ‘ambivalência’ para descrever este fenômeno. Até certo ponto, uma ambivalência de sentimento deste tipo parece ser normal; mas um alto grau dela é, certamente, peculiaridade especial de pessoas neuróticas. Nos neuróticos obsessivos, uma separação antecipada dos ‘pares de contrários’ parece ser característica de sua vida instintual e uma de suas precondições constitucionais. A ambivalência nas tendências emocionais dos neuróticos é a melhor explicação para sua habilidade em colocar as transferências a serviço da resistência. Onde a capacidade de transferência tornou-se essencialmente limitada a uma transferência negativa, como é o caso dos paranóicos, deixa de haver qualquer possibilidade de influência ou cura.
Em todas estas reflexões, porém, lidamos até agora com apenas um dos lados do fenômeno da transferência; temos de voltar nossa atenção para outro aspecto do mesmo assunto. Todo aquele que faça uma apreciação correta da maneira pela qual uma pessoa em análise, assim que entra sob o domínio de qualquer resistência transferencial considerável, é arremessada para fora de sua relação real com o médico, como se sente então em liberdade para desprezar a regra fundamental da psicanálise, que estabelece que tudo que lhe venha à cabeça deve ser comunicado sem crítica, como esquece as intenções com que iniciou o tratamento, e como encara com indiferença argumentos e conclusões lógicas que, apenas pouco tempo antes, lhe haviam causado grande impressão - todo aquele que tenha observado tudo isso achará necessário procurar uma explicação de sua impressão em outros fatores além dos que já foram aduzidos. E esses fatores não se acham longe; originam-se, mais uma vez, da situação psicológica em que o tratamento coloca o paciente.
No processo de procurar a libido que fugira do consciente do paciente, penetramos no reino do inconsciente. As reações que provocamos revelam, ao mesmo tempo, algumas das características que viemos a conhecer a partir do estudo dos sonhos. Os impulsos inconscientes não desejam ser recordados da maneira pela qual o tratamento quer que o sejam, mas esforçam- se por reproduzir-se de acordo com a atemporalidade do inconsciente e sua capacidade de alucinação. Tal como acontece aos sonhos, o paciente encara os produtos do despertar de seus impulsos inconscientes como contemporâneos e reais; procura colocar suas paixões em ação sem levar em conta a situação real. O médico tenta compeli-lo a ajustar esses impulsos emocionais ao nexo do tratamento e da história de sua vida, a submetê-los à consideração intelectual e a compreendê-los à luz de seu valor psíquico. Esta luta entre o médico e o paciente, entre o intelecto e a vida instintual, entre a compreensão e a procura da ação, é travada, quase exclusivamente, nos fenômenos da transferência. É nesse campo que a vitória tem de ser conquistada - vitória cuja expressão é a cura permanente da neurose. Não se discute que controlar os fenômenos da transferência representa para o psicanalista as maiores dificuldades; mas não se deve esquecer que são precisamente eles que nos prestam o inestimável serviço de tornar imediatos e manifestos os impulsos eróticos ocultos e esquecidos do paciente. Pois, quando tudo está dito e feito, é impossível destruir alguém in absentia ou in effligie.

Em 1469, cinco anos antes de tornar-se rainha de Castela, a infanta Isabel casou-se com seu primo Fernando, o herdeiro do trono de Aragão. A princípio, parecia simplesmente outra aliança dinástica, um instrumento de rotina da diplomacia. Mas o acontecimento teve um grande significado, porque marcou o início de uma associação política única, que afetou dois dos três grandes reinos da península. Em retrospectiva, pode-se reconhecer que a “Espanha” nasceu, e evoluiu até o amadurecimento, a partir da histórica aliança entre Castela e Aragão. No entanto, estava muito longe de ser um processo inevitável. Fernando II de Aragão (1479-1516; também Fernando V de Castela, 1474-1516) e Isabel de Castela (1474-1504) não se dispuseram a criar um Estado unificado, mas sim procuraram unir seus recursos para conseguir uma série de vantagens para seus respectivos reinos, que possuíram diferentes instituições legais e sociais, diferentes tradições e até diferentes línguas, até o século XIX.
Um dos primeiros objetivos dos Reis Católicos (título dado a Fernando e Isabel pelo papa espanhol Alexandre VI, em 1496) foi a imposição da lei e da ordem. A paz interna era um antigo anseio depois de anos de guerra civil, mas havia fortes motivos religiosos, além de políticos, por trás de seus desejos de consegui-la. Isabel, particularmente, considerava a salvação das almas através da estrita observância religiosa como uma missão divina. Só aumentando o poder da coroa, e conquistando a segurança física diante dos inimigos - especialmente os não-cristãos - os Reis Católicos podiam esperar conseguir a total observância religiosa, instilando obediência e ordem onde antes havia caos e conflitos internos. Consequentemente, reformaram o sistema de justiça ao codificar a lei, fortalecer o conselho real (a suprema corte de Castela) e estabelecer tribunais dependentes (chancelarias) em Valladolid e Granada. Para fazer isto, os Reis Católicos viram-se obrigados a enfrentar os três grupos mais poderosos de seus respectivos territórios: a Igreja, a grande nobreza e as cidades.
De todas as suas reformas, o estabelecimento da Inquisição iria ter os efeitos mais profundos e duradouros na história da Espanha, especialmente no processo de unificação. A Inquisição foi fundada em Sevilha em 1478-80, e adquiriu depois jurisdição por toda a Castela e Aragão. Sua função original era a supervisão daqueles membros das comunidades judaicas e muçulmanas que haviam se convertido ao cristianismo - conversos e mouriscos, respectivamente embora depois tenha se concentrado em impedir abusos e reincidências entre os “antigos” cristãos. A Inquisição dispunha de um grande poder. Todas as suas nomeações eram feitas pela coroa; as atuações eram secretas e baseavam-se principalmente em informantes, enquanto frequentemente era usada a tortura - ainda que sob estritas condições - para extrair confissões. Os hereges condenados eram queimados nas largamente populares cerimônias dos autos-de-fé, e suas propriedades confiscadas eram repartidas entre a coroa, a Inquisição e os informantes.
Embora seja impossível defender os métodos da Inquisição, duvidosos até sob os padrões da época, esta imunizou antecipadamente a Espanha contra a Reforma.
O cardeal arcebispo de Toledo, Frankfurt Jiménez (ou Ximénez) de Cisneros (1436-1517) utilizou a Inquisição para realizar melhorias entre o clero, fazendo com que a Igreja espanhola fosse a menos corrupta da Europa, e assim a menos vulnerável aos ataques das novas heresias protestantes do século XVI. Com estes interesses, foi também capaz, durante o reinado de Felipe II (1556-98), de ir contra o mais alto eclesiástico da Espanha, Bartolomé Carranza, cardeal arcebispo de Toledo (1503-76). A Inquisição poupou também a Espanha das intermináveis guerras religiosas que, na França e na Alemanha, foram a causa de sofrimentos maiores e mais amplos do que os que suas próprias atividades infligiram aos espanhóis.
O temor elementar à heresia entre os cidadãos comuns dotou a Inquisição de um raro status entre os departamentos de estado, uma genuína e duradoura publicidade em nível fundamental. No entanto, era mais facilmente aceita em Castela que em Aragão, onde sua entrada se viu impedida por uma longa oposição, em parte porque seu conselho governante (a Suprema) era visto como um órgão do governo castelhano. Até o final do século XVI, a Inquisição podia inspirar ainda violentos protestos em Aragão quando suas atividades entravam em conflito com as leis e privilégios locais (foros). Em geral, no entanto, a religião - e a influência social da Igreja - contribuiu para a união de Aragão e Castela. Muitos prelados haviam sido desleais à coroa durante os conflitos recorrentes do século XV, mas a hierarquia da Igreja havia sido submetida, agora, a controle. Isto foi [66] conseguido, em parte, graças à intervenção real nas nomeações eclesiásticas, um procedimento sancionado pelo papa Alexandre VI. É importante destacar que durante a ascensão dos comuneiros em 1520, quando as cidades de Castela e depois de Aragão se rebelaram contra o governo de Carlos V, apenas um bispo uniu-se aos rebeldes e, em seu devido tempo, foi pendurado nas ameias do Castelo de Simancas.
Roma mostrou concordar também que a coroa se encarregasse das ordens religiosas militares, proprietárias corporativas de enormes extensões de terra, especialmente em Castela, a Nova e Andaluzia. Seu papel político havia agravado com frequência as desordens civis no passado, mas o controle real das ordens permitiu agora aos Reis Católicos encarregar-se de uma enorme fonte de patrocínio e de prestígio social. Isso, junto com os recentes recursos da Inquisição, iria ser crucial na formação de uma nobreza burocrata-militar dependente da coroa.
Enquanto isso, os Reis Católicos revigoraram e expandiram as irmandades castelhanas, para que se ocupassem das desordens locais e do crime organizado. Suprimindo dezenas de exércitos privados - frequentemente, pouco mais que bandos de foras-da-lei controlados pelos grandes nobres - reduziram radicalmente o poder da nobreza no momento de intervir na política local. Tanto a economia quanto as rendas reais de Castela se beneficiaram da imposição da lei e da ordem: foram construídas e reconstruídas estradas e pontes, os castelos dos nobres [67] desordeiros foram destruídos, e foram estabelecidos postos de alfândega para explorar a expansão do comércio interno. Em Aragão e Catalunha, no entanto, a autoridade real continuou sendo relativamente fraca. Fernando, sensatamente, não fez nenhum movimento para revogar os tão queridos foros que, como rei, havia prometido observar. Como consequência disso, os nobres detinham poderes consideráveis, e suas depredações continuaram afligindo a sociedade aragonesa.
Os oficiais das irmandades eram escolhidos entre a nobreza menor (fidalgos). Esse grupo social era quase único na Europa, e representava uma numerosa aristocracia urbana que tinha, em parte, origens profissionais e até comerciais. Alguns fidalgos eram proprietários de modestas posses, mas muito frequentemente também haviam perdido os laços com suas terras. Formavam uma elite de legisladores urbanos (togados) que compartilhavam o poder com a classe comercial, e sua relativa independência da alta nobreza fazia com que tais homens fossem muito úteis para a coroa. Além de atuar como oficiais das irmandades, formavam uma classe laica dentro da Inquisição, o que trazia recompensas e prestígio para suas famílias. Durante a década de 1480, muitos foram nomeados corregedores (oficiais do governo em tempo integral) de suas respectivas cidades, com a função de fazer cumprir os decretos reais e presidir as reuniões dos conselhos. Os corregedores desempenhavam um papel sumamente importante nas 18 cidades que enviaram representantes ao parlamento castelhano (as Cortes). Aliando-se à classe dos fidalgos, os Reis Católicos conseguiram excluir progressivamente os nobres do governo, ao mesmo tempo que adquiriam uma administração que dependia inteiramente do apoio real.
1492 e a última Cruzada
Quando Fernando e Isabel assumiram o trono, a “Espanha” era apenas uma expressão geográfica. O glorioso ano de 1492 iria mudar isso, colocando firmemente a Espanha nos mapas como um líder das cruzadas religiosas e como uma potência européia. Três acontecimentos transcendentais ocorreram em 1492: Boabdil (Abu Abd Allah; m. 1527) - o último rei muçulmano na Espanha - dominou Granada; a Inquisição atuou contra os judeus; e Cristóvão Colombo (1451-1506) realizou o histórico desembarque nas Antilhas.
Os Reis Católicos iniciaram a guerra contra o reino muçulmano de Granada, em 1482, com um exército que na maior parte não era seu, mas sim financiado principalmente por fontes municipais e eclesiásticas. Quando terminou, dez anos depois, comandavam um exército real e gozavam de importantes lucros de impostos garantidos pelas Cortes de Castela. A guerra foi a primeira cruzada contra a Espanha muçulmana desde a queda de Sevilha, em 1284, dois séculos antes. As pressões que causou na comunidade política podem ter feito brotar uma nova guerra civil; por outro lado, a campanha mantida contra o inimigo comum teve um efeito unificador, especialmente porque se tratava de uma aventura conjunta entre Castela e Aragão. Mais ainda, as reformas políticas do final da década de 1470 demonstraram ter o mesmo efeito: consolidaram e expandiram as instituições do governo em um nível tanto central quanto local. As conquistas ibéricas começavam a criar um impacto sobre a Europa cristã em seu conjunto. A reconquista final de Granada, em 1492. proporcionou um triunfo vital, que chegou somente 40 anos depois que Constantinopla (a moderna Istambul) caiu nas mãos dos turcos muçulmanos. A guerra atraiu centenas de cruzados de fora da península; o sucesso de ser término mereceu louvores generalizados. [69]
Aos derrotados muçulmanos da Espanha foi garantida originalmente a liberdade religiosa e o direito de emigrar para a África, caso decidissem não se tornar súditos dos Reis Católicos. Depois de pouco tempo, no entanto, o cardeal Cisneros persuadiu Isabel a forçar “conversões” em massa. Menos de três meses depois da vitória em Granada, a autoridade da Inquisição empreendeu-a contra outra comunidade não-cristã na Espanha. Todos os judeus que se negaram a se converter ao cristianismo - entre 100.000 e 150.000 - foram expulsos da Espanha, e muitos deles cruzaram Portugal. A expulsão foi considerada dentro e fora da península como um triunfo da religião católica. Seu principal efeito, no entanto, foi privar Castela de alguns dos cidadãos mais importantes para a economia da região.
O novo mundo
Aos olhos da história, a maior conquista do ano 1492 foi a viagem, através do Atlântico, do navegante genovês Cristóvão Colombo. A consolidação de um governo firme em casa permitiu que a coroa de Castela concentrasse, seus recursos na expansão no além-mar e tentasse repetir o caminho que Portugal havia tomado na exploração marítima. Finalmente, após anos de pedidos em vão, Colombo convenceu Fernando e Isabel a patrocinar sua busca por um caminho pelo Oeste até as índias. Em outubro de 1492, após uma viagem de três meses, desembarcou em uma ilha do Caribe, provavelmente São Salvador.
Durante o século seguinte, sucessivas gerações de conquistadores abandonaram a península para conquistar e [70] colonizar um enorme império na América. Desde o início houve tensões com Portugal com relação aos novos territórios. Os Reis Católicos conseguiram a influência de Alexandre VI para que protegesse seus interesses. Em 1494, o Tratado de Tordesilhas foi um elemento fundamental, através do qual todas as terras a oeste de uma linha imaginária que dividia o Atlântico bem a oeste das Ilhas de Cabo Verde eram destinadas à Espanha, e todas as que estivessem a leste, a Portugal.
Em geral, os conquistadores eram membros da nobreza menor sedentos de terra, procedentes de algumas das partes mais empobrecidas da Espanha. Consideravam o Novo Mundo como um ambiente selvagem e hostil, que devia ser domado. Suas matérias-primas - particularmente o ouro e a prata - estavam ali para ser tomadas. Os primeiros conquistadores extraíram toda a riqueza que puderam daquelas terras e daquela gente e a levaram para a Espanha. A insistência de Isabel de que Castela devia ter o monopólio do comércio americano, e de que este deveria ser realizado através do porto de Sevilha, iria levar a um rápido crescimento dessa cidade no início do século XVI.
Além de sua busca pela riqueza e poder, os espanhóis chegaram com a certeza de que sua missão era converter os povos ameríndios. Até os conquistadores mais impiedosos e poderosos acreditavam implicitamente que seu trabalho era auxiliado e seria recompensado pelos céus na causa de salvar almas para Cristo. Em geral (ainda que não invariavelmente), estavam abertos à influência dos clérigos. Os frades dominicanos e franciscanos, que às vezes acompanhavam os invasores, fizeram todo o possível para amenizar as crueldades da derrota e da exploração, e estabeleceram rapidamente suas missões como lugares de paz e de proteção. Notável entre eles foi o dominicano Bartolomé de Las Casas (1474-1566), que não teve nenhum medo na hora de debater os problemas morais e legais suscitados pelo governo colonial. Seus esforços iriam colher algum fruto nas Leis Novas, de 1542.
Embora ignoradas muito frequentemente, pelo menos proporcionaram um marco da proteção legal à população indígena, algo que nenhuma outra nação colonizadora se mostrou disposta a fazer naquela época. Mas nenhuma ação humana podia impedir a difusão das doenças européias nas populações nativas, que não tinham uma imunidade genética e ficaram num plano de maior vulnerabilidade ainda por causa dos transtornos socio-econômicos da conquista. Uma série de devastadoras epidemias reduziram drasticamente a população aborígine da América Central até talvez uma décima parte de seu tamanho pré-colombiano, durante o decorrer do século XVI.
Em 1492, o latinista e gramático Antonio de Nebrija (1444-1522), a principal figura intelectual do Renascimento na Espanha, apresentou a Isabel a primeira gramática impressa da língua castelhana. Com isso, tornaria sua a afirmação previsível de que “a língua é o maior instrumento do império”. Depois de um século, “Espanha” era um termo familiar para todo o mundo como termo coletivo que designava todos os territórios ibéricos sob o domínio do monarca espanhol, cujos súditos castelhanos e aragoneses se distinguiam dos demais ao ser chamados de “espanhóis”. O castelhano tornou-se a língua preferida da maioria dos aragoneses. Além disso, era a língua franca de um enorme império no além-mar, e conhecida e aceita por toda a Europa com o nome de espanhol.
O legado de um reinado conjunto
Com a morte de Isabel, em 1504, os Reis Católicos haviam conseguido estabelecer seu poder real como a maior autoridade do território, muito acima da de qualquer outra corporação ou grupo. Mas os dois reis estavam muito longe de estar unidos: muitas reformas importantes, por exemplo, eram aplicadas somente a Castela; as instituições de Aragão permaneciam em sua maior parte sem mudança alguma. O mais significativo sobre as conquistas dos Reis Católicos talvez tenha sido o [71] fato de que seu reinado conjunto - que era baseado em uma série de acordos escritos que dividiam entre eles uma série de responsabilidades específicas - tenha durado 35 anos. Foi tempo suficiente para permitir que os grupos poderosos de ambos os reinos se acostumassem com as rotinas regulares de colaboração.
Isabel e Fernando haviam se casado em Valladolid, uma próspera cidade da Castela, a Velha localizada em uma região de cereais, viticultura e gado ovino. Embora nunca tenha sido uma capital oficial, Valladolid sempre foi o centro principal de poder, uma das muitas cidades que floresceram graças à exploração das possibilidades econômicas da paz interior que haviam criado. A este respeito, os Reis Católicos conseguiram o que haviam pretendiam. Tiveram menos sucesso em outros aspectos. No início de seu reinado, haviam rezado para que Deus lhes desse um filho que herdasse ambos os reinos. A sucessão parecia estar garantida pelo nascimento de João, em 1477. Quando João morreu repentinamente, em 1497, e seu próprio filho póstumo também pereceu, a política viu-se envolvida em uma grande confusão. A sucessão não estava clara, e os grandes nobres ainda não haviam sido completamente domados. A sobrevivência do nascente estado espanhol estava muito longe de estar garantida.
Progressos em Portugal
A história de Portugal em seu avanço do século XV ao XVI esteve marcada também pelas lutas e pelas conquistas. A aceitação, por parte de Alfonso V, da união das coroas de Castela e Aragão pelo Tratado de Alcáçovas (1497) marcou um ponto culminante, porque significava abandonar suas reivindicações do trono de Castela como preço para restabelecer a paz. Alfonso caiu em uma profunda depressão depois deste fracasso. Já havia decidido abdicar, quando foi surpreendido pela morte, em 1481.
Já incapaz de intervir na política castelhana, as únicas possibilidades de expansão de Portugal estavam agora para além do mar. No entanto, até ali havia limitações. Em Alcáçovas, Portugal viu-se obrigado a reconhecer as posses espanholas das Ilhas Canárias em troca do Açores, das Ilhas de Cabo Verde e Madeira e o reconhecimento de seu monopólio das terras e das passagens para o Leste no continente africano. Quase imperceptivelmente, o crescente poder de Castela-Aragão tirou Portugal de sua órbita, o que antes era uma colaboração livre entre [72 iguais, adquiriu depois crescentes sinais de dependência e até de subordinação deste último.
João II (1481-95) foi um monarca decidido e capaz, cuja primeira meta - como a dos Reis Católicos - foi reivindicar a supremacia real diante de uma nobreza cada vez mais desordeira. Convocou imediatamente as Cortes e exigiu um juramento de lealdade, que desagradou sobremaneira os nobres mais poderosos. Ao mesmo tempo, pediu que fosse estendido o alcance da justiça real, enquanto tirava a dos nobres. Mas foi exatamente onde Isabel e Fernando alcançaram suas metas e obtiveram o apoio político e estabeleceram meticulosos procedimentos legais que João defendeu frequentemente suas demandas com a ponta da espada. Sua frenética perseguição aos inimigos aniquilou completamente várias famílias eminentes e enfraqueceu a classe governante. De qualquer modo, o efeito final de sua política foi pouca coisa diferente dos meios mais persuasivos dos Reis Católicos. No final da década de 1480, a coroa portuguesa havia reduzido espetacularmente o poder da nobreza e havia se lançado para grandes vitórias.
A exploração do além-mar e sua consequência, o comércio, receberam um novo impulso com João II. Foram feitos esforços para descobrir uma rota marítima para a índia, a fim de conseguir o controle do rico comércio árabe em especiarias. Em 1482, os exploradores portugueses ao longo da Costa Oeste da África haviam penetrado no Congo, e em 1487-88 uma expedição comandada por Bartolomeu Dias (c. 1450-1500) conseguiu dobrar o Cabo da Boa Esperança e chegar à Costa Leste da África. Dez anos depois, Vasco da Gama (c. 1460-1524) seguiu a mesma rota e continuou em direção leste até alcançar a costa da índia. A descoberta da rota marítima direta da Europa até a Ásia trouxe para Portugal grandes benefícios comerciais, e fixou as bases de seu império de além-mar no Oriente.
Manuel, o Afortunado
Em 1490, o herdeiro do trono português, Alfonso, caiu de um cavalo e morreu. João II, “o Príncipe Perfeito”, morreu dez anos depois, para ser sucedido por seu primo, Manuel I (1495-1521). O novo rei - que recebeu o apelido de “o Afortunado”- herdou uma monarquia firmemente estabelecida e um império colonial em pleno crescimento. Embora não menos preocupado com seu poder que João, Manuel apaziguou as tensas relações [73] com a nobreza e devolveu-lhes terras e propriedades. Fortaleceu a posição da coroa concedendo novas e revisadas cartas às cidades, tomando para si o controle das ordens militares e codificando a lei, passando desta forma a administração para as mãos de uma classe profissional.
Durante o reinado de Manuel, as descobertas no além-mar transformaram-se em conquistas: houve mais de 250 saídas de barcos só de Lisboa até a índia. A viagem de ida e volta demorava pelo menos um ano e meio em navios lotados e em mau estado, e os naufrágios eram frequentes. Eram construídos navios, castelos e fortalezas para proteger as novas posses no além-mar e o valioso comércio que produziam: especiarias do Oriente, ouro (e depois escravos) da África, açúcar da Madeira, de São Tomé e, finalmente, do Brasil. Em casa, a recente autoconfiança da sociedade portuguesa via-se refletida no novo estilo de arquitetura manuelino, altamente enfeitado, que pode ser visto nos mosteiros de Batalha e Tomar e na Torre de Belém na foz de Lisboa. Assim como o estilo plateresco, comum na Espanha daquela época, misturava imaginativamente detalhes árabes e cristãos para criar um forte estilo próprio; alguns viram até influências indianas em sua exuberante decoração.
Manuel não perdeu as esperanças de unir a totalidade da Península Ibérica sob a dinastia dos Avis, e casou-se três vezes com a linha real castelhana, em sua infrutífera busca para consegui-lo. Sua primeira esposa, Isabel, era a filha mais velha de Fernando e Isabel (posteriormente, Manuel casou-se com Maria, irmã de Isabel, após a morte desta, em 1498). Como condição para seu primeiro casamento, os Reis Católicos exigiram a expulsão dos judeus de Portugal, muitos dos quais haviam sido expulsos anteriormente da Espanha, em 1492. Em outubro de 1497, os judeus - como na Espanha, intelectual e economicamente membros importantes da comunidade - foram reunidos em Lisboa para ser embarcados. Alguns foram convertidos à força e assim proibidos de abandonar Portugal; outros, que resistiram, receberam permissão para ir embora. Os conversos, ou “novos cristãos”, foram úteis para a coroa e, portanto, protegidos por ela, mas em geral eram vistos com suspeita e preconceitos; muitos foram mortos durante as revoltas antijudaicas de Lisboa, de 1506.
Uma herança precária
Após a morte de Isabel de Castela, em 1504, Fernando continuou como governante de Aragão; sua filha mais velha sobrevivente, Joana, herdou a coroa de Castela. Em 1496, havia se casado com Felipe, filho do imperador Maximiliano I e - por meio da mãe, Maria de Borgonha - governante dos Países Baixos. As dúvidas sobre a estabilidade mental de Joana fizeram com que Isabel, em seu testamento, tivesse garantia de que Fernando atuaria como regente de Castela até que o filho de Joana (o futuro Carlos V), nascido em 1500, alcançasse a maioridade. Muitos grandes castelhanos, que se ressentiam em ter de aceitar o governo de um regente aragonês, respaldaram entusiasticamente a reivindicação do trono feita por Felipe, e Fernando foi obrigado a retirar-se. Felipe I de Castela (1504-06) morreu pouco depois de ocupar o trono. Ainda que sua viúva não estivesse evidentemente capacitada para governar, os grandes opuseram-se à volta da autoridade de Fernando. Através de decretos promulgados em Toro, Zamora, em 1505, Joana renunciou ao controle sobre as propriedades dos nobres e às heranças legais introduzidas por Isabel. Reapareceram os exércitos privados; muitas cidades reagiram armando-se também.
Enquanto isso, Fernando deu os passos necessários para negar o controle de Aragão aos Habsburgo, [75] casando-se com uma princesa francesa, Germaine de Foix. Quando ela ficou grávida, em 1508, a sucessão unitária e, assim, a realidade política de uma Espanha “unida” viu-se novamente afundada na incerteza. No entanto, seu filho sobreviveu menos de um dia. Isto, e a determinação de Joana de não se casar novamente, significou que só a presença de Fernando e a sucessão do infante Carlos podiam garantir a ordem em Castela. Em 1507, a pedido das Cortes, Fernando voltou como regente, e não perdeu tempo reprimindo os poucos nobres que se opunham ao acordo. Em 1510, as Cortes concederam-lhe poderes para manter um modesto exército profissional, que utilizou para conquistar o reino de Navarra, em 1512, uma região com muitos falantes da língua basca aliada à França; a parte do reino ao norte dos Pirineus continuou sendo independente. Foi a primeira conquista territorial dentro da península desde a queda de Granada, e restabeleceu boa parte do prestígio da aliança Castela-Aragão.
Religião, cultura e intelectualidade
Os observadores contemporâneos, em grande parte, não consideraram esses anos de perigos e disputas após a morte de Isabel como uma crise no desenvolvimento de uma Espanha unida, mas sim como uma volta a um estado mais normal das coisas. No entanto, algumas pessoas tinham uma vaga consciência sobre a Espanha - ou da dinastia espanhola governante - como uma entidade política emergente desejável, e trabalharam para preservar a integridade da autoridade monárquica per se. A mais importante destas figuras foi o cardeal Cisneros, o veterano arcebispo de Toledo, a maior e mais rica das dioceses de Castela. Cisneros, um nobre menor que se tornou franciscano, combinava as melhores qualidades de sua posição e época: a tendência para a simplicidade das ordens mendicantes, o instinto de estadista do alto clero e a atitude ampliada para a erudição da Igreja do Renascimento. Quando jovem, cumpriu com sua missão no Magrebe; na meia-idade, reformou sua própria ordem religiosa; na velhice, respondeu à chamada de Isabel e tornou-se seu aliado mais próximo na reforma. Posteriormente, como ministro de Fernando em Castela, governou justa, porém firmemente, para preservar a reforma e a autoridade real.
Cisneros foi um erudito e um mecenas de eruditos, cuja obra forma um vínculo entre as correntes intelectuais da Espanha medieval e o enfoque humanista e crítico do Renascimento italiano. Fundou a Universidade de Alcalá de Henares, próxima de Madri. Ali, à custa do próprio Cisneros, foi produzida a Bíblia Poliglota, uma colaboração entre eruditos hebreus, gregos e latinos e a mais esplêndida conquista da erudição do Renascimento primitivo espanhol e das técnicas de impressão; foi o último grande gesto do espírito de convivência. No entanto, não deixa de ser um paradoxo que Cisneros tenha sido também inquisidor general, o responsável pela imposição da ortodoxia religiosa; nesta função, supervisionou a reforma da Igreja castelhana, introduzindo muitas melhoras que anteciparam as reformas do Concílio de Trento (1545-63), convocado para definir os ensinamentos católicos e a reforma das práticas da Igreja em resposta ao crescimento do protestantismo no Norte da Europa.
Essas atividades criaram uma atmosfera que deu origem ao grupo dos clérigos mais formidáveis intelectualmente e dinâmicos politicamente da Europa do início do século XVI: pensadores humanistas como Juan de Valdés (1490-1541) e Juan Luis Vives (1492-1546), o estudante e colega de Erasmo de Roterdã (1467-1536); legisladores e críticos sociais como Bartolomeu de Las Casas; e inovadores organizativos como Inácio de Loyola (1491-1556), o soldado transformado em asceta e teólogo que fundou a Companhia de Jesus (os jesuítas), em 1539. A ordem jesuíta, embora influenciada em alguns aspectos pelos modelos italianos, deveu pouco à influência do Renascimento. O próprio Loyola era de Navarra, e depois de sua “conversão” dedicou-se a ensinar na universidade dominada pelos escolásticos da Sorbonne, em Paris. Seus discípulos foram associados a um movimento ascético de reforma dentro da Igreja e à reconversão evangélica fora dela. A dinâmica da ordem era uma total dedicação e disciplina; mas seu desenvolvimento era tão profuso que no terceiro quarto do século XVI já havia levado o enfoque espanhol das práticas católicas a quase todas as partes do continente europeu, e na época da segunda sessão do reformador Concílio de Trento (1560-1563) os jesuítas chegaram quase a dominar os principais debates da Igreja Católica sobre a revisão e o polimento dogmáticos.
A fonte do talento do “Renascimento” espanhol foi a Universidade de Salamanca que, até certo ponto pelo menos, era um centro de humanismo e gostos artísticos florentino. Seu mais famoso professor foi Antonio de Nebrija, um importante defensor do humanismo, que atraiu para a Espanha vários luminares procedentes da Itália. Colocou-os nas principais cátedras da universidade e nas tutorias da corte. O currículo de Salamanca era liberal e “adiantado” de acordo com todos os padrões da época, uma tendência que alcançou seu apogeu no período do filósofo Luis de Leon (1536-1591). Os novos prédios da universidade, como os das novas fundações em Valência e Alcalá de Henares, eram diferentes versões locais da toscana vernácula. No entanto, jesuítas e dominicanos - frequentemente divididos em outros assuntos - uniram-se aqui em suas suspeitas sobre os aspectos anti-clericais do humanismo. A última ordem era poderosa em Salamanca e em outros centros acadêmicos (e, com [77] certeza, cobria os grupos da Inquisição). As tendências independentes críticas representadas por Erasmo - cuja influência nas universidades era maior que a de qualquer pensador italiano, em parte devido aos crescentes laços de Castela com os Países Baixos - eram vistas como especialmente perigosas, e finalmente foram eliminadas. Por esta e outras razões, a aprendizagem humanista e as aspirações artísticas na Espanha continuaram permanecendo no seio da Igreja Católica, em um grau que não era encontrado nem na Itália, nem sequer na França. Assim, a “Idade de Ouro” da música, da literatura e da pintura forjada em meados do século XVI foi inspirada por uma intensa convicção religiosa e alimentada pelas instituições da própria Igreja. Pode ser que isso não tenha animado o desenvolvimento de uma sociedade intelectualmente pluralista, mas certamente contribui com imensas reservas de saber para o catolicismo espanhol.
Mais de 20 universidades foram fundadas em Castela no decorrer do século XVI. Os graduados (letrados) foram ocupando cada vez mais postos na nascente administração pública, tendo sido excluída deste processo a alta nobreza. Na década de 1520, Francisco de los Cobos (c. 1477-1547), um protegido de Cisneros e fidalgo de uma pequena cidade da Andaluzia, ascendeu firmemente até tornar-se o líder do conselho de Castela. Sua carreira moldou a aliança que estava sendo formada entre a nobreza inferior e a coroa, da qual o conselho de Castela foi a principal manifestação política.
Expansão pela guerra e pela diplomacia
Embora contando frequentemente com a sorte, os surpreendentes dotes de Fernando como político tornaram-se evidentes tanto no campo internacional quanto no interno. Adquiriu um forte status e reconhecimento na Europa casando seus filhos com as casas reais de Borgonha, Portugal e Inglaterra. A aliança com Castela fortaleceu, em conjunto, o governo em Aragão, pelo menos no sentido de melhorar a posição da coroa com relação a seus tradicionais oponentes: a nobreza feudal e os interesses comerciais da Catalunha. No entanto, os privilégios (foros) de Aragão obrigavam seus governantes a agir por meio da negociação, e Fernando teve muito cuidado em não dar a impressão de ameaça a seus oponentes com a força militar de Castela. Uma vez terminada a guerra com Granada, mobilizou suas grandes reservas militares fora da península.
Sardenha e Sicília eram tudo o que restava da época do extenso império aragonês no Mediterrâneo, mas em 1493, Carlos VIII da França (1483-98) - que planejava uma invasão à Itália - aceitou devolver o Roussillon, ao norte dos Pirineus (perdido durante as guerras civis catalãs da década de 1460) a Aragão, em troca da proteção de seu flanco sul. Um ano depois, no entanto, Fernando não hesitou em responder o pedido de ajuda do Papa contra a França na Itália. Durante as campanhas seguintes, o exército de Castela-Aragão foi treinado na força mais eficiente da Europa graças ao “Grande Capitão”, Gonzalo Fernández de Córdoba (1453-1515). A recompensa pela intervenção de Aragão foi o enorme reino de Nápoles, adquirido em 1503. A mensagem dos terços - os regimentos espanhóis - e da própria Espanha foi levada na ponta de uma lança ao longo de toda a península italiana, para ser detida somente pela vitória francesa de Marignano, em 1515.
Fernando governou Castela como regente até sua morte, no início de 1516. De forma tipicamente medieval, tentou resolver todas as eventualidades, insistindo na custódia de seu neto Habsburgo mais novo, que tinha o mesmo nome que ele e foi mantido em Aragão. Mas em seu testamento, deixou formalmente Aragão não para seu filho homem mais velho, Carlos de Habsburgo, mas sim para sua herdeira direta, a rainha Joana, concedendo a seu filho ilegítimo, Alonso, a regência. Até seu último suspiro, um dos fundadores da Espanha ficou fundamentalmente inseguro sobre a natureza e o futuro do que havia criado.
Carlos I: uma sucessão difícil
Carlos de Habsburgo, herdeiro legal do trono de Castela, permaneceu em seu local de origem, os Países Baixos, durante a regência de Fernando, ainda que tenha alcançado a idade legal em 1514. Pouco depois da morte de Fernando, após dois anos, Carlos - agora Carlos I da Espanha (1516-1556) - chegou à Espanha pela primeira vez e desembarcou na costa de Astúrias. A morte de Cisneros naquela mesma época privou o novo rei de um conselheiro experiente. No entanto, o tutor do rei, o teólogo Adrian de Utrecht (1459-1523), havia sido enviado antecipadamente dos Países Baixos para estabelecer contato com Cisneros e Francisco de los Cobos, a fim de garantir a continuidade do reinado anterior. Carlos foi [78] recebido com entusiasmo tanto por aristocratas quanto pela alite urbana em Castela e Aragão, e as Cortes de ambos os reinos reuniram-se para jurar-lhe lealdade.
Este princípio de promessas se viu logo prejudicado por uma série de erros crassos. Os conselheiros valões de Carlos foram recompensados por seus serviços com cargos adquiridos à custa do estabelecimento existente. Os sentimentos ruins foram agravados pelo pedido de fundos para que Carlos conseguisse a vitória nas eleições imperiais posteriores à morte de Maximiliano I, em 1519. Eleito como imperador Carlos V, suas novas responsabilidades exigiram logo sua presença na Alemanha. Antes de subir a bordo de seu navio, em 1520, Carlos convocou as Cortes em Santiago com muito pouco tempo: os representantes viram-se forçados a aceitar os enormes aumentos dos impostos castelhanos, mas nada foi feito para amenizar os danos que já estavam causando revoltas nos distritos. Quando o novo rei abandonou a Espanha, muitos temeram estar entrando em uma era de absentismo real e exploração.
O ressentimento terminou em rebelião. A revolta dos comuneiros começou em Toledo, onde o arcebispado, a fonte dos patronatos, havia sido dado ao sobrinho de um dos ministros valões de Carlos, enfatizando assim a dominação do governo pelos estrangeiros. A revolta expandiu-se rapidamente de cidade em cidade. Havia ressentimento diante da usurpação de cargos, fúria diante dos novos impostos e exasperação entre as comunidades que esperavam a presença regular de seu governante. Mas a rebelião não foi simplesmente a expressão de um ultraje chauvinista: foi marcada por amargas disputas entre as facções locais.
Os corregedores foram, em geral, incapazes de conter a rebelião. No entanto, a influência dos fidalgos leais impediu que se apoderassem de algumas cidades, como Burgos, Palência e Valladolid. Felizmente para Carlos, seu ministro mais competente, Adrian de Utrecht, ficou como regente. Adrian garantiu habilidosamente concessões para os grandes, e quando a rebelião começou a adquirir um caráter antiaristocrático, conseguiu mobilizar seu apoio para derrotar o exército rebelde em Villalar, em 1521. Enquanto isso, em Valência, a inquietação econômica e política foi o estopim de outra revolta. A rebelião dãgermanía (irmandade) foi uma guerra desconexa entre bandos rebeldes baseada em grêmios artesãos, de um lado, e seus amos burgueses-aristocratas, de outro. De Valência estendeu-se a Maiorca, antes de ser reprimida finalmente em 1522.
Paz e estabilidade na Espanha
Carlos voltou para a Espanha, enquanto as rebeliões entravam em colapso. Desta vez, permaneceu durante mais de sete anos, acostumando-se com a Espanha e acumulando reservas de boa vontade. Ele e seus conselheiros - o chanceler Mercurino Gatinara (1465-1530), e o secretário Francisco de los Cobos (Adrian de Utrecht havia sido eleito papa naquele momento, com o nome de Adriano VI) - construíram um sistema conciliar de governo, estabelecendo primeiro um conselho de Estado (1522) que supervisionasse e coordenasse os assuntos dos diferentes reinos espanhóis, e depois um conselho financeiro (1527). A medida que o serviço real se expandia, a classe dos fidalgos letrados foi a principal beneficiária.
Em 1529, os progressos que Carlos havia conseguido na Espanha lhe permitiram retomar para suas outras obrigações na Europa. Em sua ausência, a efetividade do governo foi mantida por De los Cobos, junto com a esposa portuguesa de Carlos, Isabel (1503-39), irmã de João III, e depois seu filho Felipe (nascido em 1527). Ainda que Carlos exigisse mais e mais impostos castelhanos - os impostos aumentaram dez vezes só na década de 1530 -, parece que houve poucos protestos. Diz-se que sob o reinado de Carlos V - que passou apenas 16 de seus 40 anos de reinado na Espanha - “o país quase não teve história interna”. Após as revoltas de 1521, houve apenas uma benéfica paz interior.
O desenvolvimento da administração real centralizada durante estes anos foi, em parte, a resposta para uma economia em expansão. A agricultura melhorou em várias regiões. Grandes regiões do Sul abriram-se para o cultivo da videira (proibido pelos muçulmanos) e da oliveira, para cobrir a crescente demanda de vinhos e azeites da América e Europa. O arroz, introduzido originalmente na península pelos muçulmanos, estabeleceu-se como uma das principais plantações em Valência. A substituição do boi pela mula como animal de tração, embora tivesse alguns inconvenientes, ajudou a melhorar a produção de cereais e o aumento dos benefícios agrícolas. Em meados do século XVI, o país tinha quase cinco milhões de ovelhas. A lã de merino espanhola era a mais procurada na Europa, resultando no aumento constante dos preços das matérias-primas da indústria interna de lã. De qualquer modo, surgiram prósperos centros de manufatura ao redor de Segóvia e Toledo. Além da lã, as principais exportações da Espanha eram o sal (dos maiores depósitos da Europa), a pele e o couro, a seda e outros artigos de luxo.
O constante crescimento do comércio atlântico continuou alimentando o desenvolvimento de Sevilha, e os portos de Santander e Bilbao expandiram-se também nesta época graças ao comércio, à construção [79] de embarcações e a uma crescente indústria pesqueira. No coração de Castela - considerada tradicionalmente como a região menos comercial da Espanha - aconteciam as feiras comerciais mais completas em Medina del Campo e Burgos. Em meados do século, a economia de Castela estava fortemente vinculada à do Norte da Europa através do grande centro de distribuição de Amberes, nos Países Baixos, enquanto Aragão se beneficiava de suas ligações com a Itália. Econômica, cultural e politicamente, a Espanha havia se tornado uma parte integrante da mais ampla comunidade européia, ao mesmo tempo que continuava expandindo seu império para o outro lado do Atlântico. Foi palpavelmente uma Idade de Ouro, com uma surpreendente riqueza mineral que chegava anualmente da América, grandes campos de cereais que enriqueciam o interior e enormes benefícios da indústria de criação ovina. Não é de se estranhar que o mais importante símbolo de Espanha tenha sido o do Velocino de Ouro, a ordem de cavalaria de elite de Carlos V, que unia seus súditos da Espanha e de Borgonha.
Guerra na Europa
Fora da Espanha, a única extensão da coleção de territórios e direitos de Carlos V, conquistada principalmente através da diplomacia, teve de ser defendida constantemente pela guerra. Além disso, Carlos era muito consciente de seus privilégios e responsabilidades como líder cristão da Europa transitória. Imperador-soldado, segundo o padrão épico, respondeu com vigor (e em sua juventude com ansiedade) a cada um dos desafios. A expansão do poder dos Habsburgo foi particularmente ameaçadora para a França. Carlos controlava não só a Espanha na fronteira pirenaica, mas também a Lombardia a sudeste da França e Borgonha nas fronteiras norte e leste. A competição franco-espanhola havia brotadojá no reinado de Fernando, nas guerras da Itália e nas escaramuças em Navarra e em outros encraves na fronteira dos Pirineus, das quais a Espanha pareceu sair com os melhores prêmios. Agora estava instigada pela rivalidade dinástica - e pessoal - entre Carlos e Francisco I (1515-47), o rei da França, também guerreiro. Henrique VIII da Inglaterra (1509-47), o terceiro grande governante da época na Europa, mostrava-se tradicionalmente oposto à França e, além disso, havia sido atraído para o terreno de Carlos através de seu casamento com a tia do imperador, Catarina de Aragão (1485-1536), a filha mais nova de Fernando e Isabel.
Francisco sentiu-se incentivado em suas constantes tentativas de enfraquecer o poder dos Habsburgo por dois fenômenos coincidentes: a primeira cisão importante na estrutura religiosa da Europa, a Reforma Luterana, e um embate do poder e da ambição dos turcos otomanos. Embora fosse estritamente ortodoxo em sua religião, Francisco ofereceu apoio político e ajuda financeira aos príncipes dissidentes da Alemanha, quando estes foram submetidos à pressão por parte de Carlos V para que desautorizassem o movimento de reforma de Lutero, nos anos 1520. Simultaneamente, a ofensiva otomana comandada pelo sultão Solimão I (o Magnífico, 1520-66) alcançou um temido apogeu com a derrota das forças húngaras dos Habsburgo em Mohács (1526), após a qual enormes trechos do Leste e do Sudeste da Europa caíram em mãos muçulmanas. A escala dos compromissos militares de Carlos eram agora enormes e sem precedentes. Enquanto lutava para manter a linha mais próxima à terra no Leste, foi chamado para frear a maré de avanço turco no Mediterrâneo. Seu triunfo em Tunis, em 1535 - em uma campanha que foi o protótipo da expedição de operações combinadas, pelas quais iria ser celebrada a potência espanhola - intensificou as demandas sobre os recursos das terras e sobre os súditos de Carlos, sobretudo na Espanha.
A rivalidade entre Carlos e Francisco remontava à eleição imperial de 1519, quando ambos se apresentaram como candidatos. Em 1525, Francisco I foi derrotado pelos terços espanhóis de Carlos na Batalha de Pavia, na Itália, e feito prisioneiro na cidade de Madri, nas profundezas do coração de Castela; sua libertação só foi realizada depois do pagamento de um alto resgate e da promessa de que se comportaria no futuro. A inimizade assim engendrada entre os dois reis rendeu frutos na decisão de Francisco de colocar os estaleiros reais de Tolón à disposição da frota otomana: a Espanha consideraria isto uma ofensa política capital durante muitas gerações. Em 1541, o imperador preparou outra expedição contra a Argélia, o principal aliado árabe de Solimão, cujos navios lançavam incursões constantes contra a costa espanhola. Carlos reuniu recursos de todos os lados e mobilizou alguns dos maiores comandantes da época, entre eles o Duque de Alba (1507-82), o capitão genovês Andrea Doria (1466-1560), e também o conquistador do México Fernando Cortez (1485-1547), em uma espetacular volta final..., mas o resultado foi o mais absoluto dos desastres. Carlos culpou Francisco por esta sangrenta humilhação, e embora seu inimigo tenha morrido, em 1547, a França foi considerada responsável também pela frustração política e militar do imperador, vencido pela liga rebelde luterana na Alemanha (1552). Como Francisco fez com Henrique II da França (1547-59), Carlos passou sua vingança como um legado a seu principal herdeiro, Felipe II da Espanha (1556-98).
Felipe II: transição e transformação
Em 1556, Carlos V tomou a decisão transcendental de abdicar como rei de Castela e Aragão a favor de Felipe. Também renunciou ao Sacro Império Romano a favor de seu irmão, Fernando. Ao fazer isto, admitia que seu império europeu era uma impossibilidade prática. Em vez disso, Carlos via uma fraternal divisão de lideranças entre dois ramos da dinastia dos Habsburgo: uma monarquia dual, que atuaria de certo modo como Aragão-Castela, mas em uma escala muito maior. Consequentemente, insistiu para que os Países Baixos, partes da Borgonha e o ducado de Milão fossem passados para Felipe em vez de ser absorvidos pelo patrimônio alemão do Sacro Império Romano. Queria manter o estribo estratégico sobre a França que o controle unitário das terras ao redor garantia, porém seus planos reconheciam também os dons políticos e marítimos de seus súditos ibéricos, e os laços culturais que os uniam aos Países Baixos. Mas outro fator tinha mais importância ainda para Carlos. Considerava uma grande falha a incapacidade de impedir a difusão do protestantismo pela Europa. Durante toda a sua vida, Carlos havia sido um egoísta dinástico, mas diante da morte desejou fazer as pazes com Deus. Da mesma maneira que desejava fazer penitência vivendo o resto de seus dias no humilde retiro de um mosteiro espanhol, também desejava que a herança de Felipe, livre de manchas heréticas, agradasse aos olhos de Deus.
Enquanto Carlos iniciava a dolorosa viagem para seu último lar no Mosteiro de Yuste, no campo da Extremadura, Felipe II permaneceu nos Países Baixos para cuidar dos assuntos de seu interesse. Isto incluía derrotar os franceses na melhor tradição do imperador-guerreiro, na Batalha de São Quintín (1557). Quando voltou para a Espanha, em 1559, tanto seu pai quanto sua segunda esposa, Maria I da Inglaterra (1553-58), que não havia [81] lhe dado filhos, haviam morrido. Poucos monarcas marcaram um reinado com seu selo pessoal tão rapidamente quanto Felipe II. Consciente de sua herança ao mesmo tempo católica e de Habsburgo, era acima de tudo rei da Espanha, e mais particularmente de Castela. Seu primeiro gesto mais significativo foi estabelecer o governo permanente em Madri (1561). Essa escolha revelava um sentido de missão: a nova capital era o centro geográfico quase exato da península. Pouco depois, iniciou a construção de sua residência permanente, o Escoriai, próximo às colinas da Serra de Guadarrama, ao norte de Madri. Ao mesmo tempo palácio, mosteiro, centro administrativo e fortaleza, o Escoriai simbolizava a tripla aliança da coroa, Igreja e forças armadas, que foram os instrumentos de grandeza da Espanha. Nascia uma corte estável; a maior parte dos grandes viu-se obrigada a recorrer a Madri para obter as honras e as preferências que eram essenciais para seus estilos de vida.
Passatempos populares e cultura de corte
Felipe II não era um intelectual, mas suas viagens de juventude pela Itália e pelos Países Baixos evocaram nele um interesse pelas artes que duraria toda a sua vida. Por toda a Europa, o mecenato real estava estimulando uma cultura especificamente de corte, que abria um abismo entre as diversões populares e as aristocráticas. A evolução da cultura popular para alta cultura ocorreu paralelamente à luta dos temas seculares para emergir de um contexto religioso, mas ambos os processos foram imensamente lentos. A pintura - talvez a mais cortesã das artes - foi o principal entusiasmo de Felipe. Herdou o gosto de seu pai por Tiziano (m. 1576), indiscutivelmente o mestre mais secular do final do Renascimento, cuja refinada sensualidade atraia o rei, e que o pintou obedientemente como um refinado sensualista. Como contraste, sentia-se repelido pelo ascético e atormentado estilo do cretense educado em Roma, Domenikos Theotokopoulos, mais conhecido como El Greco (1548-1625). Apesar de seu fracasso na corte, El Greco encontrou um forte apoio entre a sociedade religiosa e nobre de Toledo, onde se fixou.
O mais significativo talvez seja a fascinação de Felipe pelas alegorias de Hieronymus Bosch (conhecido na Espanha como El Bosco, m. 1516), o artista flamenco cujos horrores da carne refletem uma rigorosa educação cristã. Ainda que Tiziano e outras influências italianas tenham sido as que moldaram crucialmente as primeiras escolas espanholas de pintura, foi o misticismo religioso dos Países Baixos que enriqueceu mais o pensamento especulativo e a poesia espanholas desta época. Isso é evidente sobretudo nas obras da freira carmelita Teresa d`Avila (Teresa de Jesus, 1515-1582) e seu amigo e contemporâneoJ uan de la Cruz (1542-1591), ambos canonizados depois. Em sua intensa lírica, os sentimentos físicos e metafísicos subsistem de um modo paralelo: a poesia “popular” submetida à religião.
Um dualismo similar está presente na música do período, especialmente a de Tomás Luis de Victoria (c. 1548-1611). Explorou o relaxamento dos regulamentos da Igreja para produzir aspectos litúrgicos ainda mais sensualmente belos que os de seu mentor italiano, Palestrina (c. 1525-94). Até antes de Victoria, uma cultura inteiramente nativa havia lançado Antonio de Cabezón (1510-1566), que produziu variações (diferenças) deste primeiro grande florescimento europeu em suas composições para teclado. Fora das igrejas, os romances e canções (baladas) do campo foram captados e adaptados por compositores como Luis de Milan (c. 1500-1561), que os utilizaram encaixando versos de poetas urbanos. Em consonância com isso, a música popular permeou os mundos do teatro e da literatura; na geração seguinte, o maior de todos os romances da Idade de Ouro, o Quixote, iria ser semeado por referências musicais muito conhecidas.
A atividade artística viu-se estimulada não só pelo exemplo real e pela criação de uma corte permanente, mas também pela crescente generosidade do mecenato da Igreja; o manancial de ambos foi a prata americana. No mundo fora dos grandes palácios e das igrejas da moda, as diversões populares continuavam sendo uma força vital. Boa parte delas vinha amplamente das celebrações religiosas, especialmente do gênero drama, que progredia rapidamente. Aqui, o pioneiro foi o poeta cortesão português Gil Vicente (c.1465 - c.1536), que deixou 44 obras ainda conservadas, entre elas 11 completamente (e outras 17 parcialmente) escritas em castelhano; iriam ter uma grande influência no desenvolvimento da cena espanhola. Embora depois tenha se transformado em uma forma de arte cortesã, na época da ascensão ao trono de Felipe II, o drama pertencia ainda às ruas das cidades. Os pátios das tabernas e das praças eram usados como arenas improvisadas (currais) para espetáculos que incluíam espontaneamente canções e bailes populares. Uma só atuação podia ser presenciada por mil ou mais clientes particulares. Durante o reinado de Felipe, os autos tradicionais com temas religiosos começaram a ser complementados por obras mais seculares (comédias) com argumentos históricos.
Mais explosivo ainda foi o desenvolvimento da tradição oral genuinamente “popular” de contar estórias - na qual eram entrelaçados relatos humorísticos e boatos, [83] normalmente com uma moral ao final - na novela picaresca. A primeira e mais famosa edição de relatos picarescos, A vida de Lazarillo de Tormes, publicada em 1554, relata episódios da vida de um menino nascido nos bairros periféricos de Salamanca, que ascende socialmente até tornar-se um pregoeiro. Esta estória de farrapos a riquezas iria fixar o cenário para uma surpreendente era, vivamente documentada, de interação social e cultural da Idade de Ouro espanhola.
Renovação da guerra santa
Os assuntos internacionais dominaram o reinado de Felipe. Desde o início, a Espanha enfrentou três desafios: a guerra não terminada contra a França, o avanço do protestantismo e a expansão do poder otomano. A paz com a França foi conseguida através do Tratado de Cateau-Cambrésis (1559), que confirmou o controle espanhol sobre a Itália e deixou intacta a fronteira com os Países Baixos: a França viu-se logo paralisada por uma longa sucessão de guerras civis, que duraram até 1595. A ameaça da heresia protestante importada da Espanha foi também interrompida rapidamente. Em uma atmosfera de frenesi popular, a Inquisição cauterizou várias células protoprotestantes, notavelmente em um auto-de-fé em Valladolid, ao qual assistiu Felipe em sua primeira aparição pública como rei. O terceiro desafio era menos fácil de confrontar. O poder otomano no Mediterrâneo aproximou-se perigosamente da Espanha em 1558, quando uma frota turca - do tamanho mais de uma força invasora que de um grupo de incursão - desembarcou em Menorca, destruiu Ciudadela, saqueou a ilha e levou consigo milhares de súditos de Felipe. De repente, a Espanha ficou na primeira linha de uma nova guerra santa islâmica.
A reação de Felipe foi imprudente. Esquecendo-se da desastrosa aventura de seu pai na Argélia (1541), [84] organizou rapidamente uma expedição para tomar e fortificar Gerba, próxima da base tunisiana do principal aliado árabe dos turcos. A ideia era boa - fechar o Mediterrâneo Ocidental mas o resultado foi uma humilhante derrota, embora Felipe tenha aprendido a lição e preparado todas as suas operações seguintes com meticulosa precisão. A década de 1560 foi dedicada a investir contra a maré turca. O ponto central foi Malta, que se viu cercada por tropas muçulmanas, em maio de 1565. Houve uma extensa campanha para salvar a ilha, utilizando as reservas financeiras e de homens da Catalunha e Valência. Se os turcos otomanos tomassem Malta, dirigiriam sua atenção para as regiões mediterrâneas de Aragão, Sicília e Nápoles. Assim, esses reinos contribuíram para a construção de uma grande frota de galés. Na década de 1570, Felipe tinha mais de cem galés só na frota espanhola; Malta havia sido salva, e havia sido formada uma “Liga Santa” entre Espanha, o papado e Veneza. A espantosa vitória naval da Liga Santa sobre a frota otomana em Lepanto (1571) foi a última grande vitória do cristianismo, mais da metade financiada pela Espanha e vencida principalmente graças às armas espanholas.
Durante as últimas etapas desta campanha, a Espanha teve de enfrentar um repentino ataque pelo flanco. Em 1569, os mouriscos de Granada, que ficavam nas remotas Montanhas da Alpujarras, começaram uma rebelião. As autoridades locais contra-atacaram. Reforços árabes começaram a cruzar o Estreito de Gibraltar, e não demorou a se espalhar pela Andaluzia uma guerra em grande escala. Felipe foi a Córdoba para supervisionar as operações, nomeando como comandante seu irmão ilegítimo Dom João de Áustria (1547-1578). Somente em 1571, após um grande custo e esforços, que a resistência foi vencida. Alguns espanhóis exigiram, aos brados, a deportação de todos os mouriscos da península, mas outros criticaram os métodos de conversão em massa e exigiram uma política de assimilação coerente. Chegou-se a um acordo: os mouriscos foram expulsos e distribuídos entre as cidades de Castela. Cerca de 80.000 foram realojados nos limites de Castela, a Nova..., de onde muitos de seus antepassados haviam fugido para Granada como refugiados durante a Reconquista. Os mouriscos estavam agora presos no meio de comunidades cristãs vigiadas, frequentemente ligados por contrato a patronos cristãos e, acima de tudo, isolados de seus correligionários no Norte da África. Com o fundo desta nova vitória sobre os muçulmanos, as celebrações por Lepanto tiveram um duplo significado e marcaram o profundo alívio e a gratidão da Espanha católica.
Dificuldades dinásticas
Embora Ciudadela e Gerba - também Argélia - tivessem sido vingadas, Felipe não se sentia com um espírito triunfal. Lepanto não se viu seguida por mais vitórias contra os muçulmanos, e o rei ficou com grandes dificuldades em casa. Nenhum de seus ministros havia ganhado sua confiança; em todo caso - seguindo os próprios conselhos de Carlos, Felipe estava decidido a não admitir nunca que a vitória de algum ministro lhe permitisse ganhar muito poder. Já que desencorajava regularmente as ambições de seus ministros, Felipe podia garantir a continuidade no governo apenas fazendo tudo sozinho. Felizmente, o caráter de Felipe era adequado à função de administrar um império de alcance mundial. Porém sua curiosidade era dificultada pelo pedantismo, que o levava a dedicar sua atenção a temas pequenos, até triviais, às vezes em detrimento do que era importante.
A desconfiança natural do rei tornava-se exacerbada pelo comportamento do filho. O infante Carlos (1545) havia mostrado preocupantes defeitos de caráter, até mesmo antes que um golpe acidental na cabeça lhe deixasse visivelmente alienado. Suas artificiosas explosões de fúria envenenavam a atmosfera da corte e interferiam no desenrolar natural dos assuntos. Quando Dom Carlos fez um complô contra a vida do pai, Felipe viu-se obrigado a prender o próprio filho por traição, uma responsabilidade que adotou de forma pessoal. O príncipe morreu depois, confinado em sua casa (1568).
Crise nos Países Baixos
Apesar dos três casamentos, a morte de Carlos deixou Felipe sem um herdeiro homem. A crise dinástica, e os problemas nas relações com o mundo muçulmano, desviaram sua atenção de um problema que, a princípio, parecia relativamente menor, mas que iria se tornar uma catástrofe para a Espanha: os Países Baixos. Felipe havia deixado sua irmã ilegítima, Margarita de Parma (1522-1586), como governadora em Bruxelas. Era capaz e habilidosa, mas não possuía uma autêntica autoridade pessoal, e sentia-se apreensiva com a complexidade de sua função. O consenso entre a nobreza local foi rompido, e homens que haviam sido altamente valorizados por Felipe em anos anteriores, como Guilherme de Orange (1533-1582) e o Conde de Egmont (1522-1568) voltaram-se contra ele. A difusão do calvinismo entre as populosas cidades comerciais dos Países Baixos despertou rapidamente a desconfiança dos governantes católicos. O ressentimento causado pelos altos impostos transformou a desconfiança em um ódio popular pela Espanha. Quando a Inquisição fez uma série de rígidas investigações, surgiram os protestos, organizados pelos nobres prejudicados, nos quais foram profanadas igrejas e destruídas imagens sagradas. Estes flagrantes desafios à autoridade e à religião obrigaram Felipe a ocupar-se, ainda que tarde, do problema. Foi nomeado um novo governador: o intimidador Duque de Alba (1507-1582), um general e rigoroso disciplinador espanhol, que sufocou a [85] rebelião com grande brutalidade. Em 1572, quando parecia que a ordem havia sido no norte dos Países Baixos. Quando esse se estendeu rapidamente entre as comunidades pescadoras da Holanda e Zelândia, Alba reagiu mais violentamente do que nunca, e comandou o massacre de Haarlem.
Governar de tal distância, e alternar compromisso com repressão, era uma receita segura para o fracasso nos Países Baixos. Apesar da criação de um sistema de comunicação militar - a “rota espanhola” transalpina, vinda da Itália, e a rota marítima através do Canal da Mancha da Espanha -, financiado por empréstimos de prestamistas internacionais, nunca puderam ser mobilizados os recursos suficientes para reprimir a rebelião. Milhares de cidadãos de Bruxelas, Gante e Amberes, no Sul dos Países Baixos, escaparam da perseguição religiosa ou dos impostos fugindo de Amsterdã e Utrecht, no Norte. Capital, habilidades industriais e experiência comercial desapareceram das supostamente “obedientes” províncias do Sul. Amberes, isolada do mar pela situação militar, caiu em declive, e as linhas de cooperação econômica entre a Espanha e os Países Baixos enfraqueceram-se. Em 1575, o nível e a amplitude de seus compromissos forçaram a coroa a declarar-se em bancarrota. Quatro anos depois, os rebeldes, comandados pela Holanda e Zelândia e sob o comando nominal de Guilherme de Orange, formaram a União de Utrecht que, após muitas vicissitudes, sobreviveu como a base de um Estado holandês independente.
O prêmio de Portugal
Embora frustrado no Norte da Europa, Felipe estava perto de conseguir uma importante vitória no Sul. Em 1581, alcançou o sonho tão almejado da dinastia dos Habsburgo de anexar Portugal a suas posses. Não poderia ter ganhado este prêmio em um momento mais oportuno. Portugal estava prosperando desde a morte de Manuel I (1521). Através do Tratado de Saragoça (1529), Espanha e Portugal resolveram as disputas pendentes sobre direitos coloniais. João III (1521-1557) tomou a decisão de ocupar o Brasil no ano seguinte, concedendo grandes extensões de terra costeiras aos colonos portugueses. O comércio colonial produzia enormes riquezas, muitas das quais iam parar diretamente na coroa através dos direitos de monopólio. Além de construir navios maiores e enviar frotas maiores às índias Orientais, havia pouca saída para os investimentos. Consequentemente, floresceram a arquitetura e as artes, e Lisboa tornou-se uma das mais importantes cidades da Europa.
Não surpreende que os portugueses tenham se destacado na elaboração de mapas e em outras áreas da ciência da navegação. O renomado cosmógrafo e matemático Pedro Nunes (c. 1502-1578) foi o responsável pelo desenvolvimento do astrolábio como um instrumento de precisão. A era das descobertas estimulou uma rica tradição literária, que ia de tratados botânicos sobre as plantas da índia a relatos de aventuras como a Peregrinação (Peregrinaje), de Fernão Mendes Pinto (c. 1510-1583); esta narração de sua vida como comerciante e marinheiro na China e no Oriente é uma exuberante mistura de sátira, observação social e fantasia. O mais famoso de todos é Luís de Camões (1524-1580). Membro da antiga aristocracia empobrecida, Camões era muito bem educado nos temas clássicos e filosofia. Quando jovem, entrou para a carreira militar e adquiriu uma reputação de vida selvagem; perdoado, em 1553, pelo rei, por sua participação em uma briga de rua, rumou para a índia e passou os próximos 17 anos no Oriente, para voltar a Portugal em 1570. Seu poema épico Os Lusíadas (As Lusíadas, em [87] referência ao nome romano de Portugal, Lusitânia) foi publicado dois anos depois. O poema, que conta as viagens de Vasco da Gama, é uma intensa celebração da história e das façanhas marítimas portuguesas, nas quais as alusões à erudição clássica e à mitologia se equilibram com realistas descrições de tempestades, batalhas e amor sensual. E a mais famosa das obras de Camões (também escreveu obras de teatro e versos líricos), e um símbolo permanente do nacionalismo português.
A influência espanhola sobre Portugal aumentou durante o reinado de João III, um homem tímido e piedoso que era dominado por sua esposa castelhana, Catarina (1507-1578), irmã de Carlos V. Animado por Catarina e seu fervoroso irmão, Henrique, o cardeal arcebispo de Évora (1512-1580), João obteve o consentimento papal para estabelecer a Inquisição em Portugal, em 1536. O primeiro auto-de-fé foi celebrado em 1540, o mesmo ano em que a Sociedade de Jesus apareceu em Portugal. Os jesuítas não demoraram a obter o controle da educação portuguesa e também ganharam grande prestígio e influência através de seu trabalho missionário nas colônias portuguesas, baseando-se nas vitórias conseguidas por São Francisco Xavier (1506-1552), um dos primeiros seguidores de Loyola, que levou uma missão a Goa, na costa ocidental da índia.
Lisboa - o centro principal do império e a capital política e cultural do país - cresceu a grande velocidade; em 1557, havia alcançado uma população de cerca de 100.000 pessoas. Os escravos das colônias formavam aproximadamente 10 por cento da população, enquanto outros habitantes eram emigrantes do campo que haviam sido atraídos pelos rumores de grandes riquezas.
O aumento do despovoamento rural causou uma séria carência de mão-de-obra agrícola, enquanto as grandes propriedades eram irremediavelmente mal exploradas por seus ausentes terratenentes. Como consequência, o país não podia produzir comida suficiente e se via obrigado a importar carne, cereais e produtos lácteos. O paradoxo de uma riqueza sem limites na corte e uma crescente estagnação nas regiões enfraqueceu seriamente a economia do país e sua viabilidade política ao longo dos séculos.
Desastre africano
Dos dez filhos de João III, apenas um sobreviveu à infância: o que tinha seu mesmo nome e se casou com Joana, a filha de Carlos V ,e morreu em 1554. Joana deu à luz um filho, Sebastião, alguns dias depois de ficar viúva. O rei morreu três anos depois, e o trono passou ao infante Sebastião, o Desejado (“el Deseado”, 1557-1578). O jovem rei, que cresceu cercado de tutores religiosos e se interessou pelas leituras de cavalaria, ficou obcecado pela ideia de uma cruzada. Fanaticamente religioso e muito teimoso, convenceu-se de que Deus o havia escolhido para libertar Jerusalém. Em junho de 1578, aos vinte e quatro anos, Sebastião partiu de navio para o Marrocos, decidido a abrir caminho lutando até a Terra Santa. Estava acompanhado por um grande e forte exército de cerca de 16.000 homens, que incluía potencialmente todos os homens adultos da nobreza portuguesa. Em 4 de agosto, quase a metade do exército, junto com o rei, foram mortos em El-Ksar el-Kebir (Alcazarquivir). Foi mais um massacre que uma batalha; muitos outros milhares foram feitos prisioneiros, e apenas poucas centenas conseguiram escapar.
Portugal ficou arruinado com a derrota. Vivo, Sebastião era geralmente considerado arrogante e inapto; sua morte elevou-o à categoria de herói nacional. Foram muitos os mitos, e muitos portugueses preferiram acreditar que o rei ainda estava vivo e levaria algum dia a nação à vitória, antes de aceitar as consequências da derrota. A reivindicação espanhola do trono vago ameaçou imediatamente a tão querida independência de Portugal. Em uma tentativa desesperada de evitar o inevitável, Sebastião foi sucedido por seu velho tio, o cardeal e inquisidor geral Henrique (1578-1580). Embora tenha sido dispensado por Roma de seus votos de castidade, o velho morreu antes de conseguir gerar um sucessor, o que deixou Felipe II da Espanha como o único candidato sério. Dom Antônio (1531-1595), filho ilegítimo de um irmão de João III, teve certo apoio, mas a oferta de Felipe de pagar o enorme resgate que o Marrocos exigia por seus prisioneiros portugueses foi mudando gradualmente a opinião a seu favor.
Unidade peninsular e a guerra com a Inglaterra
Felipe exerceu com rapidez sua reivindicação ao trono de Portugal. Em uma operação exemplar, o Duque de Alba avançou sobre Lisboa, enquanto uma frota comandada pelo Marquês de Santa Cruz (1526-88) bloqueava a boca do Rio Tejo. Dom Antônio viu-se obrigado a fugir, enquanto as tropas espanholas entravam em Lisboa. Restaurada a ordem, Felipe viajou para Lisboa e convocou algumas Cortes na vizinha Tomar, onde jurou respeitar os direitos e privilégios de seus novos súditos. Deteria os funcionários públicos existentes, nomearia portugueses para os postos vagos e manteria algumas Cortes em Portugal. A justiça, a moeda e a organização militar continuariam sendo autônomas. Em troca de tudo isso, Felipe ficou com as substanciosas rendas da falecida Dinastia de Avis e os recursos marítimos, que incluíam 12 enormes galeões de guerra. O prestígio do império português pertencia agora à Espanha; no mesmo ano, foi inaugurada uma nova colônia espanhola no Pacífico, à qual foi dado um nome apropriado: Filipinas. A monarquia católica e o império da Espanha estendiam-se agora por todo o mundo conhecido.
Fortalecido por sua nova posição, Felipe pôde adotar um enfoque mais amplo à situação nos Países Baixos. Em 1583, seu novo governador e sobrinho, Alexandre Farnésio, Duque de Parma (1545-1592), havia começado a reafirmar ali o controle espanhol. Baseando seus planos em [88] uma melhora nas relações com as províncias do Sul, Parma iniciou a reconquista do Norte, progredindo a um ritmo de duas ou três cidades-chave por ano. No entanto, em 1585, a rainha Elizabeth I da Inglaterra (1558-1603), preocupada com a perspectiva de uma declarada vitória espanhola, enviou uma força expedicionária como ajuda para os holandeses. Naquele mesmo ano, Sir Francis Drake (c. 1540-1596), com uma frota que incluía dois navios de guerra reais e uma tropa de 1.500 soldados, realizou um desembarque não provocado na Galícia e saqueou a cidade de Vigo. O desafio não podia ser ignorado; a guerra aberta era inevitável, e aguardava apenas os meticulosos preparativos de Felipe.
Em 1588, a Armada espanhola - um magnífico símbolo da monarquia espanhola no auge do poder – zarpou para invadir a Inglaterra. Nunca havia sido enviada antes uma grande frota de veleiros dotados de canhões para lutar contra outra em águas inimigas. Mas o resultado foi um desastre. O “projeto Inglaterra” custou a Felipe todo um ano de investimentos e perdas insubstituíveis de navios e homens. No entanto, longe de marcar o colapso do poder marítimo espanhol, esse fracasso estimulou Felipe a construir uma marinha mais moderna para substituí-la. Quando o fez, em 1598, a Espanha ainda estava envolvida em sua luta com a Inglaterra.
A conquista espanhola na crise
A economia e a população da Espanha foram se expandindo durante mais de um século, até alcançar cerca de oito milhões no final do reinado de Felipe. Castela tinha [89] cerca de 30 cidades com mais de 10.000 habitantes, comparada com as três da Inglaterra. Esta próspera sociedade criou as primeiras escolas de teoria econômica e política em universidades como a de Salamanca, onde as ideias do astrônomo polonês Copérnico (1473-1543) e de outros avançados pensadores estavam em todos os projetos acadêmicos. Em muitas áreas de estudo, a Espanha estava na frente de seus rivais. Não é de se surpreender, já que algumas delas estavam relacionadas com a gestão de um império de alcance mundial: cosmologia, navegação e cartografia. Castela era também cenário de importantes progressos na teoria e na prática das ciências sociais. As autoridades municipais colaboravam com a Igreja para proporcionar uma ampla gama de serviços sociais para os pobres e para os doentes, e também os grupos minoritários, como os mouriscos e os ciganos, se beneficiavam frequentemente.
Felipe II não era um déspota absoluto. Governava pelo direito, mas também pelo consenso. Assim como Isabel I, tinha de negociar com parlamentos para a concessão de impostos, mas também tinha de atuar dentro dos limites marcados por centenas de foros. A visão dos súditos ajoelhando-se ao passar o monarca - como faziam os ingleses diante da rainha Isabel - era algo que aborrecia os espanhóis, enquanto a ideia do direito divino dos reis era uma blasfêmia para os teóricos políticos espanhóis da época, que defendiam rigorosamente os princípios constitucionais. Sob Felipe, a Espanha havia se transformado no primeiro império mundial burocrático, com sofisticados sistemas de informação, uma administração pública com tamanho e padrões profissionais sem precedentes, e as maiores e mais eficientes forças armadas desde as da Roma imperial.
No entanto - apesar das muitas conquistas de seu reinado -, Felipe deixou tantos problemas que sua morte é considerada, frequentemente, como o início do notório declínio da Espanha do alto de sua grandeza. Se não ainda em decadência, a Espanha sofria certamente de uma série de problemas recorrentes na sociedade, na economia, no governo e nas finanças. Pouco disso era culpa de Felipe, e seus sucessores foram incapazes de restabelecer a situação. A constituição geofísica da Espanha, especialmente a extensão restrita e a pobre capacidade de suas terras férteis, significava que o país era incapaz de manter os níveis de população alcançados no século XVI, e muito menos expandi-los até as proporções necessárias para competir com sucesso no século XVII. Além disso, no último quarto do século XVI, as mudanças climáticas afetaram adversamente a agricultura da península, que na melhor das épocas já era precária. O crescimento da população foi freado; a Espanha tornou-se uma importadora de comida antes do fracasso generalizado das colheitas em meados da década de 1590. Quatro anos de fome (1591-1594) foram seguidos por cinco de epidemia (1596-1600). Esses desastres reduziram a população em aproximadamente 10 por cento, inaugurando um ciclo de crise de subsistência e epidemias que continuou até 1680.
Enquanto isso, o imperativo absoluto político de defender o império católico foi uma drenagem sobre os reduzidos recursos. A defesa por parte da coroa de seus interesses no Norte da Europa produziu uma incontrolável escalada de impostos, especialmente nos anos seguintes à Armada. A independência constitucional dos reinos espanhóis impedia a possibilidade de aumentar os lucros de fontes não-castelhanas. Consequentemente, o peso principal da defesa caiu sobre uma Castela destroçada pela crise, que se tornava cada vez mais incapaz de suportá-lo. [91]
A princípio, Felipe reconhecia a necessidade de reduzir as pressões da guerra. A dificuldade estava em conseguir uma “paz consciente”: cumprir compromissos diplomáticos sem perdas inaceitáveis na liderança religiosa, no território ou na reputação internacional. Em 1598, o ano de sua morte, Felipe II aceitou a paz com Henrique IV da França (1589-1610).
Um rei satélite
Felipe III (1598-1621) tinha pouco do espírito ou do talento de seu pai. Durante um tempo tentou - com certo sucesso - ordenar a confusão que a doença terminal de seu pai havia criado no governo, e continuou buscando a paz assinando tratados com a Inglaterra (1604) e a Holanda rebelde (1609), ainda que esta última tenha sido uma trégua de doze anos que na realidade não concedeu a independência. De qualquer modo, muitos espanhóis tiveram a sensação de que a Trégua de Amberes não havia sido uma paz consciente, um ponto de vista que o próprio rei acabou compartilhando também.
Após o início de seu governo, Felipe III retirou-se do governo direto. Isto foi possível graças a Francisco de Sandoval, Duque de Lerma (1553-1625), o favorito (valido) real, a quem o rei delegou o exercício regular do poder. Até aproximadamente 1612, Felipe confiou em Lerma sem nenhuma restrição. O rei era uma personalidade austera e dependia obsessivamente dos consolos da religião e do apoio de sua esposa, Margarida (1584-1611), bem como do de Lerma. Tentava fugir dos problemas da morte, da salvação e do governo caçando, um paliativo popular entre os governantes ibéricos.
Embora tenha criado uma esplêndida corte barroca em Madri, que foi muito aperfeiçoada arquitetonicamente durante seu reinado, Felipe passou relativamente pouco tempo na cidade. Durante alguns anos, transferiu, na realidade, a capital para Valladolid, principalmente para agradar Lerma, cujas propriedades e ligações ficavam próximas dali. Lerma não tinha mais interesse que seu amo nos deveres de Estado, já que estava tão preocupado com os assuntos deste mundo quanto o rei estava com os do próximo. Seu principal interesse residia em controlar o mecenato. Juntou uma grande fortuna graças às concessões diretas de terras e títulos de Felipe, e esbanjou os benefícios de um grande sistema de clientela. Lerma governou através de uma “família” de parentes e substitutos nomeados para os postos mais importantes da Igreja e do Estado. Tomou os cargos principais para si, através dos quais supervisionava o acesso ao rei, e era suficientemente poderoso para encarar vários desafios, entre eles um, em 1608, respaldado pela rainha. Embora o desafio não tenha obtido sucesso, descobriu a corrupção dos principais ajudantes do rei e acabou com a confiança de Felipe.
O sistema conciliar de governo havia alcançado um avançado estado de autonomia, e apesar - ou, talvez, por causa disso - da indiferença do rei e valido, os negócios do governo funcionavam com suavidade. De fato, ainda que afundada em uma crise socioeconômica [92] e governada por um recluso real e um favorito incompetente, a Espanha alcançou indiscutivelmente seu maior status europeu durante esses anos. Os principais postos de avanço de Nápoles e Milão estavam nas mãos de governadores aptos, treinados por Felipe II. No Sul dos Países Baixos, a filha de Felipe II, Isabel (1566- 1633), tinha soberania conjunta com seu esposo e primo Alberto (1559-1621); com um governo conjunto, conseguiram restabelecer boa parte do prestígio perdido dos Habsburgo.
Foi a guerra contra os holandeses - que alcançou o clímax na longa e sangrenta batalha de Ostende, em 1602- 1604 - que ajudou a provocar a primeira crise financeira do reino. O custo assustador da campanha obrigou Madri a rever suas finanças. Um novo e importante imposto, os milhões, havia sido introduzido recentemente, mas não conseguiu produzir os lucros esperados. A coroa estava desesperada em busca de lucros extraparlamentares, já que isso impediria as Cortes de proibir novos impostos ou utilizá-los como uma alavanca para conseguir mais concessões. A solução do governo foi desvalorizar a moeda através da emissão de uma moeda de liga (ou prata e cobre). Ainda que extremamente benéfico para o erário público, o vellón criou um verdadeiro caos na indústria e no comércio. É possível que, sem este golpe, os setores comercial e fabril tivessem se recuperado das depressões causadas pela guerra e pelas bancarrotas da coroa. Do jeito como tudo ocorreu, os altos salários e a inflação monetária afogaram os negócios. Em 1607, uma espetacular queda nas importações de prata da América obrigou o governo a declarar-se, mais uma vez, em bancarrota.
No entanto, a escassez de dinheiro vivo não era a razão principal para buscar um fim para o conflito nos Países Baixos. Mais importante era o medo de que Henrique IV da França, aliado aos holandeses e turcos, e secretamente aliado aos mouriscos ibéricos, estivesse a ponto de declarar a guerra..., um temor que só morreu com o assassinato de Henrique, em 1610. Essas suspeitas tiveram como resultado finalmente a decisão, evitada durante muito tempo, de expulsar os mouros da península. A deportação em massa ocorreu em 1609-1614, utilizando muitos homens e navios liberados das frentes de batalha do Norte pela Trégua de Amberes. A expulsão, um ato de limpeza étnica que resolveu definitivamente os problemas religiosos e raciais da Ibéria, foi saudada unanimemente pelos espanhóis como a maior conquista de Felipe III, e sua glória transcendeu o fato de que a Espanha tinha perdido mais de 300.000 cidadãos. A crescente insatisfação com a trégua holandesa obrigou Felipe a destituir seu favorito, em 1618, e o poder passou para um grupo dedicado à reforma liderada por Baltazar de Zúniga (1561?-1622) e seu sobrinho Gaspar de Gusmão, o Conde de Olivares (1587-1645), que eram tutor e governador da casa do filho do rei.
Intelecto e imaginação
Apesar de toda essa miséria interna e fracasso externo, a Espanha de Felipe III foi testemunha de um triunfo do intelecto. As atividades conjuntas de corte e igreja geraram uma autêntica explosão da atividade literária. Obras sobre história, filosofia, economia, política, poesia e drama brotaram das prensas de todas as cidades da Espanha. Os vínculos entre religião, política e literatura eram profundos. Muitos escritores pertenciam às ordens sagradas, alguns eram professores universitários e a maioria procurava emprego no governo. Tirso de Molina, autor do primeiro tratamento dramático da lenda de Don João, era na realidade o pai mercedário Gabriel Téllez (c. 1584-1648). Miguel de Cervantes (1547-1616), o autor de Dom Quixote de la Mancha, era um veterano de Lepanto - perdeu sua mão esquerda em combate - e havia ajudado a organizar a Armada. Lope de Vega (1562-1635), o dramaturgo mais prolífico da história, com 1.800 obras em seu nome, 431 das quais chegaram até nós, navegou também na Armada. Outro romancista, Mateo Alemán (1547-1610), foi durante algum tempo chefe das minas reais de mercúrio em Almadén, onde os convictos trabalhavam em condições que eram muito piores que as suportadas nos bancos das galés. Alguns escritores melhor relacionados receberam sinecuras nas casas reais, como o dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón (1580-1639) e o economista Pedro de Navarrete (1574- 1633), entre, literalmente, centenas de outros.
Os grandes nobres começavam também a valorizar o prestígio social e a vantagem política de ter um bom escritor à sua volta. Vinganças menores e até importantes temas políticos foram lutados não só com a espada, mas também com pasquins e cartazes impressos. Francisco de Quevedo (1580-1645), secretário e escritor mercenário do Duque de Osuna, era também um temido espadachim. O inimigo de Osuna, o Conde de Yillamedina, também era um poeta satírico, um dramaturgo e um notável duelista.
Sob estas circunstâncias, não é surpreendente que os comentários políticos e sociais tenham se tornado a base da literatura, embora muitos livros continuassem se preocupando com temas religiosos. Entre mais [93] ou menos 1.000 autores identificados no período de 1500-1700, mais de 400 publicaram obras sobre algum aspecto da religião. Em meados do século XVI, a longa disputa entre o jesuíta Luis de Molina (1535-1600) e seus oponentes dominicanos sobre o papel da graça divina na salvação foi seguida muito de perto por milhares de leitores. Outro jesuíta, Juan de Mariana (1536-1624), completou a primeira história importante da Espanha em 1595. Naquele momento, o alfabetismo era comum nas classes superiores; na sociedade em seu conjunto, quase um terço da população sabia ler.
Ainda que alguns destes primeiros escritores espanhóis tenham conseguido certa reputação fora do país, foi o romance de Cervantes, o engenhoso fidalgo, Dom Quixote de La Mancha (Primeira parte, 1605; Segunda parte, 1615) que conseguiu captar a imaginação de toda a Europa. As aventuras de um fidalgo menor idealista e assolado pela pobreza, que estava perdendo a cordura pelo fato de ler muitos romances baratos de cavalaria, só podia estar inserido em uma sociedade onde a literatura e o alfabetismo cresciam em importância. A combinação do romance de observação psicológica e comentários sociais mordazes prefigura o romance moderno, enquanto o tratamento de temas universais e eternos o transformam em um dos mais esplêndidos exemplos primitivos deste gênero. Cervantes explora a diferença entre aparência e realidade no agudo jogo entre o sonhador e auto-enganado cavaleiro e seu socarrão e prosaico escudeiro: Sancho Panza. De um modo semelhante, na cena, o papel cômico de um irônico escudeiro ou ingênuo camponês que pontua as pretensões do sofisticado povo da cidade foi imensamente popular na Espanha do século XVII.
Cervantes estava intelectualmente próximo dos utopistas - uma escola de escritores que defendia a reforma socioeconômica -, devido ao fato de que sua nostalgia pelas grandes gestas do passado era aguçada pela consciência das fraquezas do presente. Poucos anos antes da publicação de O Quixote, o economista González de Cellorigo (?1565-? 1615) comentou que a Espanha era “uma sociedade de seres encantados, que existe fora da ordem natural das coisas”. Estas palavras captam exatamente o espírito de O Quixote e a própria e profunda preocupação de Cervantes com as condições de seu país. No entanto, é impossível exagerar o sentimento de desengano que recaiu com frequência sobre a Espanha depois da década de 1580. Como muitos finos satíricos, Cervantes era um moralista e um patriota. Acreditava na grandeza da Espanha, na verdade de sua religião e no destino de seu povo. Os utopistas também eram otimistas incuráveis - alguns deles tão fantasticamente quanto Dom Quixote -, que trabalhavam para conseguir o restabelecimento da grandeza da Espanha. Como clérigos, acreditavam que, através da reforma moral, além de política, a Espanha poderia conseguir o retorno da ajuda divina em todos os seus empreendimentos.
Olivares e a reforma
Um novo reinado e um novo governo estavam sendo preparados para enfrentar o desafio. Felipe III deixou três filhos homens, pois a rainha Margarida deu à luz oito filhos de ambos os sexos em perfeita saúde em apenas doze anos de casamento. Era um verdadeiro recorde para a dinastia dos Habsburgo, e um paradoxo também, já que a população espanhola estava declinando de forma precipitada, e até estranha, em contraste com a inércia do rei em outros assuntos de estado. O novo rei, Felipe IV (1621-1665), um adolescente, era tão mundano quanto o pai era piedoso, mas também diferia dele por ser mais inteligente e preparado para o governo, embora esse último não fosse de sua espontânea vontade. Mas se dedicou com afinco ao trabalho de rei, tentando imitar os métodos de seu avô, Felipe II. De novo em contraste com seu pai, teve sorte com seu principal conselheiro. Dos 14 anos aos quase 40, a personalidade de Felipe foi moldada pelo conde-duque de Olivares, o maior homem de estado produzido pela Espanha durante sua época como potência mundial. Indiscutivelmente, eram necessários uma mente madura e um pulso firme. Aquele foi o único longo reinado de um monarca espanhol importante que esteve completamente ocupado pela guerra. A Guerra dos Trinta Anos (1618-48), o conflito entre protestantes e católicos, que se iniciou na Alemanha e gradualmente se transformou em uma guerra européia, já havia começado quando Felipe subiu ao trono. Para a Espanha, iria desenvolver-se em uma série contínua de conflitos que duraram 50 anos e só terminaram após a morte de Felipe.
Nos últimos anos do reinado de Felipe III, o tio de Olivares, Baltazar de Zúniga, havia iniciado uma autêntica revolução no governo, negando-se, em 1621, a renovar a Trégua de Antuérpia em termos originais, que o novo regime considerava inaceitáveis, e iniciando uma reforma profunda no governo e nas finanças a fim de equipar a Espanha para a renovação econômica dentro de casa e no sucesso no além-mar. Foi essa última parte da reforma que Olivares exerceu com maior empenho quando sucedeu seu tio como primeiro-ministro, em 1622. Perseverantemente, ainda que ele negasse, Olivares também era um valido que, como Lerma, edificou uma base de poder na corte e no governo. Controlou o patronato e teve uma influência exclusiva sobre o monarca. Impressionou Felipe com um profundo sentido da responsabilidade real, mas ele queria ser indispensável no governo. Contrastando com Lerma, no entanto, Olivares não buscava o poder para enriquecer, mas sim para glorificar o monarca e a monarquia e restabelecer a importantíssima reputação. A associação entre rei e ministro desenvolveu-se em uma espécie de sociedade na qual Olivares mandava, em termos de ideias e dinamismo, mas o rei contribuía com sutis lembranças de sua própria vontade soberana.
Olivares foi o primeiro homem de estado de em âmbito europeu que chegou ao poder com um programa já preparado para a reforma. Não foi responsável pelas ideias em si, nem pelo impulso inicial da reforma, mas sua inteligência residia na força de seu apoio, de sua compreensão analítica e visão política. Suas principais influências foram os escritos dos utopistas, mas também desejava imitar as bem-sucedidas inovações dos inimigos da Espanha, em particular dos holandeses. Tinha dois objetivos principais. O primeiro era transformar Felipe no “autêntico rei da Espanha”, e não apenas em um governante de uma dezena de patrimônios diversos, a fim de aliviar a pressão sobre Castela dispersando a carga dos impostos. O segundo era “transformar os espanhóis em homens de negócios”. Isso seria conseguido ao se consolidar os títulos do governo (juros) em um fundo de amortização para atrair o capital interno, estabelecendo um banco central para oferecer crédito ao governo a juros mais baixos que os banqueiros particulares genoveses, e investindo no comércio e na indústria. Acima de tudo, o caótico sistema fiscal seria abolido e substituído por um imposto único (meio universal).
Em meados de 1620, haviam sido feitos progressos em todas estas direções, e a situação parecia promissora. Em 1624, Olivares propôs uma “união de armas” que criaria um exército de reserva pago por todos os domínios espanhóis proporcionalmente a seus recursos. O plano 96 tornou-se universalmente impopular fora de Castela, porque infringia antigas liberdades, e foi interpretado corretamente como uma operação de redução da autonomia local. Resumidamente, Olivares conseguiu realizar completamente poucas de suas reformas: a resistência dos juros criados obrigou-o a fazer acordos algumas vezes.
Sucesso no além-mar, crise em casa
Os primeiros anos do reinado de Felipe assistiram a uma série espetacular de vitórias. Somente em 1625, a França foi derrotada no Norte da Itália; Breda, a sede familiar dos rebeldes príncipes de Orange, foi tomada; a frota pesqueira holandesa foi destruída; uma invasão holandesa no Brasil foi afastada por uma expedição conjunta luso-castelhana; e uma enorme força anglo-holandesa, enviada para atacar Cádiz, foi colocada para fora pela milícia andaluza local. Em 1626, a França pediu a paz, e quatro anos depois, vencida a estratégia de sua marinha, Carlos I da Inglaterra (1625-1649) também se retratou. Enquanto isso, os holandeses, assaltados por terra e mar, estavam considerando importantes concessões para alcançar a paz. Olivares afirmou que haviam sido superadas até as conquistas de Felipe II, e foram chamados poetas, dramaturgos e pintores para celebrar os esplendores das armas espanholas.
Esses primeiros triunfos se viram ofuscados pelas crises internas. Ainda que outras comunidades européias tenham sofrido massacres e quedas econômicas durante o século XVII, os que assolaram Castela foram os mais frequentes, os mais severos e os mais duradouros. A agricultura precisava da flexibilidade e adaptabilidade necessárias para resistir a condições adversas. Apenas uma geração depois da grande crise de subsistência, outra atingiu as regiões centrais em meados da década de 1620. Longos invernos que diminuíam o produto das colheitas foram seguidos por grandes inundações das terras férteis. A escassez assolava o campo; cidades provinciais como Salamanca e Medina del Campo encontravam-se aprisionadas pela fome. Explosões locais de doenças viróticas afetaram ainda mais a população. Enquanto a infantaria espanhola passava fome nos acampamentos na Batalha de Breda, suas esposas e filhos passavam fome em seus lares. Os refugiados abarrotavam Madri, que atingiu sua maior população na época dos Habsburgo, talvez até 300.000 pessoas. Não é surpreendente que, em 1630, o extenso sistema de pedido de comida da capital tenha acabado, e sua gente tenha sido submetida a uma fome terrível.
A Espanha sempre havia sido deficiente em alguns recursos essenciais para o império: precisava de terras férteis suficientes para a produção de alimentos, florestas para a construção de navios e uma sólida base populacional para trabalho e defesa. A crise de 1627-1631 esvaziou completamente suas reservas. A depressão econômica aumentou a determinação dos terratenentes castelhanos de resistir à reforma. Com o orçamento de guerra fora de controle e outra bancarrota declarada em 1627, Olivares viu-se obrigado a um acordo. Aproveitou a ocasião para reorganizar os fundos do governo para a guerra, negociando uma melhora nos ajustes com um grupo de judeus portugueses cristianizados.
O oportunismo foi colocado novamente em evidência - desta vez calamitosamente - quando Olivares interveio na Itália, em 1628. Sua atitude permitiu que a França invadisse a Lombardia sob o pretexto de defender a liberdade, e os espanhóis sofreram sérias perdas nas lutas que se seguiram. No mesmo ano, a frota anual do tesouro americano perdeu-se - pela primeira vez - diante da ação dos inimigos, caindo nas mãos dos holandeses em Matanzas, Cuba. Com o crédito esgotado, o povo faminto e as forças em retirada na Itália, Flandres e Atlântico, a confiança de Felipe em Olivares foi abalada. O ministro caiu em desgraça durante boa parte de 1629, mas o rei sabia que nenhum outro candidato poderia oferecer-lhe o mesmo grau de compromisso com os assuntos do governo.
Cultura e propaganda
O regime de Olivares talvez tenha sido o primeiro na Europa que usou as artes como um meio de propaganda aberta. Na realidade, foi uma resposta à frenética atmosfera de guerra e de crise em Madri: “A menos que tenhamos sucesso, aí vai a nação, aí vão o rei, a rainha e todos os demais a seu lado”, afirmou Olivares, quando declarou guerra à França, em 1635. Casualmente, as diversões intelectuais favoritas do rei eram a pintura e o teatro, e as duas podiam ser facilmente aproveitadas para servir aos interesses políticos. Em 1623, Diego de Velázquez (1599-1660) - como Olivares, natural de Sevilha, e descoberto por ele - tornou-se o principal retratista real. Os primeiros estudos de Velázquez sobre o rei e seu favorito mostram a desejada impressão de porte sério, autoridade e [97] decisão, sem ostentação nem pomposidade. Seu exemplo foi seguido por dezenas de outros pintores que compareceram em bandos em Madri, onde floresceu um ativo mercado artístico. Velázquez foi o autêntico fundador de uma escola espanhola; embora vários de seus contemporâneos, como Francisco de Zurbarán (1598-1662) e Bartolomé Murillo (1618-82) tivessem esplêndidos dons especiais e tivessem conseguido uma grande fama fora da Espanha, somente Velázquez conseguiu estampar para o mundo as imagens de uma capital imperial em seu apogeu. Essas décadas foram o clímax da corte barroca na Europa, um resplandecente fenômeno que expressou a si mesmo na agressiva linguagem do catolicismo da Contra-reforma. Na arquitetura, escultura e música, Roma - e a ordem jesuíta - tomou a frente ao desenvolver seu triunfal estilo ricamente embelezado, mas na pintura seu expoente mais importante foi o antuerpiano Peter Paul Rubens (1573-1640), súdito, amigo e conselheiro de Felipe IV.
O teatro foi caminhando para a órbita real durante certo tempo, tornando-se cada vez mais pródigo no processo, utilizando tramas, vestuário e decorações mais [100] elaborados. O dramaturgo mais importante da época, o culto Pedro Calderón de la Barca (1600-81), comunicava frequentemente uma mensagem patriótica em suas obras. A pintura e o teatro uniram-se no grande projeto de um novo palácio, o Bom Retiro, que se iniciou na década de 1630. O edifício foi projetado como uma vitrine real para oponentes políticos, patriotas de coração fraco e visitantes estrangeiros. Seu salão principal exibia os escudos de armas dos numerosos domínios de Felipe IV - literalmente, uma união de armas - e 12 enormes pinturas das mais recentes vitórias militares e navais da Espanha. Velázquez contribuiu com A rendição de Breda (chamado popularmente de “o quadro das lanças”), um tema que havia sido tratado anteriormente no cenário por Calderón. Em outra ala do palácio, ficava o novo Coliseu, o primeiro teatro permanente e cenário de muitas representações alegóricas em homenagem a um grande rei e seu sábio favorito. Outra dimensão de brilhante auto-exibição residia na organização de grandes espetáculos ao ar livre, muitos deles celebrados nos arredores do palácio - corridas de touros e de varrões, justas e batalhas simuladas, desfiles e procissões - que maravilhavam o imenso público que comparecia para assisti-las.
Na pintura, arquitetura e decoração, o estilo barroco varreu tudo o que havia vindo antes dele. Centenas de igrejas paroquiais e outros prédios religiosos - em particular nas cidades - foram construídos ou reconstruídos baseados na igreja jesuíta original em Roma (a Igreja de Jesus ou II Gesú, 1562), muitas delas utilizando uma combinação de exterior contido, nobre, frequentemente severo, com uma surpreendente e às vezes tumultuosamente enfeitada decoração interior. O estilo chegou a ser opressivo e até torturador na última parte do século, mas no início foi frequentemente alegre e libertador. Acima de tudo, as artes representativas exibiram uma surpreendente plasticidade, uma ênfase nos movimentos que parece essencialmente musical.
Ditadura, guerra e rebelião
Durante a década de 1630, a monarquia espanhola foi atraída para uma escalada de conflitos sem precedentes em termos de intensidade. Olivares, decidido a preparar-se para um confronto decisivo com a França, estendia constantemente as prerrogativas do rei para impor novas contribuições a todos os setores da sociedade. A nova ofensiva começou com mais vitórias sensacionais, que culminaram, em 1634, com a destruição do exército sueco em Nõrdlingen, na Baviera. Iniciou-se a guerra em grande escala com a França, mas os planos de Olivares de derrotar o inimigo, através de ataques simultâneos em três partes diferentes da França, falharam. A Espanha teve de se retirar logo e, em 1639-1640, sofreu terríveis derrotas navais para os holandeses. Naquele momento, abandonada toda tentativa de reforma, Olivares estava reunindo freneticamente fundos de todas as fontes possíveis para alimentar a maquinaria de guerra. Amordaçou as Cortes, submeteu os conselhos de Estado, saqueou os ricos da aristocracia cortesã, ofendeu muitas famílias poderosas dos grandes e alienou a Igreja. Mais ainda, outras divisões básicas, cobertas pela regra coesiva dos Habsburgo e pela riqueza que chegava a Castela das colônias, foram reabertas em cinco frentes sob as pressões da guerra.
A associação de Castela com os demais reinos continuava baseada no respeito e nas rédeas soltas por parte do governo central. O equilíbrio do poder era delicado: em 1631, por exemplo, os bascos protestaram violentamente contra um plano de impostos sobre o sal. Aragão e Valência comprometeram-se sobre a União das Armas, apesar da ameaça a seus foros, mas a Catalunha negou-se a contribuir. Para Olivares, a reputação da coroa e as exigências da comunidade em geral ficavam acima de tudo: “O demônio que leve as constituições”, disse ele. Para os patriarcas de Barcelona, a Espanha era condicionada à manutenção das constituições. Olivares tentou forçar a Catalunha a aceitar, enviando tropas a suas fronteiras. As depredações dos soldados proporcionaram ao campesinato local uma causa comum com os magistrados de Barcelona, apesar de que a manutenção dos privilégios de casta dos magistrados - representados pelos foros - não costumava favorecer seus interesses. Em junho de 1640, ocorreu uma sangrenta insurreição em Barcelona, que não demorou a se transformar em uma rebelião em plena escala em toda a Catalunha.
Independência portuguesa
Os três reis espanhóis de Portugal, no período entre 1580-1640, primeiro respeitaram, depois desatenderam e finalmente se esqueceram dos acordos feitos em Tomar de conservar os direitos e privilégios dos portugueses. Felipe II manteve meticulosamente suas promessas. Permaneceu em Portugal durante três anos, fazendo acertos para seu novo reino e sufocando as rebeldes ilhas dos Açores, que haviam se declarado partidárias do pretendente Antônio ao trono português. Finalmente, foi embora em fevereiro de 1583, depois de nomear um governador, seu sobrinho Alberto da Áustria (1559-1621) e três conselheiros portugueses. Embora Felipe II tenha promovido vínculos institucionais entre a Espanha e Portugal, sobretudo aumentando a influência da Inquisição e da ordem jesuíta, continuou durante todo seu reinado nomeando portugueses para os altos cargos, assim como havia prometido.
A união entre Portugal e Espanha foi, a princípio, um acordo mutuamente conveniente e em geral produtivo. [101] Até 1630, o equilíbrio nos gastos com a defesa esteve a favor de Portugal, e os Habsburgo nomearam importantes e dotados vice-reis, que reduziram os gastos da corte e frearam o inconveniente crescimento de Lisboa em benefício das províncias. As terras esquecidas foram colocadas em produção, e os fazendeiros foram liberados de algumas de suas obrigações com a nobreza. Em contraste com outras regiões da península - notavelmente a própria Castela -, a população de Portugal cresceu em mais de dez por cento entre 1580 e 1640. Mas o descontentamento português com a união foi crescendo com o tempo. A paz interna viu-se alterada por distúrbios regulares, frequentemente inspirados por reaparições de D. Sebastião, personificado por engenhosos impostores.
Ainda que a economia de Portugal continuasse sendo próspera, em geral o país fracassou na hora de compartilhar o florescimento intelectual e artístico, que foi uma das características mais importantes da Espanha daquela época. Parte do motivo era que a riqueza estava distribuída mais equitativamente que antes, enquanto as artes ainda não haviam se transformado em uma arena de patronato para as classes médias, fossem urbanas ou rurais. Mas a extinção da casa real de Avis - até então uma generosa fonte central de patronato - cobrou também sua quota, como aconteceu com a drástica queda no número de famílias aristocráticas e palácios que foi seguida pelo desastroso massacre de Alcácer-Quibir. Outros nobres portugueses gravitaram em direção aos deleites e honras proporcionadas pela corte de Madri e pelo serviço ao monarca espanhol. Além disso, por volta da década de 1620, os escritores portugueses estavam abandonado sua língua nativa e recorrendo ao uso do castelhano.
A política externa da Espanha teve sérias consequências para o comércio português. Após a derrota da Armada, Felipe II fechou os portos portugueses a todos os navios ingleses, privando assim Portugal de um valioso comércio. Em 1594, estendeu a proibição aos holandeses. Como consequência, os holandeses começaram a fazer suas próprias viagens para o Leste, estabelecendo, em 1602, a Companhia Holandesa das índias Orientais e apoderando-se gradualmente do monopólio português do comércio de especiarias. No entanto, a perda do comércio oriental não foi tão séria como teria sido no início do século XVI, porque desde a década de 1550 a economia portuguesa se sustentava progressivamente com as riquezas de outra fonte, as plantações de açúcar do Brasil. Durante o reinado de Felipe III, os holandeses começaram a aspirar também a essa região, e formaram a Companhia das índias Ocidentais, que começou a atacar os navios ibéricos e finalmente dominou a Bahia, a capital do Brasil, e as plantações de açúcar que a cercavam. Uma expedição hispano-portuguesa conjunta expulsou os invasores, em 1625.
Felipe III não manteve as Cortes em Portugal quando subiu ao trono, em 1598. Causou mais outra ofensa nomeando espanhóis para postos importantes e visitando o país apenas uma vez, por volta do final de seu reinado. O plano de Lerma de conseguir os tão necessários lucros vendendo privilégios aos cristãos-novos de Portugal criou uma profunda oposição dos portugueses. Finalmente, todos os privilégios concedidos aos cristãos-novos foram revogados, embora não antes que tivessem sido pagas a Castela substanciosas somas de dinheiro. [102]
O descontentamento português transformou-se em uma declarada rebelião durante o reinado de Felipe IV. As reformas de Olivares contravinham diretamente os acordos de Tomar, e levaram a algumas ações sem transcendência contra os espanhóis, em 1634 e 1637. A gota d’água foi em 1640, quando Olivares pediu dinheiro e tropas aos portugueses para lutar contra os também descontentes catalães. Um grupo de conspiradores persuadiu o Duque de Bragança, o nobre mais rico e influente de Portugal, para que revivesse uma esquecida reivindicação ao trono. Houve o golpe de estado, e o duque foi declarado rei com o nome de D. João IV (1640-1656), em 1,° de dezembro de 1640, em Lisboa. Embora Portugal tenha datado sua independência a partir desse momento, o fato não é absolutamente seguro. Felipe IV sentiu-se humilhado pela perda do território conquistado por seu herói, Felipe II, e dedicou o resto de sua vida a recuperar Portugal. O resultado foi uma guerra desgastante que durou quase trinta anos. Como consequência disso, as terras existentes em ambos os lados da fronteira castelhano-portuguesa viram-se reduzidas a um deserto virtual.
João foi apoiado por uma ajuda ocasional da França, mas seus recursos militares viram-se esticados até o limite pela extensa campanha para defender o Brasil de sucessivas depredações holandesas. Enfrentado a perspectiva de uma invasão espanhola, uma vez sufocada a revolta catalã na década de 1650, João hipotecou as riquezas do país na busca de aliados. Em 1654, assinou um tratado crucial com o protetorado inglês de Oliver Cromwell (1653-1658). A partir de então, a Inglaterra tornou-se o aliado mais firme de Portugal, uma situação que trouxe benefícios econômicos e estratégicos para ambos os países. Em 1662, depois do restabelecimento da monarquia, Carlos II da Inglaterra (1660-1685) estabeleceu uma aliança dinástica com Portugal casando-se com a filha de João, Catarina de Bragança (1638-1705). Em troca de um enorme dote, que incluía a cessão de Mumbai e Tanger à Inglaterra, enviou tropas inglesas para que ajudassem os portugueses a conseguir a vitória sobre os espanhóis (1663-1665).
Declínio e desilusão
As rebeliões catalã e portuguesa significaram o fim do caminho para Olivares. A maior parte da classe governante castelhana havia retirado seu apoio a ele. Só aqueles que dependiam diretamente dele - dentre eles alguns ministros muito capazes - continuavam a apoiá-lo. Para o desânimo de Felipe IV, a base do governo - que pretendia expandir, incorporando talentos de todas as partes da monarquia - havia se resumido a um grupo ainda menor que o de Lerma. Depois que os catalães derrotaram o exército enviado para sufocar sua revolta, ao colocar-se sob o domínio francês antes de se render, Felipe insistiu em ficar pessoalmente no comando da Catalunha. Foi até lá literalmente sobre sua cadeira, enquanto Olivares, na época um soberbo cavaleiro, mas agora muito gordo e doente para cavalgar, foi levado em sua escolta. Com Olivares longe de Madri, seu grupo dispersou-se. O rei acabou despedindo-o no início de 1643.
As tropas francesas permaneceram na Catalunha até 1659, quando o Tratado dos Pirineus, pelo qual o Roussillon era cedido permanentemente à França, marcou o colapso final da revolta. Muitos catalães deram as boas-vindas à paz, após descobrir que a França era um amo ainda menos desejável que Castela..., que restabeleceu imediatamente todos os privilégios catalães. O ponto crucial na guerra com os portugueses foi a derrota espanhola em Ameixial (1663), mas para Felipe uma paz que dava a independência a Portugal significava, simplesmente, uma condenação eterna. Assim, continuou com uma luta que havia sangrado Castela e arruinado indiretamente a capacidade da Espanha de defender qualquer outra fronteira. Durante o conflito, a população da Espanha alcançou seu ponto mais baixo, o mesmo que o fluxo de prata procedente da América. Felipe morreu entre a ressentida indiferença de seu povo em setembro de 1665, algumas semanas depois que seu último exército de reconquista se viu esmagado em Vila Viçosa.
O testamento de Felipe tornava sua viúva Mariana (1634-96) regente de seu filho Carlos (nascido em 1661). Esta aceitou a independência de Portugal. Suas mãos viram-se forçadas pelos ingleses, cuja ajuda era necessária para impedir que Luis XIV da França (1643-1715) anexasse os Países Baixos espanhóis. Outro preço do apoio inglês foi o reconhecimento de sua ocupação da jamaica (1667-1670). Os rivais da Espanha vagavam agora livremente pelo Caribe; em 1670, o aventureiro galês Henry Morgan (1635-1688) capturou e saqueou o Panamá, a fortaleza central das comunicações globais da Espanha. Os ministros de Carlos II da Inglaterra fizeram um trato com Luis XIV, através do qual a França herdaria todos os territórios espanhóis, enquanto a Inglaterra se apoderaria - a golpe de pena - de todo o império atlântico. Embora no final o plano tenha acabado em nada, indica claramente até que ponto a Espanha havia perdido sua conceituada reputação internacional. Com a morte de Felipe IV, o império católico, iniciado por Fernando e Isabel e completado por Felipe II, morreu também para todos os efeitos. [103]

Observações preliminares. — Divisão. Procuremos, preliminarmente, estabelecer uma divisão da longa História Política do Egito. As dinastias de Máneton e as características de certas épocas permitem-nos a seguinte divisão da História egípcia na Antiguidade: Época Tinita: I e II dinastias (3197-2778; Antigo Império: III à V dinastia (2778-2423); Fim do Antigo Império e Período Intermediário: VI à XI dinastia (2423-2065); Médio Império: XI e XII dinastias (2065-1785); Segundo Período Intermediário: XIII à XVII dinastia (1785-1580); Novo Império: XVIII à XX dinastia (1580-1090); Baixa época: XXI à XXXI dinastia (1090-332). Note-se que as datas supracitadas se encontram na obra de Drioton e Vandier e, até 525, são aproximadas.
Nomos.Digamos duas palavras sobre os «nomos» do Antigo Egito. Desde épocas remotas, o particularismo regional dividiu o Egito em pequenas províncias chamadas «nomos»; cada «nomos» era constituído de uma região com uma cidade como capital; essa região possuía um deus particular, tradições próprias e vivia em rivalidade com os vizinhos. Os «nomos», que eram as células administrativas do Egito faraônico, representaram muitas vezes uma força política centrífuga: sempre que o poder central se enfraquecia, eles se transformavam ou tendiam a transformar-se em pequenos estados independentes.
O Egito antes de Meni.— Para melhor compreensão do início da História propriamente dita, vamos registrar, grosso modo, a evolução dos principais acontecimentos políticos que precederam a unificação do Egito atribuída a Meni. Diremos, mais adiante, algumas palavras sobre o tão debatido problema da existência de Meni.
O país estava dividido em dois reinos: o do Norte com a capital em Buto, o do Sul com a capital em Nekhen. O reino do Norte estabeleceu o domínio sobre o reino do Sul, unificando o país. O reino sulino, entretanto, reagiu e conseguiu sacudir o jugo do Delta, realizando [66] mais tarde, por sua vez, a unificação que marca o início da época histórica.
Os monarcas desses reinos existentes antes do período histórico propriamente dito foram chamados, em documentos posteriores, «Servidores de Hórus». A lenda se apoderou, em breve, dêsses soberanos: passaram a ser considerados como heróis que haviam reinado no Egito durante um longo período intermediário entre as dinastias divinas e as históricas.
A Época Tinita.— A História do Egito começa quando a «coroa vermelha» do Norte e a «coroa branca» do Sul se encontram reunidas em um mesmo soberano.
Quem teria sido esse unificador do Egito? Para Máneton e os autores antigos teria sido o lendário Meni. Pesquisas modernas vieram, entretanto, abalar a antiga tradição e projetar a figura de Narmer como o soberano que teria, na realidade, desempenhado o papel atribuído a Meni. Com efeito, Narmer é o primeiro faraó que se liberta da lenda e do mito e que inaugura verdadeiramente a História. “Um busto desse monarca, existente no University College de Londres, dá-nos uma ideia viva de seus traços fisionômicos: feições enérgicas, olhos salientes, nariz reto e curto, lábios espessos... Uma paleta de xisto verde, usada provavelmente para ornamentar as imagens dos deuses nas grandes solenidades, mostra-nos esculpida a vitória do rei sobre seus inimigos. Vários egiptólogos, tentando conciliar a tradição com as novas descobertas, defenderam a tese de que Meni e Narmer seriam o mesmo personagem. Ao leitor interessado no problema, recomendamos a leitura das notas referentes às épocas Pré-Tinita e Tinita contidas na obra de Drioton e Vandier. Encontramos na citada obra diversas hipóteses formuladas por orientalistas eminentes como Petrie, Hall, Allbright, etc. «A identidade de Narmer e de Meni não é mais que um desses numerosos problemas que o antigo Egito apresenta, e cuja solução é, em suma, secundária, malgrado a quantidade de tinta que este debate fez correr».
O que nos interessa aqui é, mais que o autor, o fato da unificação. Essa unificação, como observa Homo, apresenta duas características fundamentais: longa duração e, contudo, precariedade. Com efeito, a unidade egípcia durou mais de dois milênios e meio; foi, entretanto, interrompida inúmeras vezes quer por invasões quer por movimentos separatistas internos. Encontramos em Drioton e-Vandier uma explicação dessa precariedade: «Estes dois estados estavam fortemente constituídos e, coisa notável, guardaram, vis-à-vis um do outro, uma autonomia de fato durante toda a duração da monarquia faraônica, pelos particularismos de seu regime cuidadosamente conservados e por suas administrações zelosamente separadas. O traço de união entre eles foi somente a pessoa mesma do faraó, Rei do Sul e Rei do Norte, segundo a expressão dualista de seu protocolo. Consequentemente, cada vez que se produzia uma falha no poder real, o país tendia a cindir-se de novo em dois reinos, [67] retomando os antigos limites, a tal ponto permanecera viva a tradição política herdada da idade eneolítica, a tal ponto essa tradição política correspondia, em suma, a uma divisão geográfica, econômica e, talvez, étnica do país».
Passemos agora a uma breve caracterização da Época Tinita que, como já anotamos, abrange as duas primeiras dinastias. A monarquia tinita era absoluta, de direito divino. O faraó, assistido por dois chanceleres que representavam os dois reinos unidos, governava por intermédio de funcionários hierarquizados. As indicações contidas na pedra de Palermo sugerem a existência de um arquivo real na época tinita.
Nas províncias (nomos) havia funcionários com, entre outras, a incumbência de obter o melhor rendimento possível da terra e de proceder ao recenseamento.
Na Época Tinita, a civilização egípcia atingira já um elevado grau de evolução e continha, em germe, a futura grandeza do império. «É toda a grandeza do Egito futuro que se encontra, em potência, sob esses monarcas tinitas, cuja obra, digna de admiração, foi considerável».
O Antigo Império.— Durante as III e IV dinastias notamos o pleno desenvolvimento da monarquia absoluta; sob as V e VI dinastias (esta última já no fim do A. Império e início do Primeiro Período Intermediário) observamos a marcante influência dos sacerdotes de Heliopolis e dos grandes funcionários: a primitiva autocracia vai transformando-se em um regime oligárquico e feudal.
III Dinastia.Esta dinastia marca uma época de grande progresso do Egito. Entre os faraós merece destaque a figura de Djoser (chamado pelos contemporâneos Neterierkhet). O esplendor de seu reinado, Djoser deve sobretudo a seu conselheiro e ministro Imhotep, que ficou na memória dos egípcios como tendo sido um verdadeiro sábio. Máneton escreveu a propósito: «por causa de sua ciência médica, é considerado pelos egípcios como Esculápio; foi ele que encontrou o processo da pedra cortada para a construção dos monumentos e dedicou-se também às letras». A capital foi transferida de Thinis (situada no Alto Egito, numa região em que se encontravam as rotas da Arábia e dos oásis líbicos) para Mênfis, lugar onde «os dois Egitos estão em equilíbrio». A famosa pirâmide de Saqqarah construída por Imhotep foi o túmulo de Djoser.
IV Dinastia.(27207-2560?) Os mais célebres soberanos dessa dinastia são os construtores das três grandes pirâmides de Gizeh: Khufu, Rakhaef e Menkaure. Suas construções gigantescas atestam não só o progresso da civilização material mas também a grande autoridade de que gozavam. Ainda durante a IV dinastia realizaram-se expedições guerreiras à Núbia, à Líbia e à península do Sinai.
VI Dinastia.Os dois monarcas dominantes são Pepi I e Pepi II. O primeiro reinou por mais de meio século; o reinado do segundo durou 94 anos e constitui, provavelmente, o mais longo reinado da História. [68]
A preocupação dominante dos soberanos da VI dinastia, na política externa, é a exploração sistemática da Núbia. Ainda sob a VI dinastia os egípcios tiveram que enfrentar a ameaça de líbios e asiáticos atraídos pela fertilidade do vale do Nilo.
Na política interna nota-se o fortalecimento dos nomarcas (governadores dos nomos) que transformam seu cargo temporário em cargo hereditário. Desse feudalismo surgiram duas graves consequências: crise econômica devido à economia fechada própria do regime feudal (tal crise se fez sentir nas cidades do Delta, cujo comércio sofreu acentuada queda provocando desemprego e miséria); feudalização do exército que fez desaparecer a segurança interna e externa: as fronteiras foram ameaçadas e o banditismo floresceu. A crise econômica e a descentralização governamental geraram uma tremenda crise social que caracteriza o fim da VI dinastia.
Primeiro Período Intermediário.— Crise na política interna e externa, com a completa descentralização do governo e com a invasão de estrangeiros; crise social tremenda com a desapropriação de terras, massacres e paralisação do trabalho caracterizam o Primeiro Período Intermediário. No Alto Egito predominam os principados autônomos; os senhores feudais passam a levar uma vida intimamente ligada às grandes propriedades. Ao norte, no Baixo Egito, floresce a vida urbana; as cidades orientam sua atividade para o mar que é um convite permanente à liberdade. Guerras feudais lançam os príncipes uns contra os outros: reinam a insegurança e a decadência. Reinam também os faraós que, entretanto, nada mais são que o primeiro dos príncipes, detendo apenas uma autoridade simbólica.
O Médio Império. —Os príncipes de Tebas, no Alto Egito, haviam constituído um notável poderio militar com o qual conseguiram impor sua autoridade a todo o país, vencendo os soberanos de Heracleópolis que se consideravam os sucessores diretos e legítimos dos antigos reis de Mênfis. Iniciou-se então o Médio Império com a ação enérgica dos reis tebanos que procuraram centralizar o poder, suprimindo a nomarquia hereditária (nomarcas eram os governadores dos nomos) e estabelecer estreita dependência entre os funcionários e o soberano. A nobreza feudal foi substituída por uma nobreza administrativa dentro da qual os faraós escolhiam o primeiro ministro; esta nobreza acabou por tornar-se tão poderosa que, ao extinguir-se a XI dinastia, um de seus membros subiu ao trono fundando a XII dinastia.
XII Dinastia.A XII dinastia é bem conhecida através das inúmeras fontes de que dispomos para seu estudo. O poder e a magnificência de seus faraós revelam-se nos monumentais edifícios erguidos. Dois acontecimentos caracterizam o início da XII dinastia: o desenvolvimento do culto de Amon, deus protetor da dinastia, e a mudança da [69] capital de Tebas para uma região situada entre Menfis e Faium. Essa região, por sua situação geográfica intermediária entre o Alto e o Baixo Egito, estava muito indicada para a sede do governo. Note-se, além disso, que os soberanos da XII dinastia mostraram grande interesse pela exploração do oásis de Faium.
Amenemhat I e Sesnusret III são duas figuras ímpares de soberanos que souberam imprimir à sua época o caráter indelével de sua personalidade revelada por um dinamismo empreendedor e por uma energia férrea.
Amenemhat I, o fundador da dinastia, pôs ordem na política interna; Sesnusret III notabilizou-se pela política externa: campanhas na Nubia e no Sudão, expedições até a Palestina. Resumamos alguns dos principais fatos que assinalam essa época de esplendor do Antigo Egito.
Na política interna anotemos: entre as grandes realizações a valorização do oásis de Faium (sudoeste do Cairo) pela execução de enormes obras de engenharia que deram ao Egito uma província inteira; entre as medidas de fortalecimento do governo, a criação de um exército permanente e a supressão da independência da nobreza provinciana. Para evitar as questões de sucessão e manter a estabilidade do trono, foi adotada a prática da associação do príncipe herdeiro no poder.
Na política externa podemos considerar dois aspectos: o econômico e o militar. Os soberanos incentivaram as relações comerciais; a iniciativa privada favorecida pelo governo estendeu essas relações comerciais a Biblos e a Creta integrando cada vez mais «as cidades egípcias no movimento de economia internacional». Na política militar da XII dinastia obedeceu a dupla finalidade: salvaguardar a unidade egípcia e defender a integridade de seu território. Podemos observar claramente a influência do fator geográfico na orientação dessa política intimamente relacionada com as três fronteiras terrestres do Egito. Ao sul, a política é agressiva e colonizadora; as expedições egípcias visam não somente às minas de ouro mas também impedir o acesso ao vale do Nilo. Uma série de fortalezas construídas sob Sesnusret III barram a entrada dos etíopes. A oeste, os habitantes da Líbia, que haviam constituído uma permanente ameaça ao vale do Nilo, não só foram submetidos mas até mesmo passaram a ser empregados como defensores das fronteiras. A leste, a política militar predominante é defensiva. Entretanto, graças aos contatos econômicos com Biblos e o vale do Orontes bem como à infiltração crescente de elementos asiáticos no Delta, surge a ideia do estabelecimento na própria Ásia de uma zona que desempenhasse o papel importante de sentinela avançada dos interesses egípcios. Curioso é que, desde então, essa ideia vai guiar a política externa dos faraós até o fim da independência egípcia.
Segundo Período Intermediário.— Após a XII dinastia o Egito entra em decadência e cai sob o domínio de um povo estrangeiro: os [70] hicsos. Máneton, citado textualmente por Flávio José, assim descreve a invasão de sua pátria: «Tivemos um rei chamado Toutimaios. Não sei como, sucedeu que no seu tempo estivesse Deus contra nós e então vieram do Oriente uns homens de raça ignóbil e, de forma tal, que tiveram a ousadia de invadir o nosso país e facilmente o submeteram pela força sem uma batalha sequer. E logo que tiveram em seu poder os nossos principais, queimaram as nossas cidades, derrubaram os templos dos deuses e maltrataram os habitantes: mataram alguns e levaram em cativeiro os outros com suas mulheres e seus filhos. Levantaram então um rei entre esses, cujo nome era Salátis; viveu este nacidade de Mênfis e estabeleceu guarnições nos lugares que escolheu. Fortificou a fronteira da terra do Oriente, pois muito temia o poder dos assírios e pensava que eles haveriam de invadir um dia o reino. Encontrou no nomo saíta (Sthroita?), a leste do canal de Bubástis, uma cidade que conheceu que era boa, chamada Avaris em razão de alguma lenda dos deuses. Construiu em torno dela fortíssimas muralhas e guarneceu-a com um exército de duzentos e quarenta mil homens completamente armados. Nela Salatis se abrigava no calor do verão, a fim de recolher o tributo, pagar suas tropas e fazer marchar os soldados para que o temessem os estrangeiros. E depois de ter reinado dezenove anos, reinou após ele um outro, chamado Bnon, durante quarenta e quatro anos e depois deste reinou ainda outro, chamado Apakhnas, trinta e seis anos e sete meses; e depois dele Apófis, que reinou sessenta e um anos; e depois Ianias, cinqüenta anos e um mês. Estes foram os primeiros reis entre eles, e durante todo o tempo de seu poder fizeram guerra contra os egípcios, desejosos de destruí-los completamente. Chamaram a este povo hyksos, o que significa Reis Pastores, pois Hik significa, na língua sagrada, rei, e sôs, na língua vulgar, quer dizer pastor». O leitor bem pode imaginar como esse trecho terá dado dores de cabeça aos egiptólogos que tentaram conciliá-lo com o que, através de outras fontes, se conhece da História Egípcia. Assim, por exemplo, para «o Apophis de Máneton contamos vários candidatos, porque houve pelo menos quatro reis hicsos chamados Pepi, conhecidos pelos monumentos...» Qual desses «Pepis» ou «Apepis» corresponderia ao Apófis de Máneton?
Ainda com relação a esse famoso trecho de Máneton, queremos fazer três observações; Primeira: Máneton escreveu cerca de 14 séculos após os acontecimentos; e Flávio José cita o autor quase quatro séculos mais tarde o que, evidentemente, aconselha prudência na aceitação pura e simples dos eventos narrados. Segunda: Não devemos, entretanto, esquecer que Máneton podia dispor de excelentes fontes de informação. Terceira: a etimologia do nome «Hicsos» é hoje considerada errônea. Na verdade o sentido exato parece ser «chefes de países estrangeiros».
Quem seriam e de onde teriam vindo os Hicsos? Sua origem étnica tem dado margem a intermináveis discussões e às mais variadas [71] hipóteses. Vamos apenas citar algumas dessas hipóteses para que o leitor tenha um ideia das dificuldades que a questão apresenta: hipótese semítica, ariana, elamita, hurrita, hitita, mongólica, etc. Certo é que a invasão dos hicsos está ligada a um amplo movimento de povos que emigraram das estepes euro-asiáticas: estas regiões seriam então o ponto de partida da invasão no Egito.
Qual a causa da fácil vitória dos invasores sobre os egípcios? Podemos apontar como fator decisivo a superioridade do armamento. Os hicsos usavam armas de bronze e ferro (lanças, espadas, escudos, capacetes, armaduras compostas de escamas de cobre ligadas um forro de couro). Mas foram, sobretudo, os carros de guerra puxados por cavalos que desorientaram a defesa egípcia, que desconhecia novos engenhos de guerra e os próprios animais.
Quais as contribuições dos Hicsos ao Egito? Winlock traça um quadro das inovações introduzidas no Egito pelos invasores. Anotemos aIgumas a título de exemplo: grande melhoramento na técnica de fabricação de armas; na técnica de irrigação; na indústria têxtil, o costume de marcar o gado a ferro, etc.
Cerca de 1580 a.e.c. graças à ação constante e enérgica dos príncipes tebanos e após uma luta renhida, Avaris, capital dos hicsos, foi conquistada e os invasores, expulsos do país, buscaram refúgio na Palestina Meridional. A expulsão dos Hicsos marca o fim do Segundo Período Intermediário e o início do Novo Império.
O Novo Império.— O Novo Império, que abrange um período de cinco séculos, é uma fase da História Egípcia, rica em fontes. De cordo com as mesmas, podemos anotar que o traço predominante da história do Império Tebano é a política externa asiática. As diversas fases desta política são relatadas por três tipos de fontes: inscrições hieroglíficas, cartas de Akhetaton e arquivos de Boghaz-Keui.
XVIII Dinastia.— A política externa dos soberanos da XVIII dinastia tem um caráter ofensivo: fundam um império asiático, que constitui não só para prevenir novas invasões como também para enriquecer o país, pois os egípcios passam a receber tributos dos mais diferentes povos. O grande vulto da XVIII dinastia é Tuthmose III, o faraó cuja obra elevou o Egito a um nível que nunca havia atingido e que jamais seria utrapassado». Numerosas expedições realizadas por Tuthmose III contra povos asiáticos estão relatadas nas paredes do templo de Karnak. O maior homem de guerra da História do Egito estabeleceu a hegemonia inconteste de seu país no Oriente Próximo. A alma da resistência asiática contra Tuthmose III foram os mitanianos que, entretanto, não conseguiram impedir a chegada dos egípcios até o Eufrates e o fortalecimento de seu poderio na Ásia. Os cinquenta e quatro anos do reinado [72] de Tuthmose III figuram entre os mais gloriosos da História Egípcia. O prestígio do faraó atraía-lhe não só a homenagem e o tributo das províncias asiáticas, mas inúmeros presentes dos países vizinhos como Assur, Mitani, Babilônia, etc. Do longínquo sul (os egípcios haviam atingido Napata nas proximidades da quarta catarata) às ilhas do Mar Egeu, o nome de Tuthmose III era pronunciado com respeito e admiração. Concluamos com as seguintes observações sobre o império de Tuthmose III: «A constituição do império fundado pela conquista foi legitimada por uma teoria política baseada sobre o culto: o deus Amon criou o mundo, ele é o senhor de todos os homens; ora, o rei do Egito é Amon encarnado; detém, então, por sua natureza divina, a soberania universal; resistir-lhe é rebelar-se contra o próprio criador».
Amenhotep III, filho de uma princesa mitaniana com quem havia casado Tuthmose IV, é o primeiro faraó em cujas veias corre sangue ariano. Os egípcios haviam procurado na aliança com seus antigos adversários do Mitani uma defesa comum contra o crescente poderio dos hititas. As cartas de Akhetaton contêm a correspondência oficial de Amenhotep III e Amenhotep IV com os soberanos dos países do Oriente Próximo como, por exemplo, a Babilônia, a Assíria, o Mitani, os hititas e com os príncipes do Mar Egeu e das províncias egípcias da Ásia. «A importância desses arquivos é capital: é toda a vida diplomática do mundo mediterrâneo desta época que nos é revelada por esses documentos. A ausência de data torna muitas vezes delicada a utilização dessas fontes, mas a seqüência dos acontecimentos está quase sempre suficientemente clara para que as chances de erros sejam ínfimas».
Amenhotep IV, filho de Amenhotep III, é a «mais estranha figura da História egípcia»" e talvez a mais discutida. Ficou famoso pelo sincretismo religioso que pretendeu introduzir englobando, sem suprimi-las, as diversas religiões de seus súditos e subordinando-as ao culto do Sol. Amon, deus nacional e dinástico, é substituído por Aton, personificação do disco solar. A nova religião aparece como um monoteísmo solar cuja encarnação é o próprio faraó, chefe supremo do Império. A substituição de Amon reflete-se na substituição do nome do faraó: Amenhotep (Amon é satisfeito) para Akhenaton (Akhen-aton, servidor de Aton). Para subtrair-se à influência dos sacerdotes de Amon, o rei cria (1372? a.e.c.) uma nova capital no Médio Egito: Akhet-aton (Horizonte do disco solar) atual Tell-el-Amarna.
Tuthankhamon, filho de Amenhotep IV, sucedeu-o no trono, ainda muito jovem. Após um curto reinado durante o qual a religião de Aton entrou em decadência e a sede do govêrno passou novamente a Tebas, Tuthankhamon morreu e foi sepultado no Vale dos Reis. Seu túmulo encontrado intacto constituiu uma das mais sensacionais descobertas arqueológicas da atualidade.
XIX Dinastia. —A XIX dinastia foi fundada por um príncipe de Tanis (Delta), Ramsés, que gozava de grande prestígio perante [73] Horemheb, ultimo soberano da XVIII dinastia. Seu filho Séti I e seu neto Ramsés II assinalam o apogeu político. Vimos como Tuthmose III com sua política agressiva ampliou as fronteiras do Império Egípcio na Ásia. Horemheb não teve a preoupação de estender os domínios asiáticos, mas tratou da reorganização interna do país por meio de uma política de largas reformas sociais.
Os principais soberanos da XIX dinastia ocuparam-se, sobretudo, com a política externa: a diplomacia e a guerra tomam quase inteiramente seu tempo. Entretanto, essa política externa, em contraste com a da dinastia anterior, teve um caráter defensivo. Procurou-se manter o império criado pelos Tuthmose.
Séti I (13127-1298?) organizou um poderoso exército com o qual venceu os ataques de povos nômades que haviam chegado até o istmo, derrotou uma coligação de amorreus e arameus que desejavam sacudir o jugo egípcio, e, pela primeira vez na História do Egito, derrotou os hititas em Kadesh. Na fronteira da Líbia, novos invasores (não confundi-los com os antigos líbios) pertencentes provavelmente à raça indo-européia, foram repelidos.
Ramsés II (1301P-1235?), possuidor de forte personalidade em que reuniam a energia, a ambição e o senso inato da grandeza, prosseguiu a obra de fortalecimento do poderio egípcio. Enfrentou no início de seu reinado a maior coligação que já se formara na Ásia contra o imperialismo egípcio. A alma dessa coligação era o rei hitita Muwattali que, enfrentou Ramsés em Kadesh. Seguiram-se revoltas na Asia sempre fomentadas pelos hititas. Ramsés enfrentou-as com energia e firmou, finalmente, um célebre tratado de paz com o soberano hitita Hatusil. Uma das principais causas desse tratado foi, sem dúvida, a ameaça do crescente poderio assírio. Ambos os soberanos foram fiéis à aliança. «Por este acordo, o primeiro grande regulamento internacional da História, as duas potências renunciam cada uma à política de hegemonia e concluem uma estreita aliança pela qual se garantiam mutuamente a integridade dos respectivos impérios, sendo o Orontes a fronteira que os separava. O tratado de 1278 estabeleceu, na realidade, uma hegemonia conjunta do Egito e do Hatti: devia dar cinquenta anos de paz à Ásia Anterior».
No fim do reinado de Ramsés II produziu-se, no Oriente Próximo, um movimento de povos como consequência de grandes deslocamentos de população na região dos Balcãs e do Mar Negro. Vagas de invasores indo-europeus chegam à Líbia e daí partem para o Egito. Menerptah, filho e sucessor de Ramsés II, vence-os em Per-ir no Delta. Uma estela encontrada em Tebas, no templo funerário do rei, menciona, além de incursões sobre a guerra líbica, povos da Ásia vencidos por Menerptah. [74]
O último grande rei do Novo Império pertenceu à XX dinastia e foi Ramsés III. Este soberano, além de campanhas vitoriosas na Líbia, afastou os invasores indo-europeus do Egito. Com o fim do reinado de Ramsés III o poderio egípcio entra em franca decadência. Antes de encerrarmos este breve estudo da História política do Novo Império, convém fazer uma ligeira observação sôbre a administração governamental. Esta, com exceção das províncias da Asia, onde os principados haviam conservado certa autonomia, caracterizava-se pela centralização: ao lado do faraó, soberano absoluto, desempenhavam importante papel: o vizir do Sul e o do Norte, o vice-rei da Núbia e o sumo sacerdote de Amon. Um exército permanente e bem adestrado garantia o êxito da política faraônica.
A multissecular decadência egípcia.— A multissecular decadência egípcia, que só vai terminar com a perda definitiva da independência nacional, encontra sua explicação em duas grandes causas: uma interna e outra externa. A causa interna: as grandes lutas e a manutenção das conquistas produziram, paulatinamente, um esgotamento interior concomitante com o enfraquecimento do poder real. Essa crise interna é agravada pela pressão externa de invasores que atacavam quer a oeste, quer a leste. O enfraquecimento do poder real acarretou a ruptura da unidade nacional. No governo sucedem-se as dinastias sacerdotais, libicas, saítas, etíopes, novamente saítas e, por fim, o domínio persa e grego.
Desse longo período em que muitas vezes a anarquia imperou no vale do Nilo e cuja História não é fácil de resumir em poucas linhas, vamos apenas recordar três acontecimentos importantes que estão intimamente ligados à História de outros povos da Antiguidade: A invasão assíria, a renascença da XXVI dinastia e o domínio persa.
A invasão assíria.Já vimos como outrora o poderio crescente dos assírios fora uma das causas do tratado de paz entre o Egito e os Hititas na época de Ramsés II. Muitos séculos decorreram, entretanto, desde o tratado de paz até que os assírios se tornassem fortes suficientemente para conquistarem o vale do Nilo. A tentativa de Senaqueribe de conquistar a velha terra dos faraós fracassou. Assarhadon penetrou no Delta (671) pondo em fuga o Tirhakah (Taharka, Teharko ou, ainda, Eteardnos, cf. Hall, p.479) da dinastia etíope (XXV) e conquistou a cidade de Mênfis. O faraó refugiou-se no sul, provavelmente em Tebas. Apenas o rei assírio se retirou, o Egito sublevou-se, Mênfis foi reconquistada e as guarnições assírias massacradas. Assarhadon resolveu então voltar ao Egito, mas morreu na viagem. A guerra foi prosseguida por Assurbanipal que recapturou Mênfis e enviou uma esquadra rio acima até a cidade de Tebas. Tirhakah, que se refugiara no sul, sublevou-se novamente tão logo Assurbanipal deixou o Egito. A luta prosseguiu sob o comando do sucessor [75] Ir Tirhakah, seu sobrinho Tanutamon. Os assírios voltaram ao ataque o Assurbanipal resolveu punir os revoltosos: retomou o Delta e saqueou Tebas. A sorte de Tebas teve uma grande repercussão no Oriente.
A renascença sob a XXVI dinastia.— O fundador da XXVI dinastia foi Psamético I, descendente dos reis de Saís. Seu ideal foi reerguer o Egito da estagnação multissecular em que se encontrava. Para obter tal fim era necessário expulsar o estrangeiro e restabelecer a unidade nacional. Psamético I, com o auxílio de mercenários gregos (cários e jônios), que praticavam a pirataria no litoral egípcio, restabeleceu a unidade governamental destronando seus rivais e libertou o país definitivamente dos assírios. Nessa empresa Psamético contou com o auxílio do ouro de Giges da Lídia. A aliança entre os reis de Sardes e de Saís havia surgido de interesses comuns. «Um e outro, com efeito, seguiam uma política de expansão econômica apoiada sobre a burguesia urbana e encontravam como obstáculo os mesmos inimigos: os príncipes feudais e o rei da Assíria». Assurbanipal não reage ante o soerguimento egípcio e Hall nos dá o motivo: «Provavelmente compreendera que as guerras de conquista, constantemente repetidas no vale do Nilo, em breve consumiriam seu exército, já terrivelmente esgotado, e que, sem tão contínuas conquistas de novo, seria impossível manter o domínio sobre o país». O mesmo autor observa mais adiante: «Assim o Egito iniciava um novo reino de desenvolvimento autônomo, sob uma nova dinastia, cujo fundador mostrara múltiplos indícios de sagacidade política e era muito diferente dos agitados, inúteis e pouco inteligentes etíopes. A decisão assíria de abandonar o vale do Nilo foi sábia. Naturalmente, porém, a renúncia aos projetos imperiais de Esarhoddon não era considerada como tema particularmente adequado para os cronistas da corte: o Egito é simplesmente ignorado por eles».
Psamético, Necao II e Amásis figuram entre os grandes soberanos dessa época que constitui uma verdadeira renascença egípcia. Internamente podemos apresentar os seguintes traços, à primeira vista contraditórios, que caracterizam o Egito saíta: influência grega e volta ao passado. A influência helênica chegou mesmo a levar alguns sacerdotes à tentativa de conciliar os mitos gregos e a historiografia indígena por meio de assimilações e sincronismos. Os mercenários gregos foram seguidos por comerciantes que se instalaram no Delta e até mesmo no Alto Egito. O comércio grego concentrou-se sobretudo em Náucratis, cidade próxima do local em que foi construída mais tarde Alexandria. O intenso comércio levou o sucessor de Psamético, Necao II (609-594), a empreender obras para a reabertura de um antigo canal que ligava o Nilo com o Mar Vermelho. Segundo Heródoto, os trabalhos foram interrompidos devido a um oráculo que predissera estar o faraó trabalhando para o «bárbaro». «O bárbaro em questão, Dario, devia retomar o projeto e levá-lo a um bom fim».“ É ainda Heródoto que menciona a [76] famosa expedição em torno da África realizada por navegantes fenícios a mando de Necao.
Ao lado da influência grega, nota-se uma preocupação pela restauração das tradições nacionais. Os soberanos procuram restabelecer as instituições do antigo Egito buscando inspiração principalmente no Antigo Império. Costumes da corte, cultos, linguagem e até mesmo ortografia dessa época são revividas. Toda essa restauração tem, entretanto, um cunho artificial.
O reinado de Amásis (568-525) merece menção especial porque inaugura no Egito um regime novo. «Transportando para o plano nacional as concepções políticas das cidades gregas, Amásis convoca uma assembléia de notáveis, entre os quais, coisa paradoxal no Egito, não figura nenhum sacerdote. Com o concurso dessa assembléia, realiza uma verdadeira reforma das instituições egípcias. Os privilégios do clero são suprimidos, os templos são colocados sob a administração real, os últimos restos do regime senhoril, que subsistiam no Alto Egito, são abolidos; todas as rendas que os templos recebiam do povo, como uma espécie de dízimo, foram supressas. Os rendimentos dos domínios sagrados são atribuídos ao Estado que institui, em troca, um orçamento para o culto».
Externamente, os reis saítas procuraram defender o Egito das agressões asiáticas restabelecendo o antigo domínio no Oriente. A decadência do poderio assírio favoreceu as ambições e planos dos reis saítas. Sob Necao II, a política externa atingiu o apogeu: o antigo império asiático dos Tuthmose parecia em vias de ser reconstituído. Os triunfos, entretanto, foram efêmeros e o Egito encontrou um adversário poderoso no crescente poderio do novo Império Babilônico ao qual sucedeu o grande Império dos Aquemênidas.
O domínio persa.— O Egito não podia evitar sua integração no vasto império persa. Cambises preparou cuidadosamente a expedição fazendo uma aliança com os árabes, indispensável para assegurar a travessia do deserto. A morte de Amásis (substituído pelo inexperiente Psamético III), o auxílio de gregos da Ásia Menor e a cumplicidade de egípcios foram os fatores decisivos da vitória persa de Pelusa em 525. O Egito passou então a satrapia do Império Persa. Os reis persas proclamaram-se legítimos sucessores dos faraós, o que equivalia a um reconhecimento do prestígio da velha terra das pirâmides.
O domínio persa não foi contínuo no Egito. Entre a conquista de Cambises e a chegada de Alexandre, o sonho da liberdade e a lembrança de um passado glorioso levaram, mais de uma vez, os habitantes do vale do Nilo a tomarem as armas contra o estrangeiro. Tais insurreições ganharam novo alento quando as vitórias gregas contra os persas revelaram a fraqueza do grande império. Sob as XXIX e XXX dinastias (as últimas dinastias indígenas) o Egito consegue recuperar a independência reafirmando ainda uma vez a vitalidade de suas instituições [77] e de sua cultura. Em 343-342, porém, Artaxerxes III reconquistou o antigo domínio dos faraós com um exército de trezentos mil homens e uma frota de trezentas trirremes. A dominação persa deixou dessa vez uma lembrança odiosa. Um velho documento demótico narra que terras foram devastadas, os habitantes massacrados, os santuários profanados e as imagens divinas levadas para a Pérsia». Compreende-se, pois, a alegria com que os egípcios receberam a notícia da derrota de Dario III 333, e acolheram Alexandre como libertador. «O Egito havia esgotado, parece, seu poder de reação e a satisfação com a qual acolhe um novo senhor é a melhor prova de sua decadência».

Atualmente, dois tópicos aparecem em destaque nas discussões sobre a formação em Psicologia, no Brasil. Por um lado, as comemorações dos 50 anos da Lei n. 4.119, de 27 de agosto de 1962[1], que dispõe sobre os cursos de formação em Psicologia e regulamenta a profissão de psicólogo no país. Por outro, as mudanças ocasionadas pelas novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos de graduação em Psicologia, de 15 de março de 2011. Na Lei n. 4.119 há o indicativo de que a formação em Psicologia implicava, necessariamente, a formação do professor de Psicologia. Para as três habilitações propostas (Bacharel, Psicólogo e Licenciado), havia a prerrogativa da docência como atividade de cada uma delas. Concebia-se que o professor de Psicologia era um profissional no exercício da Psicologia. Em 2011, a discussão sobre a formação do professor de Psicologia voltou à tona, graças à Resolução n. 5, que instituiu as novas DCNs para os cursos de graduação em Psicologia. Essas mudanças impactaram, sobretudo, a formação do professor [43] de Psicologia. Em outras palavras, as novas DCNs para os cursos de graduação em Psicologia salientaram a formação do licenciado. Com essa Resolução, retornou o destaque de que o fazer do professor de Psicologia se constitui como exercício profissional do psicólogo.
O presente capítulo tem por objetivo descrever e analisar elementos concernentes ao professor de Psicologia em uma perspectiva historiográfica. O foco especial recai sobre a licenciatura em Psicologia. As principais fontes pesquisadas foram legislações referentes à regulamentação e à formação de psicólogos no Brasil. Considera-se que as legislações não são fontes a-históricas, que atestam fatos do passado (SOUZA, 2002). Ao contrário, as legislações devem ser historicizadas e observadas no seu contexto de produção. Essas fontes podem ser compreendidas como práticas que contribuem na organização de relações sociais entre agentes de um determinado tempo histórico. As legislações auxiliam, assim, a compreender sujeitos produzindo artifícios legais para suas interações.
Para atingir o objetivo proposto, serão abordados três eixos de discussão. Primeiramente, a produção da psicologia no ensino público primário e na formação das normalistas. Em seguida, a construção da psicologia no campo do ensino superior, principalmente na formação de outros profissionais. Por fim, a formação em Psicologia e a presença do professor de Psicologia em discursos legais. Espera-se, com isso, apresentar a profissão "professor de Psicologia" como parte importante dos fazeres dos "especialistas" em Psicologia no Brasil, ao longo de sua história. Em especial, estima-se observara licenciatura em Psicologia como um produto de práticas sociais de "professores de Psicologia", que contribuiu para a institucionalização da Psicologia quando das discussões sobre a sua legalização no Brasil.
Formando normalistas: a Psicologia, o ensino público primário e a Escola Normal
Nas primeiras décadas do século XX, aconteceu uma acentuação de discursos sobre a modernização do Brasil. Esses discursos pautavam propostas e práticas de construção do Brasil e de sua identidade como República. Por um lado, houve a criação de estruturas de Estado. Por outro, ocorreu a construção de uma infraestrutura física, em diversas cidades do país. Entre 1900 e 1930, a industrialização, o desenvolvimento científico e a renovação educacional alavancaram o discurso republicano para o progresso brasileiro. A urbanização e o crescimento populacional das cidades aceleraram-se, bem [44] como a industrialização (NAGLE, 1974/2009[2]). Tanto a urbanização, quanto a industrialização contribuíram para uma mudança na estrutura socioeconômica do país. Com esses dois processos, as classes médias urbanas, os operários e a burguesia industrial passaram a dividir espaço com as elites agrárias. No campo da construção do conhecimento, a formação científica se transformava em um poderoso ideário para a alteração social do Brasil. Seu impacto foi idealizado como favorável ao progresso do país e, com isso, os intelectuais e os cientistas produziram espaços sociais para sua participação na República. Gradativamente eles foram se tornando os porta-vozes do processo de modernização nacional, responsáveis pela reorganização social.
Com a participação dos intelectuais e cientistas, os aspectos educacionais se destacaram como um importante vetor para a consolidação do projeto republicano vinculado ao ideário de modernidade. Os discursos desses intelectuais e cientistas colocavam o investimento na escolarização como necessidade para o progresso social do Brasil. Para esse grupo, a escolarização agia em prol da solução dos problemas do atraso econômico e social brasileiro. O ensino público primário foi salientado nas discussões dos intelectuais e cientistas acerca da importância da escolarização para o desenvolvimento do país, e considerado indispensável para o estabelecimento de uma cultura nacional. A escola primária pública, vinculada ao Estado, foi um dos principais focos das políticas educacionais do período, sobretudo para a expansão do número de instituições e de alunos matriculados. Essas características estiveram presentes sobretudo no meio urbano. Nesse contexto, produziram-se diversas reformas de ensino. Tais reformas incidiram, particularmente, sobre o ensino público primário. Como conseqüência, houve a reformulação da escola normal. O sucesso do ensino primário era creditado aos professores e, por isso mesmo, recaía enorme importância sobre sua formação. De acordo com um político do período: "O ensino primário vale o que valerem os seus professores e o valor destes estará, necessariamente, em função do ensino normal" (CAMPOS, 1928/1930, p.4-0). Assim, ao lado do ato de atender ao grande número de crianças dos centros urbanos, colocava-se em questão o atendimento ao crescente número de professores, tornando-os cientificamente preparados para o exercício de sua profissão.
Várias áreas do conhecimento contribuíram para a formação de professores "cientificamente preparados", bem como participaram da criação de uma compreensão científica da dinâmica escolar. A Psicologia foi uma dessas áreas, ao lado de disciplinas como a Biologia, a Sociologia e a Estatística. De acordo [45] com Oscar Thompson[3], diretor da Escola Normal de São Paulo: "Os processos pedagógicos subordinam-se ao método psicológico e os princípios da primeira são corolários dos princípios da segunda (grifos no original)" (THOMPSON, 1914, p. 12). As apropriações da psicologia pela educação pareciam ser de duas ordens: a primeira, qualificar a formação dos professores nos aspectos teóricos e práticos, no que se referia às características psicológicas dos educandos e a segunda, legitimar as novas práticas pedagógicas como científicas.
Exemplos da psicologia contribuindo na formação de professores podem ser encontrados nas diversas reformas do ensino público primário e das escolas normais, nas primeiras décadas do século XX. Nas escolas normais, o ensino de Psicologia compunha parte importante da formação do professorado. Na Escola Normal Modelo de Belo Horizonte, circulavam saberes da Psicologia por meio do médico lago Pimentel[4], responsável pela cadeira de Psicologia. No currículo da Escola, havia a matéria de Psicologia (Psicologia Infantil), que era composta pela aplicação de testes de psicomotricidade e de inteligência. Outro exemplo pode ser encontrado nos diversos gabinetes e laboratórios de psicologia instalados nas Escolas Normais brasileiras, durante esse período, como os da Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Belo Horizonte e da Escola Normal de São Paulo, dentre outras. Esses gabinetes e laboratórios funcionaram, em grande medida, como lugares para o ensino de Psicologia. Especificamente na Escola Normal de São Paulo, Thompson (1914) fornece indícios da importância creditada à psicologia, nas primeiras décadas do século XX, pelos envolvidos com a educação no Brasil: 'Todo o progresso do meio educativo é como a repercussão de um estudo melhor da psicologia infantil, das necessidades que o educador deve conhecer para dirigir a primeira formação do espírito..." (p.7). A partir dessas fontes, observa-se que a psicologia figurava em destaque no ideário de uma formação científica do professorado brasileiro, no início do século XX. Esse destaque se fazia sentir, especialmente, a partir do ensino de Psicologia em escolas normais. Aqueles envolvidos com a Psicologia, no Brasil apareciam como "especialistas" em Psicologia, pelo fato de serem professores dessa matéria. Sendo assim, uma das atividades em evidência, dessas pessoas, era a docência em Psicologia e ministrar aulas de Psicologia foi se constituindo como uma profissão para o "especialista" em Psicologia, no Brasil. [46]
Formando especialistas: a Psicologia, o ensino superior e outros campos do saber
Ao lado das mudanças no ensino público primário, desenvolvidas pelos Estados, ficou a cargo da União pautar as discussões sobre o ensino secundário e superior. O quadro social urbano-industrial, com o surgimento das "massas urbanas" ao lado das oligarquias agrárias, também impactou o ensino superior. Esse contexto condicionou o aparecimento de diferentes projetos de educação das elites que se apresentavam como encarregadas de dirigir a transformação social brasileira (MENDONÇA, 2000). O ensino superior atendia à participação das elites na esfera pública, haja vista a necessidade de [47] formação de profissionais para atender às crescentes demandas sociais. Para implementar os projetos de modernização republicana, havia a necessidade de profissionais especializados para atuar no controle da criminalidade, na higiene das pessoas, no saneamento dos espaços, etc. Além disso, o ensino superior contribuiria para o desenvolvimento científico do Brasil. Assim, profissões como Medicina, Direito, Engenharia e Enfermagem foram construindo novos espaços sociais para a atuação de seus profissionais.
As discussões sobre o ensino superior no Brasil se fortaleceram, justamente, durante a República. Um exemplo disso foi o Decreto n. 11.530, de 1915, que reorganizava o ensino secundário e superior. Outro exemplo foi a criação de diversas escolas superiores por todo o Brasil. Na década de 1920, mas, principalmente, na de 1930, as discussões e propostas para o ensino superior se avolumaram (CUNHA, 2000/2007). Essas discussões se fortaleceram com a criação de universidades. Em 11 de abril de 1931 foi publicado o Decreto n. 19.851, que estipulava padrões de organização para o estabelecimento de instituições de ensino superior no Brasil. O fortalecimento do ensino superior no país influenciou o desenvolvimento da psicologia no Brasil. Isso se deveu, entre outros fatos, pelo ensino de disciplinas de Psicologia e de disciplinas com conteúdos de psicologia em cursos superiores. Grande parte desse ensino ocorreu na formação de outras profissões.
Bandeira-Melo (2010) demonstra a presença do ensino de Psicologia na formação de enfermeiras, a partir do caso da Escola de Enfermagem Carlos Chagas, em Belo Horizonte, na década de 1930. De acordo com a autora, diversas personagens importantes dessa Escola tiveram estreito contato com a Psicologia, o que ocorreu a partir de sua atuação como professoras de Psicologia, como o caso de Waleska Paixão[5]. O ensino de Psicologia, na Enfermagem, compunha o quadro de uma formação científica e moderna para a enfermeira. A Psicologia e seu ensino também estiveram presentes no campo do Direito e da Medicina. Júlio Pires Porto-Carrero[6](1928/2004) apresentava a psicologia diluída na formação e na atuação tanto no campo médico, como no campo legal. Em um discurso sobre os conceitos legais de "culpa" e "pena", ele articulava saberes médicos, jurídicos e psicanalíticos: "É pela psicologia, pois, que se deve abrir caminho à solução do problema [da criminalidade]..." (PORTO-CARRERO, 1928/2004, p.114). Assim, também é como "professor de [48] Psicologia" que Porto-Carrero atua e difunde saberes psicológicos, no Brasil. Por exemplo, o discurso supra-aludido foi proferido na lI Conferência Nacional de Educação, promovida pela Associação Brasileira de Educação (ABE), em 1928.
A Psicologia ainda esteve presente na formação em Filosofia, como o caso da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade de Minas Gerais (UMG)[7]. Na USP, em 1934, houve a inserção da cadeira de Psicologia, no curso de Filosofia[8]. Na UMG, desde o início da década de 1940, havia o ensino de Psicologia no curso de Filosofia, com a participação de Helena Antipoff. Em meados da década de 1940, com a sua transferência para o Rio de Janeiro, Pedro Parafita de Bessa[9]assumiu a cadeira de Psicologia do curso de Filosofia da UMG. Dessa maneira, também nos cursos superiores, evidenciava-se o ensino de Psicologia. Aqueles "especialistas" em psicologia figuravam como professores de Psicologia, em diferentes campos do saber. O ensino de Psicologia e o professor de Psicologia foram figuras de destaque nesse processo. A atuação desses profissionais permitiu a produção e a difusão de conhecimentos da psicologia em diferentes áreas do conhecimento.
A circulação da psicologia, a partir da atuação do "professor de Psicologia", contribuiu para a produção de leis sobre sua profissionalização e formação, no país. Em 19 de março de 1932 foi publicado o Decreto n. 21.173[10]. Nele, o laboratório de Psicologia da Colônia de Psicopatas de Engenho Dentro era convertido em Instituto de Psicologia. Apesar de o Instituto ter funcionado por apenas alguns meses, a sua criação foi justificada pela ausência "...no país, [de] núcleos incentivadores destes estudos, para sua maior divulgação e desenvolvimento”(BRASIL, 1932) sendo que"... as técnicas psicológicas [vinham] apresentando, dia a dia, novas e importantes aplicações..." (idem ibidem). Portanto, desde a década de 1930, existiam discursos legais favoráveis à criação de centros de formação em Psicologia. Um dos fazeres que influenciaram fortemente a ocorrência desses discursos legais foi a atuação dos "professores de Psicologia" em áreas como a Pedagogia, Medicina e Direito. [49]
Entre as décadas de 1940 e 1950, acentuaram-se os discursos que ligavam a universidade ao campo da pesquisa e da produção da ciência. Paralelamente, diversas instituições associadas à ciência foram criadas no Brasil. Exemplos são: a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em 1948; em 1951, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Essas iniciativas e proposições se fortaleceram na década de 1960. Nesse período, no seio dos movimentos estudantis, surgiram projetos de democratização do ensino superior. Os professores universitários se organizavam mais claramente, a fim de compor reformas no ensino superior. Variadas modalidades de publicação foram feitas, desde cartas advindas dos Seminários Nacionais de Reforma Universitária (p. ex., Carta do Paraná em 1962 e Carta de Minas Gerais em 1963) a livros, como A questão da Universidade, de Álvaro Vieira Pinto[11]. Sendo assim, embora o governo ditatorial tenha afetado profundamente a academia no Brasil, a década de 1960 foi um período de impulsão do ensino superior (CUNHA, 2000/2007).
Junto às discussões específicas sobre o ensino superior, foi publicada a Lei n. 4.024, que fixava as normas que embasariam a educação nacional, conhecida como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1961. A LDB de 1961 impactou a formação de professores no Brasil e, consequentemente, a formação dos licenciados. Isso, por sua vez, influenciou a formação e o exercício profissional do "professor de Psicologia" (CIRINO, KNUPP, LEMOS e DOMINGUES, 2007). No artigo 592 dessa Lei, lê-se: “a formação de professores para o ensino médio será feita nas faculdades de Filosofia, Ciências e Letras..." (BRASIL, 1961). Ainda no corpo do texto da LDB observa-se, em seu artigo 622: "nas faculdades de filosofia será criado, para a formação de orientadores de educação de ensino médio, curso especial a que terão acesso os licenciados em Pedagogia, Filosofia, Psicologia e Ciências Sociais..." (idem). Dessa forma, pode-se notar que era necessário ser licenciado para ocupar o lugar de professor, no ensino médio e, no que se refere à área de atuação da psicologia, também cabia a possibilidade de ser orientador escolar. A educação e a formação de profissionais qualificados se acentuaram nos discursos legais, no Brasil, na década de 1960. No seio dessas discussões estava o "professor de Psicologia" e a licenciatura.
O início da década de 1960 compreendeu, também, a aprovação da Lei n. 4.119, em 27 de agosto de 1962. Essa Lei dispõe sobre os cursos de formação [50] em Psicologia e regulamenta a profissão de psicólogo, no Brasil. Ela contribuiu fortemente na definição dos campos de atuação, das funções privativas do psicólogo e na adoção de um código de ética. A Lei n. 4.119 auxiliou na orientação e no controle da atuação profissional do psicólogo, no Brasil. A articulação de profissionais da Psicologia e políticos brasileiros, durante a primeira metade do século XX, culminou em uma lei que regulamentava a formação e a profissão de psicólogo. Desde as décadas de 1920 e 1930, a docência de Psicologia era um campo de atuação do "especialista" em Psicologia. Ser "professor de Psicologia" se constituía em uma área de atuação profissional. Por um lado, a prática docente dos "especialistas" em psicologia foi uma das atividades que permitiu as articulações para a promulgação da Lei n. 4.119. Por outro, com essa lei foram regulamentadas a formação e a atuação do professor de Psicologia. A docência em Fsicologia se consolidou como um campo de atuação do psicólogo legalmente reconhecido. Assim, a Lei n. 4.119 institucionalizou esse exercício profissional e sua formação, principalmente a partir da licenciatura em Psicologia.
Formando psicólogos: o professor de Psicologia, a licenciatura e os discursos legais
Desde as primeiras décadas do século XX observa-se a presença de professores de Psicologia no campo dos "especialistas" em Psicologia. Isso fez com que esses "especialistas" fossem denominados, contemporaneamente, de pioneiros da Psicologia (ver CAMPOS, 2001). Assim, na atuação de professores de Psicologia, como Annita Marcondes Cabral[12], Eliezer Schneider[13], Helena Antipoff, Lourenço Filho e tantos outros, a Psicologia construída no Brasil foi produzindo documentos legais para legitimar sua atuação. A promulgação da Lei n. 4.119 pode ser compreendida pela atuação de profissionais como esses, bem como pela articulação de vários atores, nos anos precedentes a 1962. Um exemplo paradigmático é a proposta curricular para a formação em Psicologia, de Eliezer Schneider (SCHNEIDER, 1949 citado por [51] CABRAL, 1953[14]). Essa proposta representa um grupo de iniciativas e discussões em torno da formação e atuação do psicólogo no Brasil, em especial pela preocupação com um treinamento prático e científico do futuro psicólogo. A proposta compreende quatro anos de curso, em que são apresentadas três horas semanais de formação em Psicologia Experimental, nos dois primeiros anos de curso, além de doze horas semanais de Psicologia Educacional, no último ano.
Na década de 1950, vários atores se articularam para legalizar a formação e a atuação da Psicologia no país. Sua participação se deu, principalmente, a partir de associações, tais como a Sociedade de Psicologia de São Paulo, a Associação Brasileira de Psicotécnica e a Sociedade Mineira de Psicologia, dentre outras. Nesse período, também houve a criação de cursos de graduação em Psicologia, mesmo sem definições legais sobre a formação e o campo de atuação do psicólogo. Como exemplos, podem ser citados os cursos de graduação em Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), em 1953, da Universidade de São Paulo (USP), em 1958 e da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), em 1959. Por meio da participação desses cursos e de associações de Psicologia, bem como da atuação daqueles "especialistas" em Psicologia, foram produzidos projetos de regulamentação da formação e da profissão de psicólogo, no Brasil.
De acordo com Baptista (2010), a década de 1950 foi marcada por intensos debates dos "especialistas" em Psicologia sobre a legalização da formação e da profissão de psicólogo, no Brasil. Em 1953, um projeto foi submetido ao Ministério da Educação e Cultura, no qual era indicada a necessidade de formação teórica e prática do profissional. A parcela teórica era o curso de bacharel, cuja duração era de três anos. A parte prática formava o licenciado em Psicologia. Aqui, parece que o significado do termo "licenciado" não é, necessariamente, "professor de Psicologia". O termo "licenciado", nesse documento de 1953, parece se referir àquele que poderia aplicar a psicologia com finalidades práticas. Os termos "licença" e “licenciado" parecem se referir a obter um documento - um diploma - que habilitava o psicólogo a praticar psicologia. Isso implicava ter uma "licença" para o exercício profissional. Essa nomenclatura era partilhada, com significação similar, por países da América do Sui, como a Argentina. Todavia, o ensino de Psicologia compunha as atividades práticas daqueles envolvidos com a Psicologia, no Brasil. Dessa maneira, embora "licenciado" não fosse sinônimo de professor, o termo parecia abranger esse exercício profissional. Isso porque a docência de Psicologia [52] compunha os fazeres típicos dos "especialistas" em Psicologia, no Brasil, desde o início do século XX.
Ainda em 1953 foi promovido um debate no "I Congresso Brasileiro de Psicologia", ocorrido em Curitiba. Nesse debate, profissionais como Annita Marcondes Cabral, Carolina Bori[15]e Pedro Parafita de Bessa articularam novas propostas para a regulamentação da profissão e apresentou-se a proposta curricular de Annita Cabral para a formação do psicólogo (CABRAL, 1953). No documento, ao lado das matérias consideradas básicas, tais como Psicologia Experimental e Psicologia Diferencial, apareciam disciplinas optativas que guardavam relação direta com a formação do professor de Psicologia. No corpo do texto lê-se: "Duas matérias optativas. (a Psicologia Educacional entra necessariamente no currículo do Curso de Didática, necessário à Licenciatura, entrando consequentemente no currículo dos licenciados em Psicologia)[16]" (idem). As matérias necessárias à formação do licenciado eram concebidas como complementares à formação do Psicólogo. A partir do contato com essa fonte, observam-se elementos que auxiliam a compreender o "professor de Psicologia": (a) na formação optativa, havia disciplinas próprias que caracterizavam a formação do professor; (b) os termos "licenciado" e "licenciatura" começavam a figurar mais próximos do sentido de "professor" e (c) havia uma preocupação em delimitar que uma das atribuições profissionais do psicólogo era a docência. Assim, as discussões sobre a regulamentação da profissão de psicólogo, no Brasil, indicavam a importância e o lugar do professor de Psicologia nas atribuições da área.
O fim da década de 1950 também possui marcas do processo de legalização da Psicologia como formação e profissão, no país. Mais uma vez, pode-se observar o professor e o ensino de Psicologia, em evidência, nas preocupações legais. Entre 1957 e 1958 foram produzidos, pelo Ministério da Educação e Cultura, outros documentos referentes à regulamentação da Psicologia (p. ex., BRASIL, 1958a[17]; BRASIL, 1958b[18]). Em tais documentos, propõe-se que a [53] formação em Psicologia continuaria ocorrendo em dois níveis: o primeiro, por meio de um curso de bacharelado, com duração de três anos, e o segundo seria de licença, a ser desenvolvido em dois anos. Esse segundo curso subdividia-se em dois segmentos de um ano cada. No segundo ano, havia duas mo dalidades de "licença", sendo que uma delas era a de professor de Psicologia. No texto do Projeto de Lei n. 3.825-A:
Art. 2. O curso de bacharelado, em três séries anuais, constituir-se-á de disciplinas fundamentais, idênticas em todas as faculdades, e de outras nelas variáveis.
Art. 3. O curso de licença terá duas séries anuais, a primeira de estudos co muns e a segunda com duas modalidades, a saber: 1. Pesquisa e ensino; 2. Aplicação. (BRASIL, 1958a)
No campo destinado à licença em "pesquisa e ensino", pode-se notar a presença de aspectos ligados à formação do "professor de Psicologia", ou seja, do licenciado como docente de Psicologia. O documento apresentava como disciplina indispensável "Fundamento e técnicas da orientação educacional". Esse aspecto vai ao encontro das especificações contidas na LDB para o licenciado que, além de ser professor de Psicologia, poderia exercer a função de orientador educacional. Portanto, o licenciado em Psicologia possuía uma formação própria para garantir sua atuação profissional. Aiém disso, exigia- se, em sua formação, o curso de "didática", que implicava no desenvolvimento de habilidades necessárias ao exercício docente. Uma vez mais, a formação do "professor de Psicologia", agora como "licenciado", estava presente nas discussões legais sobre a formação e a atuação profissional do psicólogo.
O Art. 185 do Projeto de Lei n. 3.825-A também auxilia a compreender o lugar do professor de Psicologia, agora como licenciado:
Art. 18. Até que se diplomem licenciados em psicologia, em número suficien te aos serviços de orientação educacional nos estabelecimentos de ensino médio, será permitido, nas faculdades de Filosofia, que obtenham autoriza ção para o curso de bacharelado em psicologia, o funcionamento de cursos de emergência para habilitação de orientadores educacionais de ensino mé dio. (BRASIL, 1958a)
Este trecho do Projeto de Lei evidencia a atuação do psicólogo como orientador educacional. Todavia, a orientação educacional era uma prerrogativa do licenciado em Psicologia. O documento sugere que parecia haver uma demanda profissional para o licenciado, tanto que havia a possibilidade de uma formação rápida para atender a tal urgência. Ressalte-se que essa fonte [54] nos sugere que havia um campo de atuação a ser preenchido pelo licencia do em Psicologia, não apenas como "professor de Psicologia", mas também como orientador educacional.
Entre 1958 e 1959, foi proposto um documento substitutivo ao Projeto n. 3.825-A. Nele, o professor de Psicologia aparece com acentuado destaque. A formação do Psicólogo era composta, no documento, por dois níveis: bacharelado (três anos) e licença (três anos). Portanto, ampliava-se em um ano a formação do licenciado em Psicologia. No parecer do Ministério de Educação e Cultura ao substitutivo do Projeto n. 3.825-A observa-se uma preocupação específica com a formação do licenciado (BRASIL, 1959), relacionada ao exer cício profissional do "professor de Psicologia". No texto do parecer:
Também discordamos do substitutivo de São Paulo quanto à formação menor dos professores de psicologia. Consideramos que ao psicologista licenciado é que compete ensinar ou exercer psicologia, tarefas igualmente importantes e, a nosso ver, inseparáveis da experiência do campo exigida no 2º e 3º anos de licença (idem).
No final do primeiro ano de licença, caso o estudante tivesse sido aprova do em Didática Gera! e Especial, a ele seria conferido o diploma de licenciado, que o habilitava a ministrar aulas de Psicologia (BAPTISTA, 2010). Uma vez mais, as discussões legais sobre a regulamentação da profissão de psicólogo, no Brasil, consideravam o ensino de Psicologia como sua atribuição. Para tanto, atribuíam-lhe uma licença para ensinar Psicologia. Esse aspecto sugere que, se antes a licença habilitava a prática geral de Psicologia, gradativamente ela vai se tornando uma habilitação específica para o professor de Psicologia. Portanto, vai se constituindo o licenciado em Psicologia como sinônimo do professor de Psicologia.
Em 1962, então, a Lei n. 4.119 apresenta três habilitações para a formação em Psicologia: Bacharel, Psicólogo e Licenciado. Há a prerrogativa da docência para as três habilitações propostas. No texto legal, existe o indicativo de que a formação em Psicologia implicava, necessariamente, a formação do professor de Psicologia. No capítulo III da referida Lei, existe uma menção às atribuições e aos campos de atuação das três habilitações possíveis para o psicólogo. No texto da Lei:
Art. 11. Ao portador do diploma de Bacharel em Psicologia é conferido o direito de ensinar Psicologia em cursos de grau médio nos termos da legislação em vigor.
Art. 12. Ao portador de diploma de Licenciado em Psicologia é conferido o direito de lecionar Psicologia, atendidas as exigências legais devidas. [55]
Art.13. Ao portador do diploma de psicólogo é conferido o direito de ensinar Psicologia nos vários cursos de que trata esta lei, observadas as exigências legais específicas, e a exercer a profissão de Psicólogo (grífos nossos) (BRASIL, 1962a).
Vale ressaltar que, nos artigos citados, a função de "ensinar" é uma atribuição das três modalidades e o que as diferencia é a delimitação do nível de ensino para cada uma delas: superior, médio ou fundamental. Dessa forma, ao Bacharel, ao Licenciado e ao Psicólogo é conferido o direito de lecionar Psicologia. Segundo Lemos (2010), pode-se notar que o estabelecimento do campo de atuação do licenciado em Psicologia não foi bem delimitado na Lei n. 4.119. O fato tem relação com o delineamento de diferentes níveis de ensino para cada modalidade de formação em psicologia. Para o "psicólogo", o nível de ensino estabelecido acontece "nos vários cursos de que trata esta lei", ou seja, o objeto dessa Lei é, portanto, a psicologia. Em seu Art. 13a, a Lei n. 4.119 sugere, com isso, que o "psicólogo" é o responsável pelo ensino de Psicologia nos cursos superiores de Psicologia (LEMOS, 2010). A delimitação para a atuação do "bacharel" é o ensino médio e, para o "licenciado", não há menção de um nível de ensino específico. Dessa maneira, ao mesmo tempo em que a Lei n. 4.119 foi influenciada pela atuação do professor de Psicologia, ela deixou pouco clara a delimitação para a habilitação específica para a docência, o licenciado em Psicologia. Associando esse aspecto ao Projeto n. 3.825-A, especialmente em seu Art. 18a, pode-se interpretar que o fazer do licenciado estava disperso nas atividades regulares dos "especialistas" em Psicologia. Portanto, não havia necessidade clara de delimitação de um campo específico.
O Parecer n. 403, do Conselho Federal de Educação (CFE), aprovado em 19 de dezembro de 1962, auxilia a compor o destaque do professor de Psicologia no cenário da Psicologia brasileira, à época. Esse documento fixava um currículo mínimo de formação em Psicologia. De acordo com os relatores do parecer, sua escrita e proposição estavam amparadas por reuniões com diversos "especialistas" em Psicologia, no Brasil. Esses "especialistas" eram os
[...] professores M. B. Lourenço Filho e Nilton Campos[19], da Universidade do Brasil, Carolina Martuscelli Bori, da Universidade de São Paulo; Padre Antonius [56] Benkõ[20], da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e Pedro Parafita [de] Bessa, da Universidade de Minas Gerais (grifos nossos). (BRASIL, 1962b)
Como o texto do próprio parecer indica, os "especialistas" procurados para contribuir na proposição de um currículo de formação em Psicologia eram professores de Psicologia. Uma das atividades de todos os atores citados foi a atuação no ensino de Psicologia, não apenas para psicólogos, como também para outras profissões. Outro documento legai que auxilia a compreender a evidência do professor de Psicologia, nas primeiras décadas do século XX, é o Decreto n. 53.464, de 21 de janeiro de 1964, que regulamenta a Lei n. 4.119. Nele, o exercício da profissão de professor de Psicologia também figura como atividade facultada àqueie graduado em Psicologia. No referido Decreto, lê-se que, dentre as funções possíveis para o psicólogo, está: "Ensinar as cadeiras ou disciplinas de Psicologia nos vários níveis de ensino, observadas as demais exigências da legislação em vigor" (BRASIL, 1964). Ainda nes se documento, em seu Art. 62, podem ser observadas menções específicas à oferta da licenciatura em Psicologia como habilitação: "Art. 6a- As Faculdades de Filosofia poderão instituir Cursos de Graduação de Bacharelado e Licenciado em Psicologia e de Psicólogo" (idem ibidem). O ensino de Psicologia aparecia, em diversos momentos, no campo legal. A docência em Psicologia surgia como experiência prévia daqueles envolvidos com a Psicologia, no país. Dessa forma, o professor de Psicologia era um profissional à serviço da psicologia, quando de sua atuação, e tinha seu fazer legitimado pelo discurso legal. Esse fato é observado pela presença de vários professores de Psicologia na composição de um currículo para essa profissão. O professor de Psicologia surgia no corpo da Lei que regulamenta o exercício profissional do psicólogo. O ensino de Psicologia aparecia como facultado a qualquer habilitação da graduação em Psicologia, especialmente para o licenciado.
Considerações finais
A narrativa aqui apresentada reconstruiu alguns aspectos concernentes ao professor de Psicologia em uma perspectiva historiográfica, sendo que o foco principal foi a sua licenciatura. A profissão do "professor de Psicologia" e, portanto, o ensino de Psicologia, puderam ser observados como importantes vetores de articulação desse campo, na primeira metade do século XX. [57]
Essa afirmação foi subsidiada por três eixos: (a) a participação dos professo res de psicologia na formação de normalistas, durante as décadas de 1920 e 1930; (b) a presença dos "especialistas" em Psicologia, ensinando-a na formação de outras profissões do ensino superior, até meados da década de 1960 e (c) entre as décadas de 1940 e 1960, o destaque do ensino de Psicologia como atribuição legal do exercício profissional do diplomado no Brasil.
Durante a primeira metade do século XX, os atores vinculados à Psicologia produziram espaços para sua atuação profissional. Na delimitação desses espaços de atuação, esses "especialistas" em Psicologia se envolveram com o ensino de Psicologia e com o embate legal para estabelecer seu campo profissional. Esse embate legal produziu diversos documentos, tais como decretos, pareceres e leis. Por um lado, tais documentos são produto das práticas que os antecederam e, assim, foram influenciados pela docência dos "especialistas" em Psicologia. A atuação daqueles envolvidos com a psicologia compreendia, sobremaneira, o fazer do professor de Psicologia. Por outro, os textos legais regulamentaram e legitimaram práticas psicológicas, dentre elas o ensino de Psicologia vinculado à licenciatura. As práticas cotidianas dos "especialistas" em Psicologia, então, eram delimitadas pelo campo de atuação do psicólogo legalmente reconhecido. Isso implicou no reconhecimento e na legitimação da docência em Psicologia como atribuição do diplomado em psicologia. Dessa forma, as legislações contribuíam para a organização de relações sociais entre agentes de um determinado tempo histórico.
Este capítulo apresentou a profissão "professor de Psicologia" como parte importante das atribuições práticas e legais daqueles envolvidos com a psicologia, no Brasil, ao longo da primeira metade do século XX. Essa profissão impactou fortemente o desenvolvimento e o estabelecimento da psicologia no país. O impacto foi sentido, principalmente, pela delimitação da Licenciatura como habilitação para o graduado em Psicologia, constante na Lei n° 4.119, que continua dispondo sobre a formação e a atuação profissional do psicólogo brasileiro na atualidade. Discussões historiográficas, como a aqui produzida, auxiliam a compor um quadro ampliado da contemporaneidade. Assim, remata-se com um convite a novas reflexões sobre o passado, o presente e o futuro do professor de Psicologia, no país. [58]
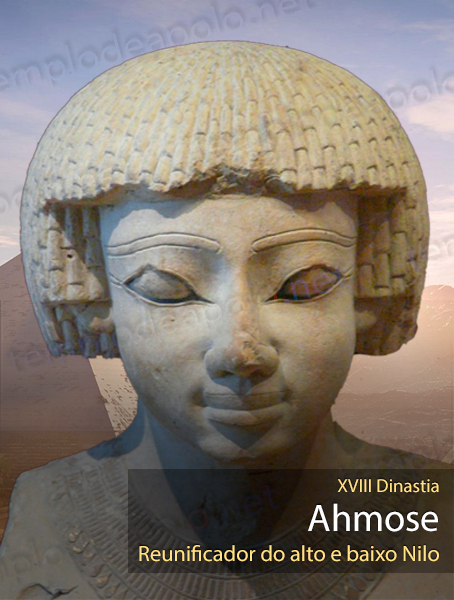
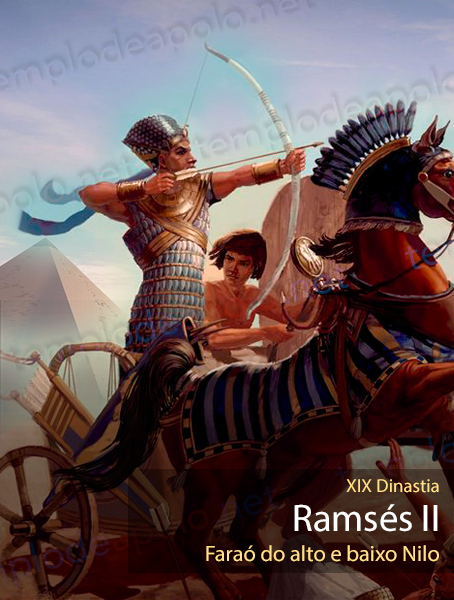
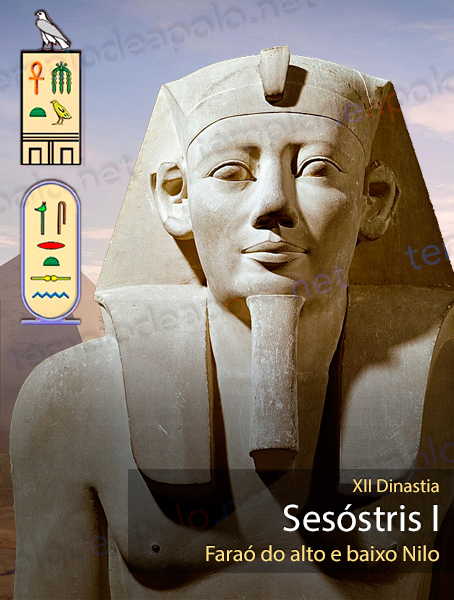
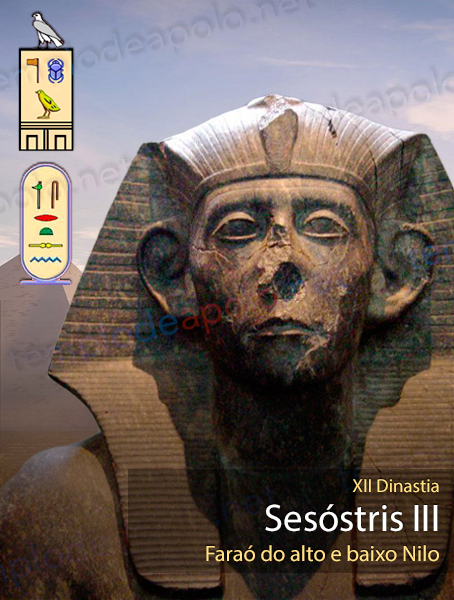

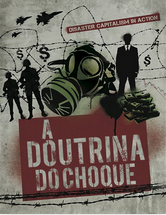

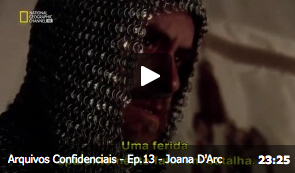


Todos os ignorantes desejam penetrar nas coisas secretas...













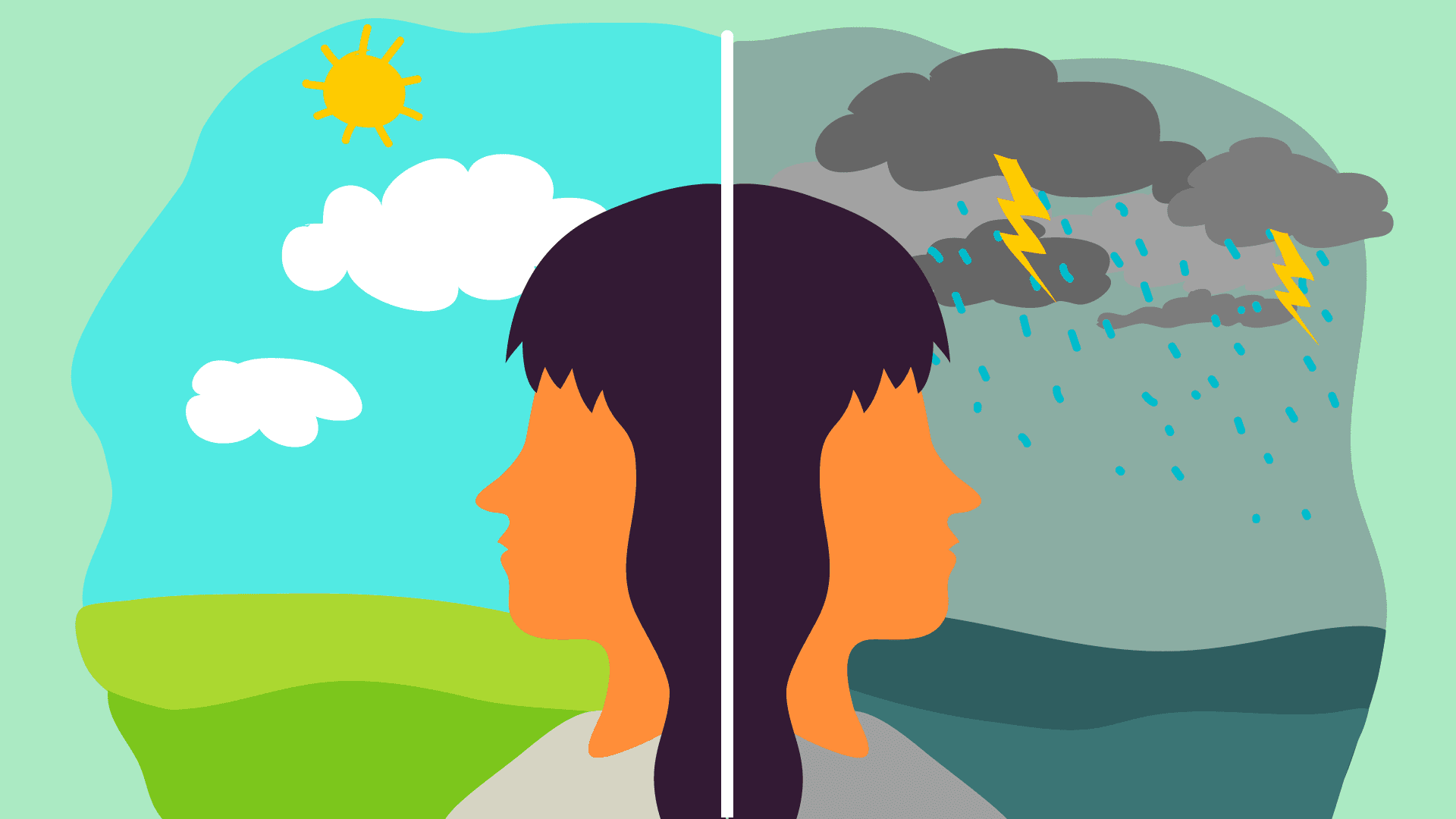






![Navio de guerra SMS Deutschland [1912]](http://www.templodeapolo.net/imagens/figuras/templodeapolo.net_SMS_Deutschland.jpg)