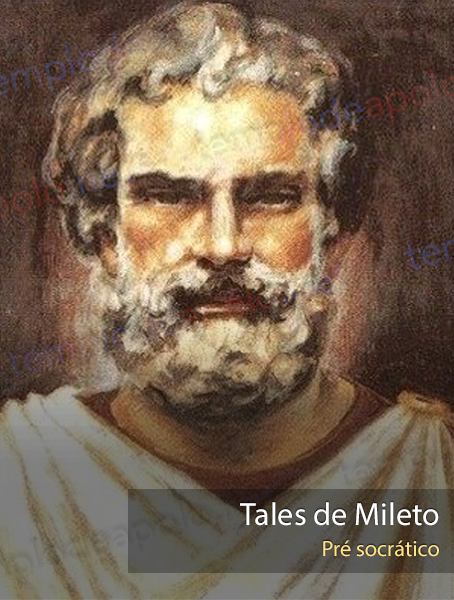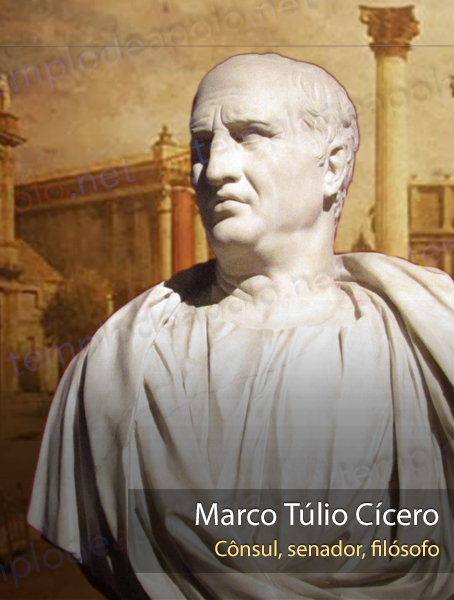À alma pertencem a felicidade e a infelicidade.


Horácio, ao atingir os 40 anos, não se resignava a viver na cidade. Passava a maior parte do tempo no campo, em Tibur, ou a beira-mar e na tranqüila cidade de Tarento, Mas o escravo que encarregara de cultivar os seus domínios de Tibur não partilhava do entusiasmo do amo. Outrora, tinha certamente desejado viver mais a vontade do que na cidade, sonhara nas longas noites de Inverno, em que se dorme a sociedade, com provisões acumuladas no celeiro mas, depois de se tornar vilicus, mudara de idéias e por mais de uma vez lamentara não gozar os prazeres da cidade. Horácio recorda-lhe ironicamente:
"Agora", diz-lhe, "aspiras a Cidade, e aos jogos, e aos banhos, agora que és rendeiro... Eu e tu não apreciamos as mesmas coisas... Um local mal freqüentado, uma taberna de cozinha gordurosa recordam-te a cidade, bem o vejo, e também pensas que este pequeno domínio produziria pimenta e incenso mais rapidamente do que vinho, que não tens ao teu alcance uma taberna para te fornecer de vinho, nem uma jovem complacente que toque flauta para dançares até caíres redondo no chão..."
Os gostos do rendeiro de Horácio podem parecer-nos vulgares. Mas são os da plebe romana, ávida de prazeres fáceis que não se encontram no campo: para ela, beber sem restrições entre mulheres, dançar, freqüentar os jogos, os banhos são características da vida urbana, assim como, talvez, essa espécie de prazer mais difícil de definir que se experimenta ao contatar com outros seres humanos: a plebe romana — e não só a plebe — é geralmente sociável. Não é verdade que já Catão proibia os seus rendeiros, sobretudo as rendeiras, de receberem liberalmente nos seus domínios os vizinhos conversadores em busca de companhia? Para o Romano, o principal prazer consiste em encontrar-se com os amigos no Fórum, no Campo de Marte, junto aos pórticos das praças públicas, nas termas e em casa, se é rico e pode entregar-se, à noite, aos intermináveis jantares a que se seguem prolongados serões bem regados; se, pelo contrário, a sua condição não lhe permite este luxo, gosta, pelo menos, de se regalar num cabaré.
Os encontros entre amigos eram freqüentes, obrigatórios numa cidade que, apesar de tudo, era pequena e cujo centro foi, durante muito tempo, uma única praça pública e onde, apesar do crescimento da população, um dos principais deveres dos homens de elevada condição consistia em saber o nome de cada um dos cidadãos que encontrasse ao longo do dia. É verdade que, no fim da República e durante o Império, os romanos ricos se faziam acompanhar por um escravo especialmente encarregado de lhes recordar os nomes que pudessem ter esquecido: o nomenclator (assim se chamava o secretario de infalível memória) não existia no século II a.e.c. e a sua intervenção testemunha apenas a fidelidade dos Romanos ao velho principio segundo o qual não devia haver desconhecidos no Fórum. Uma boa parte dos costumes romanos explica-se assim: a vida social baseia-se, em primeiro lugar, em relações pessoais. Cada individuo existe em relação a família, aos aliados, aos amigos, e também em relação aos inimigos; há alianças tradicionais e inimizades que não o são menos. Os princípios políticos contam menos, afinal, do que a relação de homem para homem. A vida da cidade assentava, pelo menos tanto como nas leis, nestas relações regidas pelos costumes.
Os textos literários trouxeram até nós a recordação destas conversas entre amigos que surgiam a propósito de tudo. Por vezes, eram alguns senadores que, numa festa, se afastavam da multidão para debaterem uma questão importante. É assim a introdução dos três livros que Varrão escreveu e que constituem o seu tratado Sabre a Agricultura. Enquanto o povo assiste as cerimônias, alguns grandes senhores camponeses encontram-se no templo de Tellus (a Terra) durante a festa das Sementeiras, ou então na Villa publica, no Campo de Marte, num dia de eleição. Falam pausadamente, contam, analisam com uma teimosia e uma subtileza de aldeões. Para eles, Roma é sempre o grande burgo, a cidade onde se vem tratar de negócios, do domínio, da pátria, mas também conversar. Outros diálogos literários, dos quais conhecemos apenas o pretexto e o cenário, tratavam de senadores regressando à casa, depois de terminada a sessão da Cúria, e comentando descuidadamente as discussões que acabavam de se desenrolar. É significativo que os autores latinos tenham retomado preferencialmente o gênero grego do diálogo, mas transformando-o; em vez da pura dialética platônica, quiseram recriar — à custa de um estilo por vezes pesado e de artifícios — a atmosfera das conversas reais que ocupavam tantas horas da vida romana. Os passeios pelo Fórum eram tão essenciais que o próprio Catão se resignara a introduzir uma novidade vinda da Grécia, a primeira basílica, onde os conversadores estavam protegidos do sol e da chuva.
É fácil imaginar que nem só as grandes personagens formavam grupos para discorrer no Fórum. Os mais pequenos também estavam ávidos de palavras, apesar de as suas palavras serem menos importantes para os negócios deste mundo. E, muitas vezes, o que os apaixonava não era um dos grandes problemas do momento, mas muito simplesmente, como atualmente acontece com os aldeões da Provença debaixo dos plátanos, o desenrolar dramático de um jogo. São conhecidos estes jogos da arraia-miúda; a sua recordação tangível está gravada nas lajes do Fórum. Estes jogos processavam-se em formas geométricas traçadas no chão. Vemo-las nas lajes da Basílica Julia, em Roma, nos degraus que conduzem ao templo de Venus e de Roma, no Campo dos Pretorianos, e também longe de Roma, em Timgad, na África, e em Jerusalém, na residência dos governadores romanos. Serviam para o jogo do cucarne, para jogar aos dados (apesar de este jogo ser oficialmente proibido, como todos os jogos de azar, mas o próprio Augusto o jogava, mesmo na sua liteira), ou ainda ao latrúnculo, espécie de xadrez cujas peças figuravam soldados. Todos estes graffiti nos sugerem os prazeres do povo, jogadores acocorados em volta de um tabuleiro de xadrez, espectadores comentando as jogadas enquanto os senadores de toga passam e voltam a passar e a volta do estrado do pretor, não muito longe, repercutem as vozes, as invectivas, as súplicas dos litigantes.
A chegada da filosofia em Roma
A partir de meados do século II, outras distrações se ofereciam aos ociosos do Fórum. Tinham chegado a Roma, timidamente primeiro, depois mais numerosos, filósofos gregos em busca de discípulos. Os epicuristas foram os primeiros. Defendiam que a vida humana tinha por fim último o prazer, que todos os seres procuram acima de tudo a satisfação da sua própria natureza. Não lhes faltaram auditores; as suas palavras acorriam os jovens, abandonando os exercícios do Campo de Marte. Mas os magistrados mostraram-se impenetráveis. Os filósofos bem pregavam que este prazer cujo evangelho defendiam não era o dos sentidos, e que não era o deboche que ensinavam, mas a abstinência: os senadores ordenaram ao pretor que expulsasse os impertinentes. Contudo, a juventude habituara-se às lições dos filósofos. Muitos senadores sentiam-se igualmente atraídos por estes discursos livres e quando em 154 (ou 155) chegaram a Roma três filósofos, Carneades, Diógenes e Critolau, para defenderem a causa de Atenas, toda a gente se juntou à sua volta para os ouvir. Dos três, Carneades era o conferencista mais brilhante. Um dia, tomou publicamente a palavra e proferiu o elogio da Justiça — o que muito agradou aos Romanos, que se consideravam geralmente o povo mais justo do mundo. Carneades demonstrou que a Justiça era a mais nobre e a mais útil de todas as virtudes, pois só ela fundamentava os Estados e as leis. Todos aplaudiram. Mas, no dia seguinte, o mesmo, Carneades retomou a palavra sobre o mesmo tema e demonstrou o contrário do que defendera na véspera. Afirmou que a Justiça, por excelente que fosse em si mesma, era na realidade uma impossível quimera, pois, dizia, se os Romanos quisessem ser perfeitamente justos, deveriam restituir as suas conquistas. Não será a guerra uma forma de injustiça? Mas, se os Romanos tivessem a ingenuidade de renunciar as suas conquistas, não se conduziriam como imbecis? A Justiça não seria, então, uma forma de imbecilidade? E, nestas condições, como torná-la uma virtude? Carneades, ao defender este paradoxo, transportava para o Fórum polemicas de escola familiares aos Atenienses, habituados a ouvi-lo atacar o dogmatismo dos estóicos. Mas é fácil imaginar o escândalo que suscitaram em Roma estas afirmações pouco habituais e a confusão dos senadores, que tomaram a letra a ironia do Acadêmico. Apressaram-se a anular o despacho oficial que chamara a Itália os três filósofos e estes foram expulsos.
A embaixada de 155 ficou célebre na memória dos Romanos; os ecos das duas conferências de Carneades não se apagaram nos tempos mais próximos e aos filósofos que chegaram a Roma, mais numerosos do que nunca, não faltaram discípulos. Na maior parte das vezes, familiarizavam-se com os grandes, de quem se tornavam amigos e, em certos casos, diretores de consciência. Nem todos eram gregos; havia orientais helenizados, e também italianos convertidos ao pensamento grego, como Blóssio de Cumes, estóico, que foi o conselheiro mais escutado de T. Graco e muito contribuiu para que se traduzisse em fatos o ideal de humanidade (philanthropia) pregado pelos mestres do Pórtico. Pela mesma época, outro pensador estóico, Panécio, tornara-se companheiro de Cipião Emiliano, e a sua influência, largamente divulgada entre os amigos e os aliados dos Cornelii, tornou as idéias estóicas familiares aos aristocratas romanos. Estes filósofos ensinavam em casa dos seus protetores, e também nas suas casas de campo. Mas como impedir que homens que tinham a proteção de senadores e magistrados influentes tomassem a palavra em público? Acontecerá, porém, mais uma vez, no inicio do Império, e mesmo no tempo de Domiciano. Os filósofos foram expulsos de Roma, mas estas medidas foram tomadas tendo sobretudo em conta os pregadores que se reclamavam ora do cinismo, convidando os auditores a um total desprezo pelas regras mais elementares da vida social, ora de um misticismo em que as práticas divinatórias e mágicas assumiam a maior importância — o que não deixava de comportar graves riscos para a tranqüilidade pública. Estes reflexos elementares de defesa contra um perigo muito real atingiram, por vezes, pensadores autênticos, mas estes aceitavam afastar-se da Cidade por uns tempos, retirando-se para casa de amigos. Uma vez amainada a tempestade, regressavam.
Estamos muito bem informados sobre as desventuras dos filósofos no tempo de Nero e de Domiciano, pois Filóstrato legou-nos A Vida de Apolônio de Tiana. Depois de ter percorrido todo o Oriente e uma parte das cidades da Grécia, Apolônio, que se reclamava do neopitagorismo e pretendia, a força de ascese, ter conseguido entrar em comunicação direta com os deuses, concebeu finalmente o projeto de partir para Roma. Ora, diz Filóstrato, "nesse tempo Nero não tolerava que se fosse filósofo; os filósofos afiguravam-se-lhe como uma raça indiscreta por trás da qual se dissimulavam adivinhos e, por fim, o manto de filósofo acabou por conduzir quem o usasse diante dos juízes, como se fosse sinal de que se praticava a adivinhação". Já. Musónio, outro filósofo que talvez deva ser identificado com o mestre de Epíteto, Musonius Rufus, fora preso, e quando Apolónio entrou na Via Apia, acompanhado por trinta e quatro discípulos vindos com ele do Oriente, encontrou Filolau de Cittium não muito longe de Aricia. Este Filolau era, segundo Filóstrato, um hábil orador, mas tinha horror às perseguições. Sem esperar que o expulsassem, abandonara Roma de vontade própria e sempre que encontrava um filósofo pelo caminho, exortava-o a afastar-se rapidamente. Os dois homens começaram a conversar a beira da estrada. Filolau criticou Apolónio pela sua imprudência:
"Arrastas atrás de ti um coro de filósofos (na verdade, todos os discípulos de Apolónio eram reconhecidos como tal, usando manto curto, descalços, cabelos ao vento), e vêm todos oferecer-se à malevolência, ignorando que os oficiais colocados por Nero às portas da cidade vos prenderão ainda antes de fazeres menção de querer entrar".
Apolónio compreendeu que o terror perturbara Filolau. Mas apercebeu-se igualmente do perigo e, voltando-se para os discípulos, deu liberdade aos que quisessem regressar. Dos trinta e quatro discípulos restaram apenas oito e foi com este acompanhamento que Apolónio penetrou na Cidade. Na verdade, os guardas, as portas, não lhe perguntaram nada, e todos se dirigiram para o albergue, para jantar, pois era de noite. Durante a refeição entrou na sala um homem, visivelmente embriagado, que começou a cantar. Era pago pelo Imperador para ir assim, de taberna em taberna, cantar as melodias compostas por Nero. E quem o ouvisse distraidamente ou se recusasse a dar-lhe o seu óbolo era acusado de crime de lesa-majestade. Apolónio compreendeu a manobra e desmontou-a comprando o cantor. Esta aventura recorda uma passagem em que Epíteto evoca os agentes provocadores da policia imperial que vinham sentar-se junto dos clientes, nas tabernas, e lhes diziam mal do Imperador. Desgraçado daquele que ousasse concordar: era imediatamente preso.
Apolónio, usando de prudência, evitou as perseguições diretas. Foi interrogado pelo prefeito do pretório, Tigelino, mas sem malevolência. De resto, gozava de grandes apoios, em especial junto de um dos cônsules que o admirava e se interessava pelo seu pensamento. Assim, conseguiu fazer-se ouvir onde quis — mais feliz e mais hábil do que um dos seus colegas que aproveitou a inauguração dos Banhos de Nero para declamar contra o luxo em geral e contra o uso dos banhos, em particular, que, considerava um requinte contrário a ordem da natureza, e que a policia imperial expulsou para pôr termo aos seus discursos.
Mais tarde, no tempo de Domiciano, Apolónio desentendeu-se novamente com a autoridade. Desta vez foi mais grave. Foi chamado a Roma, preso e conduzido ao tribunal do Imperador. Era acusado, entre outras faltas, de praticar a magia. A iniciativa do caso não remontava, de resto, a Domiciano, mas a um certo Eufrates, filósofo de tendências estóicas, rival de Apolónio e que o perseguiu odiosamente. Denunciou-o ao Imperador, garantindo que se dedicava, no Oriente, a uma propaganda hostil ao Príncipe. Este convocou Apolónio e deu-lhe oportunidade de se defender. Desejava sobretudo saber em que medida Apolónio se encontrava em contato com as conspirações da oposição; quanto ao resto, atribula o justo valor às querelas dos filósofos e à sua atitude parece ter sido semelhante à do irmão mais velho de Sêneca, Galião, governador de Acaia, quando os juízes ortodoxos levaram S. Paulo ao seu tribunal. Desde que a ordem pública não fosse perturbada, mais valia não se imiscuir nesses assuntos.
Pela mesma época, e mais ainda no inicio do reinado de Trajano, Eufrates continuava a freqüentar as casas dos notáveis romanos e a proferir conferências públicas. Foi muito admirado por Plínio, o Moço, que exortava os amigos a ouvi-lo. Eufrates foi um dos inúmeros sofistas a volta dos quais se acotovelavam os auditores. Freqüentava, tal como os colegas, os pórticos dos novos foros e partilhava com os retóricos os aplausos do público.
Os retóricos tinham surgido em Roma mais ou menos na mesma época que os filósofos e tinham sido incluídos nas mesmas medidas de expulsão, pois eram criticados, tal como os filósofos, por atraírem a si a juventude, prejudicando o seu treino militar. Mas, progressivamente, tinham regressado. Os jovens romanos, no início do século I a.e.c., iam ouvir as suas lições e chegavam a ir a Grécia aprender a arte de falar com os mestres mais célebres. Nestas condições, era difícil expulsar de Roma os mestres de uma ciência que parecia cada vez mais indispensável na bagagem de qualquer homem culto e, segundo Cícero, de todo o romano digno desse nome. No inicio do Império, o estudo da retórica era a coroação normal da educação. Depois de ter aprendido os rudimentos com um gramático (grammaticus), o jovem, pelos 15 anos, começava a freqüentar a casa do retórico. Aí, treinava-se a compor discursos sobre temas propostos pelo mestre. Em certos dias, os alunos faziam uma espécie de discurso sobre determinado tema, rivalizando entre si em imaginação para encontrar novos argumentos ou movimentos particularmente patéticos. E, muitas vezes, nessas ocasiões, os pais dos alunos, as personagens influentes, os oradores afamados eram convidados a assistir ao concurso. Acontecia mesmo, por vezes, que homem feitos freqüentassem as carteiras dos mestres ou que estes fizessem uma demonstração do seu virtuosismo.
Os retóricos davam aulas nas éxedras dos fora — pelo menos desde o tempo de Adriano. Era ai que se escutavam as declamações dos alunos. Por vezes, depois de terminada a lição, o público espalhava-se pelos pórticos e continuava a discutir os méritos deste ou daquele discurso. No inicio dos fragmentos conservados do Satiricon, vemos o retórico Agamémnon empenhado num violento improviso, enquanto os estudantes invadem o jardim e criticam sem rodeios a declamação que acabam de ouvir. A vida intelectual não estava, como atualmente, isolada da rua; estava sempre presente, na praça pública, nas salas abertas a todos, nas conversas, e formava uma parte importante das atividades sociais.
Além dos discursos dos filósofos, das declamações dos retóricos e dos alunos, havia as leituras públicas (recitationes). A moda foi lançada no tempo de Augusto por Asinio Polio — o mesmo que dotou Roma da primeira biblioteca. Os escritores habituaram-se imediatamente a apresentar as suas obras em público, em sessões para as quais se fazia convites especiais. E, durante o Império, eram raros os romanos cultos que não alimentavam ambições literárias: compunham poemas, epopéias ou tragédias, poemas históricos ou didáticos; obras históricas, elogios, tratados de toda a espécie. Tudo isso era apresentado, como hoje diríamos, "em primeira audição". O autor solicitava a critica e era um dever de cortesia fazer algumas observações, misturadas com muitos elogios. Os próprios Imperadores gostavam de figurar entre o público, quando não davam a ler as suas próprias obras, como qualquer pessoa. Este costume não podia deixar de exercer uma profunda influência na vida literária. As obras começaram a ser cada vez mais pensadas em função da leitura pública; os autores procuram efeitos de conferencista, terminam todos os seus desenvolvimentos com uma sententia, uma fórmula contundente, que chama a atenção do auditor e resume o que acaba de ser dito.
As leituras públicas eram, por vezes, organizadas por livreiros empreendedores que por este meio davam a conhecer as novidades ou as "reedições". Tratava-se, de resto, de um uso há muito conhecido na Grécia, já que Zenão, o fundador do estoicismo, conta que ouvira ler em Atenas, na loja de um livreiro, o segundo livro das Memórias de Xenofonte, escrito havia um século. Em Roma, tanto as livrarias como as salas de declamação eram ponto de encontro dos conhecedores, que discutiam problemas literários; os jovens ouviam, os velhos clientes peroravam entre os livros cujos rolos, cuidadosamente punçados, se alinhavam por cima deles. A porta da boja estava coberta de inscrições anunciando as obras à venda; por vezes, o primeiro verso do poema encontrava-se reproduzido por baixo do busto do autor. A publicidade invadia os pilares mais próximos. Estas bojas de livreiros situavam-se, naturalmente, perto do Fórum: no próprio Fórum, no tempo de Cicero, e mais tarde ao longo do Argileto; depois da construção do Fórum da Paz, podem ver-se junto das bibliotecas de Vespasiano; os Sosii, os maiores livreiros de Roma no tempo de Augusto (eles foram, em particular, os "editores de Horácio"), encontravam-se estabelecidos junto da estátua de Vertumno, à saída do Vicus Tuscus para o Fórum romano.
Eram estes prazeres que a Cidade oferecia ao escol dos Romanos, à medida que a cultura se ia generalizando. Neste progresso e nesta vulgarização da vida intelectual, o papel dos gregos foi preponderante. Os conferencistas dos Fora imperiais eram os mesmos que se faziam ouvir, em outros momentos da sua carreira, nos agorai das grandes cidades orientais. Através de todo o Império, é um vaivém constante de intelectuais, de professores que transportavam as idéias e as modas. Mas encontraram em Roma ouvintes particularmente atentos e, desde muito cedo, discípulos que se revelaram muitas vezes dignos dos seus mestres. Teremos ocasião de insistir na real originalidade, em relação à paideia helénica, da cultura romana. Observemos desde já que a urbanitas, em Roma, era inseparável de um certo ideal intelectual e que o tempo de lazer dos citadinos — dos mais esclarecidos — não era consagrado aos divertimentos mais grosseiros.
Atletismo romano
Na Grécia, os jovens formavam-se no ginásio e a sua cultura intelectual vinha completar a educação do corpo. O ginásio não tinha por objetivo principal formar os soldados da cidade: o desporto, os exercícios eram um fim em si, uma "arte da paz" da qual se esperavam espíritos bem formados, equilibrados e nobres. Preparavam-se, com os melhores súbditos, atletas dignos de figurar nos Jogos Magnos, contribuindo assim, poderosamente, para a gloria da sua cidade.
Em Roma, pelo contrário, a ginástica pura, o atletismo considerado como uma arte só por si, foram ignorados durante muito tempo. No Campo de Marte, os jovens submetiam-se a um treino quase exclusivamente militar: saltar, lançar o dardo, correr com ou sem armas, nadar, endurecer ao frio e ao calor, combater à lança, montar a cavalo. Mas tudo isto sem arte, sem qualquer preocupação de perfeição estética. Assim, quando, em 169 a.e.c., Paulo Emilio organizou jogos gimnicos em Amphipolis, os soldados romanos não fizeram nenhuma figura brilhante.
Os primeiros espetáculos de atletas foram introduzidos em Roma por Fulvius Nobilior (um senador fileleno), em 186 a.e.c. Mas os concorrentes eram, na sua maior parte, gregos chamados expressamente para a circunstância. O público romano parece não se ter divertido muito. Preferia os jogos tradicionais, sobretudo os espetáculos de gladiadores e de animais. No entanto, no fim da República, as exibições de atletas multiplicam-se com os progressos da "vida grega". Pompeu quis que figurassem nas grandes festas que marcaram a inauguração do seu teatro, e César, em 46, mandou construir expressamente um estádio provisório no Campo de Marte. Muitos romanos tinham percorrido o pais grego, vivido acampados em cidades da Asia e possuíam alguns conhecimentos da arte, embora pensassem, no fundo de si mesmos, que não passava de um divertimento pueril, indigno de um homem livre. A atração das multidões gregas pelos triunfos atléticos parecia-lhes muito exagerada, mas o aspecto da gloria não podia deixar de os seduzir. As numerosas estátuas levadas para a Cidade depois das conquistas tinham acabado por impor os cânones de beleza masculina em que se inspirava o ideal do ginásio. E, progressivamente, este mundo novo abriu-se à sua frente.
Nas cidades latinas sempre tinham existido lutadores nas praças públicas, em volta dos quais se reuniam os papalvos. Augusto, diz-nos Suetônio, apreciava muito esses espetáculos e, por vezes, fomentava lutas contra especialistas gregos. Esperava, com certeza, que os Romanos ganhassem gosto pelo atletismo, gosto esse que possuía em alto grau. Cabe-lhe a honra de ter instituído, para comemorar a vitória de Accio, jogos celebrados de quatro em quatro anos na cidade de Nicópolis, que fundara perto de Accio. Com este gesto, pretendeu honrar Apolo, seu protetor, mas, conscientemente, imitava também o rito grego dos Grandes Jogos. Os jogos de Accio figuraram ao lado dos quatro grandes santuários helênicos, Olimpia, Delfos, Corinto e Nemeia. E o seu cerimonial reproduziu-se em Roma; acompanhou a festa anual do templo de Apolo Palatino. Realizaram-se, além dos combates de gladiadores, corridas de carros e exibições de atletas no Campo de Marte. Estes jogos de Augusto não sobreviveram ao seu reinado mas o hábito tinha sido adquirido e o atletismo ganhara o direito de cidade romana.
O triunfo dos jogos gregos foi, evidentemente, o reinado de Nero. Todavia, a atração pelo atletismo é anterior à instituição de um concurso quinquenal chamado Jogos Neronianos (Neronia) e a festa anual do ginásio do Campo de Marte, para a qual o imperador, seguindo o exemplo dos soberanos helenísticos, previu um abastecimento de óleo destinado ao uso de quem treinasse, fosse senador ou cavaleiro. Sabemos, por um tratado de Sêneca, o diálogo Sobre a Fugacidade da Vida, que data de 49 e.c., que os nobres romanos se apaixonavam pelos campeões de atletismo, que os acompanhavam ao estádio e à sala de treinos, que partilhavam dos seus lazeres e acompanhavam os progressos dos novos atletas, que honravam com a sua proteção. Nero, ao multiplicar os espetáculos deste gênero, estava longe, portanto, de inovar; limitava-se a seguir uma moda já bem estabelecida. A partir do seu reinado, os jogos gregos multiplicaram-se. Os célebres Jogos Capitolinos, instituídos por Domiciano, atraíram grandes multidões e continuaram a ser celebrados pelo menos durante todo o século II e o século III da nossa era. Domiciano (como já acontecera com Nero) acrescentara aos concursos de atletas competições puramente literárias, um prêmio de eloqüência grega, um prêmio de eloqüência latina, outro de poesia: O que nos mostra a que ponto o ideal da paideia é então aceito na sua totalidade. Excelência do espírito e excelência do corpo tornaram-se inseparáveis. Para estes concursos, Domiciano mandou construir um edifício especial, um estádio, no Campo de Marte: a forma deste estádio ainda hoje se pode ver na Praça Navone, que ocupa o mesmo espaço, e as suas substruções foram postas a descoberto por escavações recentes. Teria uma lotação de trinta mil espectadores, O que nos prova, diga-se o que se disser, a popularidade destes espetáculos. É verdade que alguns espíritos tradicionalistas criticavam esta consagração da paideia grega; a oposição senatorial não perdeu tão excelente ocasião de protestar contra esta infidelidade à tradição dos antepassados, mas Roma não podia entregar às cidades do Oriente o monopólio destes concursos de atletismo. Capital do mundo, era seu dever acolher todas as formas da gloria e não recusar, em nome de um conservantismo tacanho, um ideal de beleza humana que, no passado, inspirava o classicismo grego. Por outro lado, o que chocava a maior parte dos detractores do atletismo, era o fato de ele ter degenerado da sua principal finalidade e, em vez de moldar harmoniosamente o corpo dos que o praticavam, tendeu a produzir campeões de másculos hipertrofiados, a propósito dos quais Sêneca escreveu:
"Que ridícula ocupação, meu caro Lucilius, e tão pouco adaptada a um homem culto, essa que consiste em treinar os músculos, em fortalecer a nuca e adelgaçar as ancas. Quando te encontrares forte como desejas, de músculos bem salientes, verás que nem assim terás atingido a força nem o peso de um boi..."
Mas considerações como estas não impediam que muitos jovens tivessem lições de ginástica com atletas de renome, de orelhas esmagadas em gloriosos combates, e até mesmo que certos romanos ricos tivessem em casa, ao lado do medico, especialistas que os treinavam e chegavam a regular minuciosamente todos os pormenores da sua vida.
Os espetáculos de atletismo, importados da Grécia, nunca conseguiram agradar tanto as multidões romanas como os jogos nacionais, pois não pertenciam, como estes, a mais profunda tradição religiosa da cidade.
Os jogos romanos, na sua essência, são atos religiosos. Representam um ritual necessário para manter as desejadas boas relações entre a cidade e os deuses: este caráter primitivo nunca será esquecido e, já muito tarde, ainda era uso assistir aos combates do anfiteatro ou as corridas do circo, como se assistia aos sacrifícios.
Os Jogos Romanos
Os jogos mais antigos foram os Jogos Romanos (Ludi Romani), também chamados Jogos Magnos (Ludi Magni). Celebravam-se em meados de Setembro e começaram por durar quatro dias, antes de se prolongarem por dezesseis dias depois da morte de César. Começavam com a oferta solene a Júpiter de um grande banquete em que participavam os magistrados superiores e os sacerdotes; em seguida, o próprio Júpiter, representado pelo cônsul, ou o pretor, em traje de cerimônia (toga bordada resplandecente de púrpura, coroa de carvalho), dirigia-se em cortejo do Capitólio até ao Circo. Era acompanhado por toda a cidade, ordenada segundo às suas posições, os cavaleiros à frente, depois as centúrias de jovens. Atrás vinham os concorrentes, rodeados de dançarinos, de máscaras, de todo um carnaval burlesco onde se distinguiam silhuetas de Silenos e de sátiros, indecentes e coloridas, Conhecemos estes dançarinos de contorções bárbaras: já figuravam nas pinturas dos túmulos etruscos e foi com certeza ao mundo etrusco que o rito romano as foi buscar, quando os Tarquínios instituíram estes jogos. Uma música estridente de flautas, de tamboris, de trombetas, imprimia ritmo ao cortejo. Depois dos dançarinos, avançavam os carregadores que traziam aos ombros os andores repletos de objetos preciosos retirados, para a circunstância, dos tesouros sagrados, vasos de ouro, jarros cheios de perfume, tudo o que a cidade possuía de mais magnífico e de mais raro. Por fim, vinham os deuses: antigamente, eram figurados por manequins revestidos dos atributos de cada divindade; mais tarde — a partir do século II a.e.c. eram as próprias estátuas que saiam à rua. Ao chegar ao Circo, o cortejo parava, os deuses eram instalados no "pulvinar" recinto sagrado, elevado, de onde podiam apreciar melhor o espetáculo.
Era assim o cerimonial dos Jogos Magnos, e também dos Jogos Plebeus, que não tardaram a imitar os primeiros. Mas estes jogos não eram os únicos do calendário romano. Em cada crise da República, e mais tarde por ocasião de novos acontecimentos, outros jogos surgiam. Depois dos grandes desastres da segunda guerra púnica, foram os Jogos Apolineos (em 212), que atribuíram uma grande importância às demonstrações hípicas e aos "volteadores" (desultores), provavelmente sob a influência de Tarento.
Outros jogos estavam ligados a cultos agrários: jogos de Ceres, no mês de Abril, jogos de Flora, que lhes sucediam e duravam ate 3 de Maio. Inseriam entre as exibições habituais ritos particulares cujo significado nem sempre apreendemos muito claramente — como, de resto, devia acontecer com os Romanos. Nos jogos de Ceres, lançavam-se para o circo raposas a cauda das quais se atara uma tocha acesa. Nos jogos de Flora, era costume as cortesãs da Cidade exibirem-se totalmente nuas em danças lascivas. Este último ritual é evidente; tratava-se, no inicio do ano, de conferir as forças da fecundidade o seu pleno vigor e ninguém ousaria suprimir este espetáculo, por muito indecente que fosse, com receio de tomar o ano estéril.
Em 204, quando os Romanos, por ordem dos Livros Sibilinos, transportaram para a sua cidade a deusa Cibele, que foram buscar na Pessinonte, na Frigia, criaram novos jogos para a recém-chegada. Foram os Ludi Megalenses, celebrados pela primeira vez segundo o rito habitual dos jogos romanos. Mas, em 194, passaram a ser intercalados com representações teatrais que assumiram cada vez mais importância. Desde 140 que os Ludi Magni também já incluíam representações teatrais e, segundo Tito Lívio, os primeiros jogos cênicos teriam mesmo sido introduzidos em 364 a.e.c. por ocasião de uma peste terrível, a fim de apaziguar a raiva dos deuses. Foram então copiados diretamente de um rito etrusco. Não passavam de pantomimas sem recitador. A juventude romana ter-se-ia então treinado a dançar da mesma maneira, acrescentando a pantomima palavras satíricas e cantos. Desta união entre a poesia popular e a dança sagrada teria nascido um novo gênero, a que se chamou satura e que era um esboço do teatro.
Mas o teatro só apareceu verdadeiramente em 240 a.e.c., quando o tarentino Livio Andronico se lembrou de empregar a satura na encenação de determinada intriga. Roma acabara então de vencer pela primeira vez Cartago e impusera a sua primazia não só na Itália continental mas também na Sicilia e as cidades gregas encaravam-na com algum respeito. Os Pais, para não ficarem atrás, parecem ter querido modernizar as suas cerimônias arcaicas e foi certamente nessa época e por ocasião da visita que o rei de Siracusa, Hierão II, efetuou aos Romanos, que pediram a Lívio Andronico para reformar os jogos, inspirando-se nos das cidades gregas.
Na verdade, estes primeiros jogos cênicos devem ter parecido muito imperfeitos aos espectadores gregos que tiveram o privilégio de os presenciar. Reencontraram velhos libretos já gastos na sua pátria: temas trágicos tratados por Eurípides e muitas outras obras tradicionais, representadas de uma estranha maneira. Enquanto, na Grécia, o ator desempenhava um papel do principio ao fim, representando, com constância, uma personagem ao longo de toda a peça, em Roma, certas partes do mesmo papel eram confiadas a dois atores. Um encarregava-se de fazer os gestos, o outro salmodiava o poema ao som de uma flauta, tocada por um musico que, colocado no próprio palco, acompanhava a declamação. Este curioso habito era um vestígio da velha pantomima sagrada; subsistiu em virtude dessa tendência romana que aceitava as inovações que queria que fossem apresentadas como simples modificações de um passado não completamente abandonado.
A partir do século III a.e.c. nunca mais houve jogos sem representações teatrais. Alternavam com as corridas de carros, o que explica a expansão dos jogos que tenderam a ocupar um número de dias cada vez mais considerável. O resultado foi o nascimento de um teatro latino que, em poucas gerações de poetas, produziu o florescimento de obras notáveis. Foi durante os dias mais sombrios da segunda guerra púnica que Plauto compôs quase todo o seu teatro. E ele não era então o único a escrever comédias. O campaniense Naevius, mais velho do que ele, também escreveu um grande número de comédias. Naevius e Plauto inspiraram-se no repertório da comédia grega "nova", cujas obras datavam de menos de um século e continuavam a ser representadas nas cidades gregas. Estas adaptações agradavam, pois punham em cena tipos humanos que, válidos na Grécia helenística, não o eram menos na nova Roma, helenizada, aberta a todas as correntes da vida mediterrânica. Havia, tal como na Grécia, mercadores ricos, cortesãs ávidas, jovens desejosos de aproveitar a fortuna paterna, escravos trapaceiros prontos a ajudá-los. As suas aventuras deleitavam o público popular. Esta comédia, isenta de alusões políticas, ao contrario do que fora a antiga comédia ateniense (a de Aristófanes), convinha maravilhosamente a Roma, onde os magistrados não teriam tolerado a liberdade satírica permitida no tempo de Péricles. Também não teria sido aceito um retrato da verdadeira vida social contemporânea, o das famílias romanas, que devia escapar aos olhares indiscretos. Mas a atmosfera puramente grega desta comédia, onde os nomes das personagens, o local da cena, as alusões as instituições e aos costumes transportavam os espectadores para muito longe de Roma, servia de desculpa para as maiores audácias. O mundo da comedia situa-se à margem do mundo real, o da cidade: tanto basta para que não se coloque o problema da moralidade. O público ri-se, diverte-se (e os deuses também): o rito dos jogos atingiu o seu objetivo.
Quis o acaso que os textos que nos foram transmitidos nos dessem a conhecer infinitamente melhor a comédia desse tempo do que a tragédia. Desta, possuímos apenas miseráveis fragmentos e recordações de alguns títulos. São, contudo, suficientes para que possamos entrever o quê os Romanos, no tempo das guerras púnicas, exigiam da tragédia: os temas são gregos, sem dúvida, mas são habitualmente escolhidos no ciclo da lenda troiana, onde Roma gostava de ir buscar as suas remotas origens. Era a recordação de Tróia, da epopéia homérica, que conferia nobreza a civilização que então se afirmava. É significativo que se tenha pretendido envelhecer Roma, integrando-a, assim, na história mais antiga do mundo mediterrâneo, a do conflito que opusera Acaios e Frigios e onde a Grécia ia buscar a origem das suas crônicas.
Simultaneamente, existiam várias lendas que tinham prolongamentos italianos. Os colonos da Magna Grécia tinham querido encontrar na terra em que se instalavam recordações de um tempo mais antigo — quer tenham sido, como se julgou durante muito tempo, invenções puras, quer se destinassem, o que parece mais provável, a reviver fatos históricos contemporâneos de remotas migrações de leste para oeste. Seja como for, as cidades da Itália Meridional, mesmo as do Lácio, estavam integradas na mitologia helênica e as tragédias não desenraizavam os Romanos; pelo contrário, confirmavam o sentimento de pertencerem a comunidade cultural mediterrânica. De resto, há muito que a arte etrusca e também a literatura oral tinham familiarizado todos os Italianos com o repertório mítico da Grécia. Assim se explica o prazer que o público podia encontrar num teatro que se poderia considerar tipicamente helênico e inexportável.
A par do repertório grego, cômico e trágico, os primeiros poetas latinos tentaram fundar um teatro propriamente nacional, criando personagens romanas. Inventaram a tragédia "pretexto", assim chamada porque os seus heróis eram magistrados romanos, vestidos com a toga bordada a púrpura (toga praetexta). O tema era fornecido pela história nacional, a conquista de uma cidade, um episódio célebre das velhas crônicas, que se viam assim igualadas as aventuras dos heróis lendários. Neste aspecto, o teatro trágico contribuiu certamente para reforçar o sentido do patriotismo, para lhe conferir um significado espiritual: perante uma tragédia pretexto, os espectadores comungavam do mesmo ideal de grandeza e gloria; se é certo que os heróis eram semideuses no teatro grego, os heróis da tragédia pretexto beneficiavam dessa mesma divinização que lhes valera os seus feitos. Este sentimento era tão real que, em 187 a.e.c., um triunfador romano erigiu um templo a Hercules Musageta (Hercules Musarum): assim, o Herói triunfador por excelência, aquele a quem a virtude abrira as portas do céu, era consagrado como companheiro das divindades filhas da Memória, mestras da imortalidade.
O desenvolvimento do teatro, muito rápido a partir do século II antes da nossa era, não foi duradouro. É verdade que até ao fim da República houve sempre poetas para compor tragédias e comédias, mas as representações atribuíram cada vez menos importância ao texto e carregaram-se de elementos acessórios. A encenação acabou por predominar. Por exemplo, o fato de o tema exigir que se representasse a conquista de Tróia era um pretexto para cortejos sem fim. Os prisioneiros acorrentados passavam e voltavam a passar pelo palco; os "despojos" da cidade eram mostrados ao público: quantidades incríveis de ouro e de prata, vasos preciosos, estátuas, tecidos orientais, tapeçarias, bordados, todo um bricabraque cujo valor intrínseco surpreendia a imaginação de um público ainda pouco habituado às riquezas materiais. Ao mesmo tempo, esta tendência para o realismo obrigava a um esforço de representação verdadeira dos episódios lendários, em todo o seu horror. Não era raro que um condenado a morte ocupasse o lugar do ator no momento da catástrofe. O rei mítico Penteu, por exemplo, dilacerado pelas Bacantes, era realmente feito em pedaços sob o olhar dos espectadores, as muralhas de Tróia tornavam-se, ao arder, num incêndio verdadeiro; Hercules em cima das achas ardia realmente. Até mesmo Pasifea foi encerrada na vaca de bronze, oferecida ao touro que se passeava pelo palco. Não acusemos a plebe romana de perversidade ou particular crueldade por se entregar a estas extravagâncias selvagens. Apuleio contou-nos que em Corinto, em plena região helênica, organizadores de jogos quiseram aproveitar a maravilhosa inteligência do burro que se tornara herói do seu romance para o obrigar a unir-se publicamente, em pleno teatro, a uma mulher condenada por envenenamento e outras abomináveis penas. A criminosa, exposta às feras para ser dilacerada, devia começar por ser violada, diante de todos, por um burro.
É-nos difícil compreender o prazer que semelhantes espetáculos poderiam proporcionar. Pensando bem, porém, conseguimos uma explicação: o teatro, universo de encantamento (como fora, desde a origem, na própria Grécia), escapa a todas as regras da moral quotidiana; tem por ambição e por função transportar os espectadores para um mundo onde nada e impossível, onde as habituais leis da natureza já não se aplicam. Assim, o teatro romano teve muitas vezes tendência para se tornar uma espécie de magia. O universo maravilhoso que apresenta não deve experimentar nada de impossível, deve, pelo contrário, oferecer profusamente riqueza e milagre. O povo romano, que se sabe todo-poderoso, que se sabe rei do mundo, pretende que, para ele, nos seus jogos, o sonho se torne realidade. Pouco importa que o sonho seja cruel, indecente, magnífico, voluptuoso ou poético o que é preciso e que se realize e o público está pronto para apupar o magistrado pouco inteligente ou demasiado rico desde que esta expectativa não seja frustrada.
Compreende-se, pois, que o teatro não tenha enveredado apenas pelas vias da literatura. Paralelamente à comédia literária existia um gênero popular também ele vindo, e com certeza mais diretamente, da pompa circensis original e dos divertimentos rústicos: as atelanas que, originarias da Campânia, onde tinham sofrido a influência da comédia siciliana, se implantaram solidamente em Roma. Nelas evoluíam quatro personagens estereotipadas: Pappus, o velho, Dossenus, o corcunda sentencioso, Bucco, o comilão, ávido de alimentos, parasita insolente, e Maceus, o tolo. Os enredos eram muito simples; baseavam-se na vida quotidiana; cada uma das personagens representava uma dada situação, por exemplo Dossenus tornava-se mestre-escola ou adivinho, ou soldado, ou rendeiro, e a intervenção dos comparsas dava origem a facécias burlescas. Gênero essencialmente caricatural, as atelanas seduziam pelo caráter familiar e não recuavam perante a obscenidade. As atelanas serviam muitas vezes de conclusão aos jogos cênicos. Eram representadas a laia de êxodos, como uma espécie de parodia das obras literárias que tinham ocupado a maior parte do espetáculo.
Já o mimo era mais ambicioso. Introduzido, sem dúvida, no fim do século III a.e.c., manteve-se — como, de resto, as atelanas — até ao fim da Antiguidade. Correspondia a uma tendência profunda do público romano. Utilizando temas lendários, como a tragédia e a comédia literárias, também não lhe repugnavam as intrigas romanescas tão caras aos poetas cômicos. As aventuras amorosas eram muito apreciadas. Temos a impressão de que, por vezes, se limitava a encenar simples trovas, a história de um marido enganado, de um amante escondido num armário e transportado para fora da casa da amada, tudo o que, por outro lado, era popularizado pelos contos milésios. Os mimos não respeitavam nada, nem os homens nem os deuses. Tertuliano indigna-se ao vê-los arrastar pelos teatros de feira divindades em situações odiosas. Através dele, sabemos que existia um mimo em que o deus Anúbis era representado como adúltero, a Lua disfarçada de homem (certamente para alguma aventura galante), Diana fustigada com um chicote; outro poeta imaginara a morte de Júpiter e há oficialmente um testamento burlesco. Viam-se também — o que recorda os Fássaros de Aristófanes — simultaneamente três Hercules faméricos cuja gula era ridicularizada. Será difícil compreender como era possível tolerar tanta falta de respeito, se não recordarmos que a religião antiga não era desprovida de um certo sentido de humor, tanto em Roma como na Grécia, e que os jogos tinham primitivamente por ambição fazer rir os deuses.
No mimo, o texto era pouco importante; não estava, porém, ausente, como nos dizem muitos testemunhos, mas o dialogo era muito rudimentar, resumindo-se a gracejos evidentes ou a máximas morais facilmente compreensíveis. O essencial era a gesticulação, a dança, tudo o que se dirigia aos sentidos, e não à inteligência abstrata. Mais ainda do que o teatro literário, o mimo era o domínio por excelência do maravilhoso. Por exemplo, Plutarco diz-nos que, no reinado de Vespasiano, se representou um mimo em que se via um cão obrigado a tomar um narcótico e que ele tinha sido ensinado a simular o sono e em seguida, gradualmente, um despertar astucioso. Enquanto na comédia e na tragédia (tal como nas atelanas) os papéis femininos eram representados por homens, no mimo eram desempenhados por mulheres, o que despertava paixões violentas; exigia-se que a atriz dançasse sem véus, mas muitas vezes as peripécias do texto bastavam, por si só para satisfazer os desejos do público.
As corridas de bigas
Foi na atmosfera de feérico e de realismo, de poesia e de trivialidade que se desenvolveram os jogos romanos. Mesmo as corridas de carros ou os combates de gladiadores pareciam impregnados: nada, no circo, no anfiteatro, no teatro, é apenas o que parece ser; apresentava-se tudo aureolado de uma certa extravagância e assumia uma importância sem relação com a simples realidade. A vitória de um cocheiro de carros assumia proporções de vitória nacional e, para os vencidos, de catástrofe pública. Cremos que o espírito desportivo não basta para explicar estas paixões. No Império estavam representadas quatro facções: os Brancos, os Antis, os Verdes e os Vermelhos. E o público favorecia uma ou outra, e não — como aconteceria se se tratasse de simples atração desportiva — este ou aquele cocheiro. Estas facções permaneciam, mesmo quando mudavam os condutores encarregados de fazer triunfar a sua cor. E eram sempre os mesmos fautores (hoje diríamos apoiantes) que aplaudiam. Afirmou-se recentemente que só podia haver uma razão para tal fato. Cada cor fora adotada por uma classe social, que a tomara como símbolo e se identificava com ela. Assim, verifica-se que Calígula, Nero, Domiciano, Lucio Vero, Cômodo e Elagábalo, que foram os mais "democráticos" dos Imperadores, favoreceram os Verdes. Quando Juvenal evoca uma corrida, escreve:
"Roma está hoje toda toda reunida no Circus Maximus, o barulho da multidão chega aos meus ouvidos e concluo que a sorte favorece os Verdes. Na verdade, se o Verde fosse derrotado, veríamos a nossa cidade triste e abatida, como se os cônsules tivessem sido vencidos pela poeira de Canas."
O que implica, evidentemente, que a massa popular estava empenhada na facção verde. O Senado, pelo contrário, e a aristocracia tradicionalista identificavam-se com os Antis e é sabido que o imperador Vitélio puniu com a morte partidários dos Verdes por terem "dito mal dos Azuis". Sob a aparência de uma simples competição desportiva, estavam em jogo interesses muito mais graves: os deuses não atribuíam a vitória a quem bem entendiam? E esta vitoria não era a prova de que os deuses tinham querido favorecer, além dos cocheiros e das parelhas, todos aqueles que se tinham voluntariamente identificado com eles e lhes tinham confiado a sua sorte?
O espetáculo das corridas impressionou a imaginação dos modernos que se divertem a recordar os carros puxados por dois ou quatro cavalos, os cocheiros de pé, vestidos com uma túnica sem mangas muito justa no peito, usando barrete de couro, com as rédeas presas a cinta. O cavalo da esquerda comanda a parelha, os outros seguem-no. O carro era uma simples caixa montada sobre duas rodas, como outrora os carros de guerra; mas era muito leve e só o peso do homem lhe imprimia alguma estabilidade. O mínimo choque podia ser fatal: a grande velocidade, o carro virava-se, as rodas partiam-se, as rédeas emaranhavam-se e ao homem não restava outro recurso senão pegar na faca que trazia a cinta e cortar as tiras de couro que o prendiam aos cavalos; Se não conseguisse faze-lo, o seu corpo era arrastado pelos animais e lançado para a pista, esbarrando contra a spina ou as paredes exteriores.
No momento da partida, os concorrentes eram encerrados num recinto fechado por uma barreira. O sinal da partida era dado pelo magistrado que presidia aos jogos, do cimo do varandim, agitando um pano branco. Nesse momento, as barreiras caíam e os carros partiam, todos ao mesmo tempo. Percorriam sete vezes o perímetro do Circo, ou seja, uma distância de cerca de sete quilômetros e meio. Sempre que davam uma volta, tirava-se um dos "ovos" pendurados por cima da spina. Depois de retirados todos os ovos, vinha o momento mais apaixonante da prova. Os carros esforçavam-se por obter o melhor lugar dentro do circuito e por passar o mais perto possível dos limites. Muitas esperanças se desfaziam quando a roda de um descuidado se partia contra a pedra. A falta de jeito ou de sorte de um condutor causava geralmente outras desgraças, pois os concorrentes, incapazes de conter o impulso das parelhas, esbarravam contra o acidentado e pereciam com ele. E, na multidão, muitos partidários da facção adversa regozijavam-se com o sucesso das preces secretamente dirigidas aos deuses do inferno, introduzindo num túmulo, para se certificarem de que as divindades, lá em baixo, os ouviriam, uma lamela de chumbo onde tinham inscrito formulas mágicas "consagrando" ao inferno os condutores das outras cores.
Jogos Gladiatórios
Os combates de gladiadores foram introduzidos em Roma nos jogos fúnebres de Junio Bruto, em 264 a.e.c. Tratava-se então apenas de um rito funerário, mas os Romanos tornaram-lhe rapidamente o gosto. Enquanto nos jogos de 264 se exibiram apenas três pares de gladiadores, viram vinte e dois cinqüenta anos mais tarde, nos de Emílio Lépido. Com a ajuda da emulação, em breve se enfrentaram na arena centenas de gladiadores. Os grandes senhores quiseram possuir as suas tropas pessoais, que treinavam nos seus domínios, longe da Cidade. Assim, no tempo de César, foi necessário limitar, por uma consulta ao Senado, o número de gladiadores pertencentes ao mesmo particular. Pretendia evitar-se a formação de bandos armados, inteiramente dedicados ao amo e prontos para todos os golpes. A guerra de Spartacus já mostrara a gravidade do perigo, uma vez que foram gladiadores evadidos de uma escola de Cápua que formaram o primeiro núcleo da rebelião. Os principais mentores das guerras civis, Milao e Clódio, um do lado do Senado, o outro do lado dos populares, não se coibiram de empregar gladiadores que lhes serviam de guarda- costas e também de bravi. Mas também existiam empresários profissionais de espetáculos que contratavam bandos de gladiadores que depois alugavam — por vezes a elevado preço — aos magistrados encarregados de organizar jogos. No Império, existiram gladiadores imperiais.
Pertenciam à casa do Príncipe, tal como o resto das suas gentes, e serviam para ilustrar os jogos organizados pelo próprio Imperador.
Nem todos os combatentes da arena eram gladiadores profissionais. Muitas vezes, utilizavam-se condenados a morte que enfrentavam, quase sem armas, adversários armados ou feras. Tratava-se de uma forma de execução praticada durante largos tempos, mas só eram expostos às feras os escravos e os homens livres que não possuíam o direito de cidadania romana. Alguns condenados, escolhidos entre os mais jovens e mais vigorosos, em vez de serem simplesmente conduzidos à morte, eram recrutados para uma escola e submetidos a um treino, tornando-se profissionais. Tinham, assim, o direito, se não de se "resgatarem" pela coragem, pelo menos de escapar ao suplicio se, após três anos desta vida, tivessem tido a habilidade ou a sorte de sobreviver. Recebiam então, como todos os outros gladiadores "reformados", a espada sem ferro que os libertava.
Ao lado dos condenados de direito comum também apareciam muitas vezes na arena prisioneiros de guerra: no reinado de Cláudio, o massacre dos prisioneiros bretões, em 47, tornou-se célebre. Também é sabido, pelo testemunho de Josefo, que Tito se libertou dos prisioneiros judeus no decorrer de vários espetáculos: em Berytus, em Cesareia da Palestina e em várias cidades da Síria. Este costume perpetuou-se por toda Europa, já que vemos Constantino tratar da mesma maneira os Brúcteros vencidos.
Mas o povo não se divertia muito com estas exibições sangrentas. Preferia os combates mais elaborados, onde os adversários eram igualmente treinados e conhecedores da ciência das armas. Assim, os voluntários eram bem-vindos e tornar-se gladiador era uma profissão.
Quem pretendesse fazer-se gladiador entrava para o serviço de uma "família" pertencente a um lanista. Prestava, aquele que ia tornar-se seu mestre, um terrível juramento, aceitando antecipadamente os piores tratamentos: deixar-se bater, queimar, ferir, matar a bel-prazer do amo. Em seguida, era colocado numa escola, verdadeira caserna onde iniciava o treino, sob a direção de monitores que eram veteranos na profissão. Juntamente com os companheiros, era incluído numa classe e treinava-se a esgrimir contra um palus — manequim solidamente fixado na terra e que figurava o adversário. Uma estudada graduação do treino distinguia as várias classes: a mais elevada chamava-se primus palus; o gladiador que tivesse atingido essa classe considerava-se já um mestre, daí tirando benefícios.
Nas casernas reinava uma disciplina terrível. Fora dos combates e das sessões de treino, todas as armas eram cuidadosamente encerradas num local seguro (armamentarium) e os homens só raramente tinham licença de sair da cidade. Mas a preparação física destes homens, obrigados a desenvolver um esforço considerável, na devida altura, era objeto de uma constante atenção. Eram muito bem alimentados; havia alimentos especiais concebidos por médicos, para os manter em boa forma. A sua higiene também era vigiada por médicos, que lhes davam massagens e se ocupavam dos seus banhos. Por fim, na véspera de um combate em que devessem participar, os gladiadores tinham direito a uma libera cena, um jantar particularmente opiparo — que, para muitos deles, seria o último. A esta refeição, que era pública, assistiam os curiosos desejosos de observar os combatentes do dia seguinte. Estes faziam o que podiam para se mostrarem despreocupados, bebiam e comiam alegremente e, por certo, muitos sentiam-se felizes por terem enfim uma ocasião de mostrar a sua coragem. Sêneca legou-nos o dito de um gladiador célebre que, no tempo de Tibério, quando os jogos eram raros, se queixava de passar inativo "os melhores anos da sua vida".
É verdade que entre os gladiadores reinava em elevado grau o sentimento da honra perante as armas e o desprezo pela morte. Talvez alguns deles pensassem que a intrepidez de que davam provas era a melhor garantia junto de um público cuja admiração ia toda para os bravos e que, por vezes, pedia clemência para um combatente infeliz mas que se mostrara corajoso. Mas muitos deles nem sequer tinham necessidade de fazer este raciocínio para desempenharem, muito simplesmente, o oficio escolhido. Consideravam-se soldados: a sua vocação era matar, ou morrer. Não eram alimentados, pagos — e muitas vezes bastante bem — para isso? Não surpreende que, no Império, se tenha recorrido por diversas vezes aos gladiadores para servir no exército. Não ficavam em nada atrás dos outros soldados: ligados pelo juramento, sabiam ser heróicos, mesmo fora da arena.
Os gladiadores, no Império, já não eram considerados condenados a morte com pena suspensa, mas atletas particularmente corajosos, pois arriscavam a vida. Deste modo, não era raro ver jovens de boas famílias descer à arena "como amadores", dando assim provas do seu valor. Até Cômodo chegou a combater publicamente: apresentou- se como um "novo Hércules", seguindo a sua ambição de provar que a sua virtus imperial não era simplesmente uma afirmação gratuita, mas uma realidade.
O armamento e o traje dos gladiadores tornaram-se bem conhecidos, no período imperial, através de numerosos monumentos figurados. Acabaram por se criar tradições e distinguiam-se várias categorias de combatentes, apresentados aos pares, de modo a obter efeitos dramáticos calculados. Havia, por exemplo, homens ligeiramente armados, usando apenas um capacete de viseira, um escudo e uma espada. Chamavam-se "secutores" (secutores) e a sua leveza ao ataque era muito apreciada. Outros combatentes rápidos eram os reciários (retiarii). Estavam dotados de uma rede de chumbos semelhante à dos pescadores e de um tridente, como o dos pescadores de atum. Apresentavam-se quase nus, usando apenas uma túnica curta, com um cinto largo de couro e uma braçadeira a proteger o braço esquerdo.
Os gladiadores de armas pesadas compreendiam numerosas variedades. Os mais freqüentes eram os mirmilões, os samnitas, os gauleses, os trácios. Todos eles usavam capacete, couraça e escudo e, como armas ofensivas, muniam-se de uma espada e de um punhal. A forma do escudo, e da espada, variavam. Os samnitas, por exemplo, escondiam-se atrás de um escudo comprido e côncavo e a espada era curta. Quanto aos trácios, contentavam-se com um escudo pequeno e redondo; a espada era uma espécie de cimitarra. Havia ainda gladiadores completamente envolvidos em ferro à maneira dos cavaleiros da Idade Media, mas que combatiam a pé. Só poderiam ser vencidos se fossem derrubados ou apunhalados por uma falha da couraça, ou pelas aberturas dos olhos.
Vê-se que estes tipos de combatentes vinham dos diversos exércitos com que se tinham defrontado os romanos e, naturalmente, modificaram-se e diferenciaram-se à medida que a experiência das legiões foi aumentando. Este fato é comprovado pela introdução dos essedarii, gladiadores que combatem em carros de cavalos. Esta inovação, que se deve, sem dúvida, a César, foi uma novidade trazida do campo contra os Bretões, cujos exércitos comportavam unidades deste tipo. César quis deste modo mostrar ao público romano a que gênero de combate as suas tropas se tinham adaptado. Alem disso, a virtuosidade dos essedarii, capazes de dominar os carros nos declives mais abruptos, de avançar equilibrados em cima do timão, de saltar em pleno galope para o dorso de um cavalo, tudo isto constituía um espetáculo de categoria. As campanhas conduzidas na Bretanha por Cláudio, Nero e mais tarde por Domiciano contribuíram para a vaga dos essedarii, e as suas evoluções processavam-se como num carrossel mortífero, sobre um fundo de música de Órgão.
Os combates de gladiadores não eram organizados ao acaso. Por exemplo, um reciário não defrontava outro reciário, mas sempre um secutor, um trácio ou um mirmilão. Os essedários combatiam uns contra os outros. Estas precauções destinavam-se a assegurar aos dois combatentes oportunidades aproximadamente iguais. Existia entre os conhecedores toda uma casuística dos combates e discutia-se longamente quando algum magistrado anunciava a realização de jogos, para determinar quem deveria enfrentar este ou aquele campeão.
A consciência do homem moderno — e muito justamente — mostra-se freqüentemente escandalizada com o apreço testemunhado pelos Romanos por estes jogos sangrentos. Mas seria injusto denunciá-lo como uma tara especial dos latinos de Roma. Já afirmamos que os combates de gladiadores são de origem estrangeira e que surgiram relativamente tarde em Roma. Em certos aspectos, são uma sobrevivência arcaica de ritos itálicos e o seu caráter religioso é inegável. Os melhores dos romanos não encontravam nestes combates nenhum prazer. O público era formado sobretudo pela plebe urbana, a qual se juntavam homens vindos de todos os países do Mediterrâneo. A grande moda dos combates de gladiadores data precisamente da época em que a plebe deixara de ser propriamente romana — e não nos devemos surpreender por as cidades do Oriente nada ficarem a dever a Roma nem na freqüência nem na crueldade destes espetáculos. É licito deplorar aquilo que foi uma tara da civilização antiga no seu todo, uma concessão lamentável ao gosto universal das massas populares pela crueldade — mas seria ilógico fechar os olhos sobre o que outras épocas toleraram, testemunhos de igual desprezo pela vida humana. Não esqueçamos, por fim, que na arena estes combatentes, vistos das bancadas, pareciam silhuetas reduzidas pela distância e os seus gestos de ataque e defesa assemelhavam-se a peripécias de um drama desportivo, e não a uma agonia de seres humanos.
Tal como acontece nos jogos cênicos, os espetáculos de anfiteatro eram dominados pelo desejo do maravilhoso, do inédito, da busca do impossível. Alguns testemunhos dispersos revelaram-nos curiosas tentativas de exotismo, como por exemplo a menção a esses gladiatores laquearii, armados com uma espécie de laço e que abatiam os adversários à distância, prendendo-os pelos braços ou pelas pernas. Assim como reciários eram pescadores de atum transportados para a arena, também os laquearii são, evidentemente, vaqueros transformados em caçadores de homem. Tudo o que havia no mundo de mais raro e mais pitoresco devia ser apresentado ao público na arena. Foi sem dúvida para satisfazer esta ambição que César se lembrou de oferecer aos Romanos o espetáculo de uma batalha naval.
Por ocasião da sua vitória de 46, o ditador mandou escavar, no Campo de Marte, um lago artificial no qual se defrontaram duas frotas denominadas "tíria" e "egípcia". Os navios eram vasos de guerra, movidos a remos e transportando soldados que se entregaram a uma batalha encarniçada.
Espetáculo semelhante foi novamente organizado por Augusto que, em 2 a.e.c., construiu expressamente a naumachia do Transteverino e, um aqueduto especial a fim de a alimentar. Desta vez, as frotas foram as dos Persas e dos Atenienses: foi, se quisermos, uma espécie de reconstituição de Salamina. Mais tarde, os anfiteatros construídos foram transformados em naumachias. Os historiadores conservaram a recordação da grande batalha naval que marcou a inauguração dos trabalhos de secagem do lago Fucino, no tempo de Cláudio. Participaram neste trabalho dezenove mil homens.
Como vemos, os combates de gladiadores acabavam por se assemelhar aos espetáculos de mimo no realismo e na grandiosidade. A partir do século III a.e.c., outra espécie de maravilha, a dos animais exóticos, veio instalar-se nos jogos de anfiteatro. Tudo começou com uma exibição de elefantes, quatro animais de combate capturados durante a campanha contra Pirro, na batalha de Benevento (275 a.e.c.). Vinte e quatro anos mais tarde, em 251 a.e.c., foram capturados mais cem elefantes na vitória de Palermo sobre os Cartagineses. Faziam parte da grande parada do espólio de guerra mas também sabemos que, para despertar a imaginação, os organizadores dos jogos ensinaram a estes animais algumas habilidades, realizadas sobre a orientação de escravos munidos de vergastas.
Depois de a África se abrir aos Romanos, nunca mais faltaram animais curiosos. No inicio do século I a.e.c. o povo pôde admirar um avestruz. Seguiram-se-lhe leopardos, leões. Os reis númidas, vassalos de Roma, forneciam animais africanos aos grandes senhores romanos, a quem se encontravam ligados por laços de hospitalidade ou dos quais esperavam recompensas. Todos os vitoriosos traziam da sua província alguns espécimes da fauna local.
Estes animais eram por vezes simplesmente expostos à curiosidade da multidão: caso das serpentes, das aves multicolores vindas da Índia ou dos confins da Etiópia ou, por vezes, introduzidos em combates. Assim como se defrontavam gladiadores munidos de armas diferentes, também se realizavam combates entre leões e elefantes, leões e tigres ou touros. O prazer sentido perante estas lutas desiguais era um misto de curiosidade e de um sentimento mais sutil, a satisfação de apreciar ao vivo o nascimento do instinto e os recursos secretos da natureza. Marcial, celebrante dos espetáculos dados por Domiciano para inaugurar o Coliseu, admira a vitalidade selvagem e inesperada que arrebatou um rinoceronte aparentemente pacífico, levando-o a lançar pelos ares, como uma bala, um enorme touro. As exibições de animais exóticos sucederam-se a outras que outrora tiveram por objeto apresentar animais indígenas em ação, e sobretudo ursos em combate, ou touros que realizavam verdadeiras corridas perante caçadores hábeis em os excitar e beneficiar da sua raiva.
Esta tradição de justas entre animais e caçadores é muito anterior aos jogos romanos. Aparece já nas pinturas minóicas e Platão conta-nos que, na mítica Atlântida, se celebrava em datas fixas o sacrifício místico do touro. É muito provável que a intervenção dos espetáculos de animais nos jogos romanos se prenda com ritos desta espécie, cujo verdadeiro significado se tenha em parte perdido. Não devemos esquecer, porém, que a encenação das venationes utilizava largamente os temas mitológicos em que sobrevivia confusamente a recordação de uma zoolatria primitiva. O ciclo de Heracles, tão rico em episódios cinegéticos, contribuiu muito para manter o valor sagrado destes espetáculos. Recordemos que o imperador Cômodo, assim como quis ser gladiador na arena, também ai foi caçador, provando assim a sua virtus divina. Imaginação e sentido do sagrado intervieram, assim, para conferir às matanças de animais uma dignidade que hoje temos dificuldade em lhes atribuir. O gosto por estes espetáculos responde a uma tendência muito profunda da alma romana: o desejo de reencontrar, na sua pureza original, as formas primordiais da natureza e de comunicar com elas numa espécie de batismo sangrento, de sacrifício coletivo no qual a multidão se une ao bestiário.
Os dias em que se realizavam jogos foram-se multiplicando ao longo dos séculos, enquanto os programas se sobrecarregavam com novas invenções. No entanto, tratava-se de um prazer relativamente excepcional. Nesses dias, toda a vida urbana parava e o povo comprimia-se no teatro, no anfiteatro ou no circo. Nos outros dias, porém, não pensemos que a cidade era tão laboriosa como o pode ser uma cidade moderna. A vida romana sabia conferir ao lazer, ao prazer quotidiano, uma importância muito maior do que a nossa vida moderna. Levantavam-se cedo, sem dúvida, e a manhã era consagrada aos deveres do Fórum, da política ou dos negócios, mas ainda o Sol ia alto e já o trabalho parava para começar o "serão". Pelas três horas no Inverno, quatro no Verão, o Fórum esvaziava-se, fechavam-se as portas das basílicas (por vezes era preciso atiçar os cães para obrigar os mais atrasados a sair), os tribunais suspendiam as audiências e até mesmo os mais conversadores, debaixo dos pórticos, se dirigiam em pequenos grupos para as termas. Todas as classes sociais respeitavam este rito; todos reservavam para si o fim de tarde. Horácio mostra-nos mesmo como as pessoas humildes passavam os momentos de lazer. Por exemplo, um escravo liberto que, de manhã, vendia a cidadãos tão pobres como ele trelas em segunda mão, ia sentar-se à sombra, depois de ter sido barbeado ao ar livre, para cuidar das unhas minuciosamente. Na alvorada seguinte, recomeçava a ganhar-se a vida. Ate lá, contentavam-se em viver.
As termas imperiais, que se multiplicaram no século I da nossa era, colocaram o luxo dos banhos ao alcance de todos e disse-se, que estas termas eram as casas de campo da plebe. Aí se encontravam todas as espécies de prazeres e de coisas deliciosas. Os letrados dispunham de bibliotecas, os conversadores de pórticos e de bosques onde encontrar amigos. Nos terraços, apanhavam-se banhos de sol, recomendados pelos médicos. Áreas descobertas permitiam jogar a bola: mesmo as pessoas mais compenetradas passavam horas a lançar pequenas bolas de couro, com dois ou três amigos que se treinavam como eles e se preparavam, assim, para tomar banho.
O próprio banho era uma operação demorada e complexa, a qual as pessoas se entregavam em companhia. Depois de se despirem no vestiário (apodyterium), onde deixavam — precaução útil contra os ladrões — um pequeno escravo a guardar a túnica, o manto e as sandálias, penetravam numa sala aquecida (tepidarium) onde o corpo se habituava ao calor. Depois, passavam para o sudatório (sudatorium) cujo ar aquecido e seco provocava uma sudação abundante. Aí permaneciam muito tempo, trocando opiniões com os amigos ou com aqueles que o acaso colocara a seu lado. De vez em quando, tiravam de um recipiente, com a palma da mão, um pouco de água com que molhavam o corpo, para provocar uma reação salutar.
Depois, era a unção. Os banhistas começavam por limpar o corpo coberto de suor e de pó com a ajuda de uma pequena almofada chamada strigile e, em seguida, um massagista, depois de passar as mãos por um óleo perfumado, trabalhava todos os músculos, enquanto os clientes se entregavam a um relaxamento total. Por fim, os mais corajosos mergulhavam na piscina fria, contentando-se os restantes com a água tépida de uma banheira.
A passagem de uma sala a outra exigia muito tempo. Quando tinham apetite compravam a vendedores que circulavam de grupo em grupo toda a espécie de iguarias que saboreavam enquanto esperavam pelo jantar. Há uma carta de Sêneca, muito célebre, que evoca a atmosfera ruidosa e animada das termas:
"Imagina", escreveu Sêneca, "todas as espécies de vozes... Enquanto os desportistas treinam e se exercitam nos halteres, enquanto fazem todos os esforços, ou apanham ar, ouço gemidos; de cada vez que retomam o fôlego, segue-se um silvo e uma respiração aguda. Quando se trata de um preguiçoso ou de alguém que se contenta com uma fricção barata, ouço uma mão a bater nos ombros e, consoante bate espalmada ou côncava, produz um som diferente. Se, além disso, surgir um jogador que comece a contar as boladas, está tudo acabado! Acrescente-se ainda o quezilento, e o ladrão apanhado em flagrante, e o homem que se diverte a ouvir a sua própria voz enquanto toma banho. Juntem-se a tudo isto as pessoas que saltam para a piscina salpicando os outros de água. Mas todas estas pessoas tem, pelo menos, uma voz normal. Agora imagina a voz aguda e estridente dos depiladores... que de repente dão gritos, sem nunca se calarem, a não ser quando depilam as axilas aos outros, obrigando-os, então, a gritar por sua vez. Há ainda os gritos variados dos pasteleiros, vendedores de salsichas e de pâtés e de todos os moços de taberna que anunciam as suas mercadorias numa melopeia característica."
As suntuosas refeições romanas
Acabado o banho, iam jantar. Era um dos momentos do dia consagrados à amizade e era habitual ser-se convidado, quando não se recebiam visitas. Acontecia mesmo com as pessoas mais simples. Mas, naturalmente, os grandes senhores ofereciam-se mutuamente refeições suntuosas. Os próprios romanos criticaram, em termos muitas vezes violentos, o luxo dos banquetes. Ao lê-los fica-nos a idéia de que os seus contemporâneos se empenhavam em gastar fortunas para satisfazer a gula e a fantasia. Na realidade, ao examinar testemunhos objetivos, sentimo-nos sobretudo surpreendidos com a fragilidade geral em relação a qual toda a exigência faria figura de extravagância. Os mercados urbanos, tal como os vemos hoje em dia, teriam parecido monstruosos aos Romanos, que se escandalizavam por se ousar cultivar espargos para melhorar as espécies, em vez de se contentarem com as variedades selvagens. Plínio, o Velho, condena todo o comércio de alimentos exóticos e também, em certa medida, o de peixe proveniente de costas longínquas. É verdade que, durante a República, o Senado impusera leis sumptuárias que restringiam o luxo das refeições, mas incluíam-se na política geral tendente a manter tradições de austeridade consideradas necessárias para salvaguarda da pureza dos costumes. Revelaram-se sem grande efeito: como privar todo um povo enriquecido pelas suas conquistas dos benefícios cujo uso os vencidos há muito conheciam? É significativo que um dos mais célebres apreciadores de iguarias da República em decadência tenha sido Lúculo, que participara numa campanha na Ásia contra Mitrídates e que pudera apreciar o prazer de viver nas cidades orientais. Também se deve a Lúculo a aclimatação da cerejeira na Itália — o que, hoje, não nos parece uma invenção nada condenável. No fim do século II a.e.c., o filosofo estóico Possidonio apontava como traço característico dos costumes romanos a grande sobriedade das refeições. Nessa época, há muito que as cidades helenísticas do Oriente e da Grécia tinham adotado culinárias complicadas! Estas penetraram em Roma, mas lentamente e não sem grandes resistências.
Durante o Império, existia uma arte culinária sobre a qual podemos formar uma idéia graças a um livro que nos chegou com a assinatura de Apicio, um célebre apreciador da boa cozinha. Esta cozinha é muito rica em temperos e especiarias, tanto indígenas como importados do Oriente. Emprega-se muito a pimenta, em grão ou moída, o cominho, o funcho, o alho, o tomilho, a cebola, a arruda, a salsa, os oréganos, o silphium (uma uma umbelífera aromática originaria da Cirenaica e cuja espécie se perdeu), e sobretudo o garum. Este garum, que entra na maior parte das preparações, é semelhante ao nuocmam dos Indochineses: é uma maceração em sal de tripas de peixes, principalmente atum e cavala. Este produto, de sabor muito forte, fabricava-se um pouco por toda a parte na bacia do Mediterrâneo; era especialmente apreciado o que provinha das fabricas de conservas de Cadis. Existiam várias qualidades, umas muito caras, outras mais baratas. Utilizava-se também o alec, resíduo dos potes depois de extraído o garum líquido.
Vejamos, por exemplo, a receita de um "pato, grou, perdiz, rola, pombo-bravo ou outra ave":
"Limpar e preparar a ave, pô-la num recipiente de barro; acrescentar água, sal, funcho bastardo e deixar cozer. Quando a ave ainda estiver rija, retira-la e colocá-la numa panela (caccabum) com azeite e garum, assim como com um raminho de oréganos e coentros. Quando estiver quase cozida acrescentar um pouco de vinho para dar cor. Moer pimenta, aipo selvagem, cominho, coentros, uma raiz de silphium, arruda, vinho doce, mel, regar a ave com o seu próprio molho, completar com um fio de vinagre. Apurar este molho na panela, para aquecer, ligar com amido e servir numa travessa com o molho."
Existiam receitas muito mais complexas, como o "leitão de jardim", que se começava por amalhar "pela boca, à moda dos odres" e que se recheava de frangos também recheados, salsichão, carne de salsichas, tordos, papa-figos, tâmaras descaroçadas, cebolas fumadas, caracóis e toda a espécie de ervas. Em seguida, o leitão era cosido e depois assado no forno. Depois de assado, abria-se pelo dorso e impregnava-se a carne com um molho feito de arruda, garum, vinho doce, mel, azeite.
Estas receitas sugerem-nos uma cozinha de gosto muito intenso, onde se juntavam odores açucarados e salgados, desnaturando o paladar próprio de cada qualidade de carne. A arte do cozinheiro consistia em tornar irreconhecível o aspecto dos alimentos como, por exemplo, conferir o aspecto de ave a um pedaço de porco, ou o aspecto de peixe a úberes de porca (muito apreciados). Procuravam-se especialmente as aves, que se mandavam vir de longe: o faisão importado da região do Ponto Euxino, a galinha-do-mato vinda da Numidia, o flamingo do Egito ou da África, mas também animais indígenas: tordos, perdizes, etc., e as aves de capoeira italianas, como as galinhas, os patos, ainda semi-domesticados. Uma velha lei — do tempo da austeridade antiga — proibia a criação de galinhas; os criadores de animais contornavam a lei engordando galos. Encomendavam-se gansos da Gália; o fígado de ganso era muito apreciado.
Macróbio legou-nos a ementa de um banquete oficial oferecido a pretores do tempo de César. Examinemo-lo em pormenor: em primeiro lugar, mariscos, ostras, mexilhão; tordo com espargos, galinha cozida, castanhas e molho de mexilhão e ostras. Estas iguarias eram consumidas como entrada e acompanhadas de vinho doce. Seguia-se o primeiro prato com outros mariscos, peixes, papa-figos, filetes de javali, pasta de carne de aves e de caça. O prato principal incluía úberes de porca, cabeça de porco, guisados de peixe, de pato, de lebre e aves assadas. Infelizmente, ignoramos qual foi a sobremesa. Estas iguarias eram servidas simultaneamente a todos os convivas em tabuleiros e aqueles escolhiam a seu gosto. Os convidados encontravam-se deitados em três leitos rodeando uma mesa e dispostos em ferradura: era o triclinium — mas este nome designava também toda a sala de jantar. Cada leito continha três lugares, de tal maneira que a maior parte dos jantares não tinha mais de nove convivas — o número das Musas. Em volta dos leitos circulavam os criados; os escravos pessoais dos convidados encontravam-se presentes, atentos aos desejos dos amos.
Terminada a refeição, começava a beber-se. Era o início da comissatio, mais ou menos ruidosa consoante o temperamento e o humor dos convivas. O copeiro misturava antecipadamente vinho e Água em um recipiente. Nunca se bebia vinho puro: possuindo demasiado álcool para poder ser conservado (a vinificação era muito imperfeita), espesso, misturado, por vezes, com diversas substancias, precisava de ser depurado. A certas qualidades de vinho acrescentava-se água do mar, na maior parte das vezes simplesmente água tépida. Era o "rei do festim", eleito pelos convivas, que fixava a quantidade de taças que cada um podia beber e a mistura do vinho. Se o "rei" era acessível, tudo se passava bem, e conversava-se tranquilamente, jogava-se aos dados, aos ganizes, ouviam-se cantores ou músicos ou declamadores, admiravam-se prestidigitadores, equilibristas. Mas, se o "rei" não sabia manter os "súditos" dentro dos limites aceitáveis, instalava-se a bebedeira e com ela a desordem, até ao momento em que os convidados regressavam a casa, apoiados nos escravos.
Habitualmente, as mulheres não assistiam a todo o jantar e só as cortesãs ocupavam os leitos, ao lado dos homens. Mães de família e crianças comiam sentadas a uma mesa especial, na sala de jantar. Era esta, pelo menos, a tradição; mas é verdade que entre a aristocracia, as mulheres, sobretudo no Império, adquiriram o hábito de partilhar os banquetes, quando não eram elas próprias a organizá-los.
Nunca será de mais insistir nos excessos que nos legaram os autores antigos. Não julguemos todos os jantares pelo do escravo liberto sírio Trimalcião, descrito por Petrônio. Fixemos apenas uma característica particularmente significativa: o desejo de tudo transformar em espetáculo, de regular a refeição como uma pantomima em que, por exemplo, um javali é apresentado por hospedeiros disfarçados de caçadores. Trata-se de cenas de teatro transportadas para a sala de jantar, a mesma procura do impossível ou pelo menos do maravilhoso que nos pareceu tão próprio da imaginação romana.
Roma, a cidade acolhedora
Se o quadro de Roma no tempo dos reis e no início da República nos mostrou uma plebe miserável, crivada de dívidas, se a analise das condições econômicas nos campos revela a existência do trabalhadores vivendo em condições precárias, praticamente ligados ao solo que cultivam por conta de um patrão ausente, também nos apercebemos do que a população da cidade, pelo menos depois da revolução de Augusto, era, em suma, muito feliz. O Império nascera de uma reação contra a oligarquia senatorial; César apoiara-se inicialmente na plebe e, apesar do todos os sucessos no Senado, Augusto nunca deixou de pensar no bem-estar dos mais pobres. Os júlio-claudianos, considerando Roma sua protegida, mostravam-se generosos para com ela: trabalhos públicos, abastecimento, espetáculos, assumiram o encargo de tudo. Alguns deles, sobretudo Nero, foram muito estimados pelo povo e seria inútil explicar este sentimento, que foi duradouro, por uma comunhão na baixeza. Mais tardo, veremos Trajano, e depois Adriano e outros, organizarem uma verdadeira administração de beneficência. Aquilo que, nas cidades provinciais, ou numa espécie de caridade exercida espontaneamente pelas grandes famílias em proveito dos humildes tornou-se, em Roma, um serviço público. Recolheram-se os órfãos, organizaram-se dotes para as moças. A tudo isto juntaram-se as distribuições de viveres impostas pela tradição. Não pensemos que resultou de um calculo, que os Imperadores esperavam comprar, por meio do presentes, a submissão popular: seria o mesmo que defender que os regimes políticos só desejam evitar a maioria grandes sofrimentos para conquistar o máximo do partidários. O principio das distribuições do viveres aos indigentes fora inspirado aos Gracos pelo seu conselheiro — o estóico Blossius de Cumes —, que estava longe do ser um político demagogo. Mas considerava-se justo e humano repartir pelo menos uma fração dos frutos da conquista pelos cidadãos, mesmo pelos escravos recentemente libertados.
Não surpreende verificar que os citadinos do Roma foram mais felizes, mais bem tratados do que as outras populações do Império: acontecia o mesmo, em certa medida, com os habitantes de todas as cidades, porque era para as cidades que afluía a riqueza e porque era também nas cidades que ela podia refluir dos ricos para os que não tinham nada do seu. A sociedade antiga, diga-se o que se disser, apoiava-se numa verdadeira solidariedade humana — solidariedade de clã, eletiva, sem dúvida, mas real, e cujo ideal vinha do tempo em que cada cidade, construída dentro de limites estreitos, tinha do se defender de constantes ataques à custa da coesão. Desde muito cedo, os Romanos ergueram um altar à deusa Concórdia, que não é outra senão a unanimidade cívica. Assim, seria muito injusto chamar corrupção degradante à liberalidade, ou até à magnificência dos príncipes em relação à plebe.
Por todas estas razões, a vida na cidade é mais tranqüila do que nos campos; Roma, a mais rica do todas, era aquela onde a alegria de viver era naturalmente maior os grandes ostentavam um luxo por vezes incrível — embora pareça muito mesquinho ao lado do esbanjamento que outros séculos conheceram — mas o resto do povo fazia mais do que recolher as migalhas ou, pior ainda, do que obter pequenas parcelas à custa de um trabalho esgotante e sem tréguas. As estátuas trazidas do Oriente, os mármores preciosos, os objetos de arte ornavam os pórticos e as termas. As tabernas de Roma eram as melhor abastecidas do mundo, as suas lojas eram as melhor fornecidas de toda a espécie de mercadorias, as suas fontes eram as mais numerosas, as suas águas as mais frescas e mais puras. Entre esta multidão, talvez "acarinhada" pelos patrões, havia sem dúvida escravos cuja sorte não era certamente invejável, mas muitos deles não tardaram a ser libertados; mesmo conservando uma condição servil, participavam nos prazeres da Cidade, prazeres à sua medida — aqueles que o intendente Horácio, desterrado no domínio da Sabina, lamenta. O acesso às mais elevadas funções não lhes estava vedado: com Cláudio, Nero, Domiciano e cada vez mais à medida que se observa a imensa miscigenação da capital, os libertos vão desempenhando um papel cada vez mais importante. Juvenal queixa-se de que " Oronte corre para o Tibre", de que os orientais vêm em massa à conquista de Roma. Chegavam como escravos, ou pequenos comerciantes, e em breve tinham clientes à sua conta. Para nós, trata-se sobretudo da prova de que Roma era acolhedora e sabia dar uma oportunidade aos antigos vencidos.

Tem razão Mircea Eliade, ao afirmar que “parece impossível escrever sobre Orfeu e o Orfismo sem irritar certa categoria de estudiosos: quer os céticos e os ‘racionalistas’, que minimizam a importância do Orfismo na história da espiritualidade grega, quer os admiradores e os ‘entusiastas’, que nele vêem um movimento de enorme alcance”. Falar de Orfismo é, no fundo, descontentar a gregos e troianos. Apesar dos pesares, vamos nós também entrar na guerra… Na realidade, o Orfismo é um movimento religioso complexo, em cujo bojo, ao menos a partir dos séculos VI-V a.e.c., se pode detectar uma série de influências (dionisíacas principalmente, pitagóricas, apolíneas e certamente orientais), mas que, ao mesmo tempo, sob múltiplos aspectos, se coloca numa postura francamente hostil a muitos postulados dos movimentos também religiosos supracitados. Embora de maneira sintética, porque voltaremos obrigatoriamente ao assunto mais abaixo, vamos esquematizar as linhas básicas de oposição entre Orfeu e os princípios religiosos preconizados por Dioniso, Apolo e Pitágoras.
Se bem que o profeta da Trácia se considere um sacerdote de Dioniso e uma espécie de propagador de suas idéias básicas, de modo particular no que se refere ao aspecto orgiástico, bem como ao êxtase e ao entusiasmo, quer dizer, à posse do divino, o Orfismo se opõe ao Dionisismo, não apenas pela rejeição total do diasparagmós e da omofagia, porquanto os órficos eram vegetarianos, mas sobretudo pela concepção “nova” da outra vida, pois, ainda que a religião dionisíaca tente expressar a unidade paradoxal da vida e da morte, não existem na mesma referências precisas à esperança escatológica, enquanto a essência do Orfismo é exatamente a soteriologia. Acrescente-se a tudo isto que, enquanto o êxtase dionisíaco se manifestava de modo coletivo, o órfico era, por princípio, individual.
Curioso é que Orfeu era conhecido como “o fiel por excelência de Apolo” e até mesmo, numa variante do mito, passava por filho de Apolo e de Calíope. Sua lira teria sido um presente paterno e a grande importância que os órficos atribuíam à kátharsis, à purificação, se devia ao deus de Delfos, uma vez que esta é uma técnica especificamente apolínea. A bem da verdade, somente a última afirmação é exata: os órficos realmente se apossaram da kátharsis apolínea, ampliando-a, no entanto, aperfeiçoando-a e sobretudo “purificando-a” de suas conotações políticas. No tocante “à fidelidade e à filiação” de Orfeu, ambas expressam a investida dos sacerdotes de Delfos de se “apossarem” também de Orfeu, como, em grande parte, já o haviam feito com Dioniso, ” apolinizando-o” e levando-o para o Olimpo.
A catequese apolínea, todavia, não surtiu efeito com o filho de Calíope, porque nada mais antagônico que Orfeu e Apolo. Este, “exegeta nacional”, comandou a religião estatal com mão-de-ferro, freando qualquer inovação com base no métron traduzido no conhece-te a ti mesmo e no nada em demasia! Uma quase liturgia sem fé, a religião da pólis se resumia, em última análise, num festival sócio-político-religioso. Que prometia Apolo para o post mortem? Quais as exigências éticas e morais da religião oficial? Que se celebrassem condigna e solenemente as festas religiosas… E depois? Talvez a resposta tenha sido dada bem mais tarde por Quinto Horácio Flaco: puluis et umhra sumus, somos pó e sombra! Pó e sombra, nada além da triste escatologia homérica, que a religião estatal, opressora e despótica teimava em manter sob a égide de Apolo. E até mesmo a kátharsis apolínea visava primariamente à purificação do homicídio, ao passo que os órficos purificavam-se nesta e na outra vida com vistas a libertar-se do ciclo das existências.
A religião apolínea era o bem viver; a órfica, o bem morrer. Fundamentando-se numa singular antropologia, numa inovadora teogonia e em novíssima escatologia, o Orfismo aprendeu a reservar as lágrimas para os que nasciam e o sorriso para os que morriam… Entre o Pitagoricismo e o Orfismo, do ponto de vista religioso, há, efetivamente, semelhanças muito grandes: o dualismo corpo-alma; a crença na imortalidade da mesma e na metempsicose; punição no Hades e glorificação final da psiqué no Elísion; vegetarismo, ascetismo e a importância das purificações. Todas essas semelhanças levaram muitos a considerar erradamente o Orfismo como mero apêndice do Pitagoricismo, mas tantas analogias não provam, como acentua Mircea Eliade, “a inexistência do Orfismo como movimento autônomo”. É muito possível, isto sim, que certos escritos religiosos órficos sejam de cunho, inspiração ou até mesmo obra de pitagóricos, mas não teria sentido pensar ou defender que a antropologia, a teogonia, a escatologia e os rituais órficos procedam de Pitágoras ou de seus discípulos. Os dois movimentos certamente se desenvolveram paralela e independentemente. Mas, se existem tantas semelhanças entre ambos, as diferenças são também acentuadas, sobretudo no que tange ao social, à política, ao modus vivendi e ao aspecto cultural.
Os pitagóricos organizavam-se em seitas fechadas, de tipo esotérico. Movimento religioso de elite, talvez não fosse impertinente lembrar a obrigatoriedade Pitagórica do silêncio e da abdicação, por parte de seus seguidores, da própria razão em favor da autoridade do mestre. Consideravam a sentença de seu fundador como a última palavra, uma espécie “de aresto inapelável e expressão indiscutível da verdade”.
Depois (autòs éphe), ipse dixit, “ele falou”, não havia mais o que discutir. De outro lado, os pitagóricos eram homens cultos e dedicavam-se a um sistema de “educação completa”: complementavam suas normas éticas, morais e ascéticas com o estudo em profundidade da música, da matemática e da astronomia, embora todas essas disciplinas e normas visassem, em última análise, a uma ordem mística. Mircea Eliade sintetiza essa ciência Pitagórica de finalidade religiosa: “Entretanto, o grande mérito de Pitágoras foi ter assentado as bases de uma ‘ciência total’, de estrutura holística, na qual o conhecimento científico estava integrado num conjunto de princípios éticos, metafísicos e religiosos, acompanhado de diversas ‘técnicas do corpo’.
Em suma, o conhecimento tinha uma função ao mesmo tempo gnosiológica, existencial e soteriológica. É a ‘ciência total’, do tipo tradicional, que se pode reconhecer tanto no pensamento de Platão como entre os humanistas do Renascimento italiano, em Paracelso ou nos alquimistas do século XVI. O Pitagoricismo estava, ademais disso, voltado para a política. É sabido que “sábios pitagóricos” detiveram o poder, durante algum tempo, em várias cidades do sul da Itália, a Magna Graecia.
O Orfismo, ao contrário do Pitagoricismo, era um movimento religioso aberto, de cunho democrático, ao menos na época clássica, e, embora contasse em seu grêmio com elementos da elite, jamais se imiscuiu em política e tampouco se fechou em conventículos de tipo esotérico. Se bem que o Papiro Derveni, datado do século IV a.e.c. e descoberto em 1962, perto da cidade de Derveni, na Tessalonica, dê a entender que, em época remota, já que o papiro é um comentário de um texto órfico arcaico, os seguidores de Orfeu se reuniam ou se fechavam em verdadeiras comunidades, não se pode, no período histórico, afirmar a existência de seitas órficas, no sentido de “conventos” em que se trancassem.
Talvez o Orfismo fosse mais uma “escola”, uma comunidade, com seus mestres, que explicavam as doutrinas e orientavam os discípulos e iniciados na leitura da vasta literatura religiosa que o movimento possuía. Claro está que, com exceção do Papiro Derveni e das lamelas, de que se falará mais abaixo, os textos órficos de caráter “literário” que chegaram até nós são poucos e alguns de época bem recente, mas é necessário distinguir “a data da redação de um documento com a idade de seu conteúdo” e alguns dos escritos órficos pertencem inegavelmente a épocas bem tardias: uns pela data da redação, outros pelo conteúdo.
Feito esse ligeiro balanço das convergências e divergências entre dionisismo, apolinismo, orfismo e pitagoricismo, vamos, agora, dar uma idéia das datas de Orfeu, da antigüidade do Orfismo e de algumas possíveis influências sobre ele exercidas pelo Oriente.
Se Orfeu é uma figura integralmente lendária, o Orfismo é rigorosamente histórico. Enquanto Homero e Hesíodo iam dando forma poética às concepções religiosas do povo, havia na Hélade, desde o século VI a.e.c. ao menos, uma escola de poetas místicos que se autodenominavam órficos, e à doutrina que professavam davam-lhe o nome de Orfismo. Seu patrono e mestre era Orfeu. Organizavam-se, ao que tudo indica, em comunidades, para ouvir a “doutrina”, efetuar as iniciações e celebrar seu grande deus, o primeiro Dioniso, denominado Zagreu.
Abstendo-se de comer carne e ovos (princípios da vida), praticando a ascese (devoção, meditação, mortificação) e uma catarse rigorosa (purificação do corpo e sobretudo da vontade, por meio de cantos, hinos, litanias), defendendo a metempsicose (a transmigração das almas) e negando os postulados básicos da religião estatal, o Orfismo provocou sérias dúvidas e até transformações no espírito da religião oficial e popular da Grécia. Quando se diz, que Orfeu é um herói muito antigo, não se está exagerando. Se bem que o nome do poeta e cantor surja pela vez primeira no século VI a.e.c., mencionado pelo poeta Íbico, de Régio, (Onomaklytòs Orphén), “Orfeu de nome ilustre”, e ainda no mesmo século, o citaredo tenha seu nome, sob a forma (Orphas), gravado numa métopa do Tesouro dos Siciônios em Delfos, seus adeptos o consideravam anterior a Homero. Pouco importa que o profeta de Zagreu tenha “vivido” antes ou depois do poeta da Ilíada. Se seus seguidores assim o proclamavam, é porque acreditavam no fato ou porque desejavam enfatizar e também aumentar-lhe a autoridade, fazendo-o ancestral do próprio símbolo da religião oficial, e salientar a importância de sua mensagem religiosa, cujo conteúdo contrasta radicalmente com a religião olímpica. Uma coisa, porém, é inegável: certos traços da “biografia” de Orfeu e o conteúdo de sua mensagem possuem inegavelmente um caráter arcaizante e o que se conhece de uns e de outro bastaria para localizar o esposo de Eurídice bem antes de Homero. Como os xamãs, Orfeu é curandeiro, músico e profeta; tem poderes de encantar e dominar os animais selvagens; através de uma catábase do tipo xamânico desce ao Hades à procura de Eurídice; é despedaçado pelas Mênades e sua cabeça se conserva intacta, passando a servir de oráculo; e, mais que tudo, é sempre apresentado como fundador de iniciações e de mistérios. Mais ainda: embora se conheçam apenas “os atos preliminares” dos mistérios e das iniciações tidas como fundadas por Orfeu, como o vegetarismo, a ascese, a catarse, os (hieroì lógoi), ou seja, “os livros sagrados” que continham a instrução religiosa e particularmente as posições teológicas cifradas na antropogonia, na teogonia, na escatologia e na metempsicose, duas conclusões se impõem: primeiro, se bem que se desconheçam a origem e a pré-história de Orfeu e do Orfismo, ambos estão muito longe da tradição homérica e da herança mediterrânea; segundo, as características xamânticas de sua biografia e o conteúdo de sua mensagem, que se contrapõem por inteiro à mentalidade grega do século VI a.e.c. e à religião olímpica de Apolo, postulam para Orfeu e para o Orfismo uma época bem arcaica. R. Pettazzoni defende, se não a origem, pelo menos uma influência marcante da Trácia sobre o Orfismo: “Quaisquer que sejam suas mais remotas origens, um fato não se discute: o Orfismo se alimentou, desde cedo, de uma seiva religiosa proveniente da Trácia, e esta, por ter mantido o orgiasmo em sua espontaneidade natural, continuará a nutri-lo, graças às relações mais estreitas que, a partir do século VI a.e.c., Atenas começou a manter com o mundo bárbaro do Norte”. Não há dúvida de que não se podem negar certas influências traco-dionisíacas e sobretudo orientais sobre todo o Orfismo, mas alguns de seus ângulos, de modo especial a escatologia, parecem remontar a “uma herança comum imemorial, resultado de especulações milenares sobre os êxtases, as visões e os arrebatamentos, as aventuras oníricas e as viagens imaginárias, herança, por certo, diferentemente valorizada pelas diversas tradições”. No fundo, um arquétipo. Na Grécia, o mais notável representante do Orfismo e da poesia órfica foi o hábil versificador e imitador medíocre de Homero e Hesíodo, o célebre Onomácrito (século VI a.e.c.), sobre quem dizia Aristóteles, que “a doutrina era de Orfeu, mas a expressão métrica pertencia a Onomácrito”. Antes de passarmos aos três pontos altos da doutrina órfica, vamos estampar, a título de conclusão de quanto se disse até agora, a admirável síntese do sábio e seguro professor sueco, Martin P. Nilsson, acerca do Orfismo e de sua significação religiosa: “O Orfismo é o compêndio e, ao mesmo tempo, o coroamento dos agitados e complexos movimentos religiosos da época arcaica. A constituição de uma cosmogonia em sentido especulativo, com o encaixe de uma antropogonia que, antes do mais, pretende explicar a dupla natureza do homem, composta de bem e de mal; o ritualismo nas cerimônias e na vida; o misticismo na doutrina e no culto; a elaboração de idéias acerca de uma vida no além, plástica e concreta, bem como a transformação do inferno em um lugar de castigo por influxo da exigência de reparação, segundo a idéia antiga de que a vida no outro mundo é uma repetição da existência sobre a terra. Tudo isto se pode constatar em outras partes, ao menos em esboço, mas a grandeza do Orfismo reside em ter combinado o todo numa estrutura harmônica. Sua realização genial foi situar o indivíduo e sua relação com a culpa e com a reparação da mesma no próprio âmago da religião.
Desde o início, o Orfismo se apresentou como uma religião de minorias seletas e, por isso mesmo, muitos se sentiram repelidos por seus ritos primitivos e pela grotesca e fantástica indumentária mitológica de suas idéias. A evolução seguiu depois outro caminho: o ar claro e fresco do grande auge nacional, que se seguiu à vitória sobre os persas, dissipou as trevas e fez que se tornasse vitoriosa a tendência do espírito grego para a claridade e beleza sensível.
O Orfismo mergulhou, então, como seita desprezada, nos estratos inferiores da população, onde continuou a vicejar até que os tempos novamente se transformassem e viesse abaixo a supremacia do espírito grego após meio milênio. Foi, então, que, mais uma vez, saiu à tona e contribuiu para a derradeira crise religiosa da antiguidade”
Os três pontos altos do Orfismo e sua mais séria contribuição para a religiosidade grega foram a cosmogonia, a antropogonia e a escatologia. Três inovações que hão de abalar os nervos da intocável religião olímpica.
Cosmogonia Órfica
A cosmogonia órfica que, sob alguns aspectos, segue o modelo da de Hesíodo, introduz novo motivo, aliás de caráter arcaico, já que se repete em várias culturas: o cosmo surgiu de um ovo. Mas não existe apenas este paradigma.., pois são três as tradições cosmogônicas transmitidas pelo Orfismo. A primeira delas está nas chamadas Rapsódias Órficas: Crono, o Tempo, gera no Éter, por ele criado juntamente com o Caos, o Ovo primordial, onde tem origem o primeiro dos deuses, Eros, também chamado Fanes, deus-criador, andrógino. Daí por diante a seqüência é a mencionada por Hesíodo, ao menos até Zeus. Fanes (Eros) é, pois, o princípio da criação, que gerou os outros deuses. Zeus, no entanto, engoliu a Fanes e toda a geração anterior, criando um novo mundo.
Observe-se que o tema da absorção é um fato comum em várias culturas. Crono devorara os filhos e o próprio Zeus engoliu sua esposa Métis, antes do nascimento de Atena.
O gesto de Zeus, no caso em pauta, é significativo na cosmogonia órfica: de um lado, patenteia a tentativa de fazer de um deus cosmocrata, isto é, de uma divindade, que conquistou o governo do mundo pela força, um deus-criador; de outro, reflete uma séria indagação o filosófica do século VI a.C, pois, como é sabido, o pensamento filosófico e religioso desta época preocupou-se muito com o problema do Um e do Múltiplo. Guthrie sintetiza bem essa indagação. Os espíritos religiosos do século VI a.e.c. se perguntavam com certa ansiedade: “Qual a relação existente entre cada indivíduo e o deus a que se sente aparentado? Como se pode realizar a unidade potencial implícita tanto no homem quanto no deus”? Por outra: “Qual a relação existente entre a realidade múltipla do mundo em que vivemos e a substância única e original de onde tudo procede”?
O ato prepotente de Zeus, por conseguinte, engolindo a Fanes e a todos os seres, simboliza a tentativa de explicar a criação de um universo múltiplo a partir da Unidade. O mito de Fanes, apesar dos retoques, tem uma estrutura arcaica e reflete certas analogias com a cosmogonia oriental, principalmente com a egípcio-fenícia. Como esta versão teogônica órfica é a mais conhecida e, talvez, a mais importante na história do Orfismo, vamos esquematizá-la:
A segunda tradição cosmogônica órfica é difusa e admite várias alternativas. Em resumo, reduz-se ao seguinte: Nix (Noite) gerou Urano (Céu) e Géia (Terra), o primeiro casal primordial, donde procede, como em Hesíodo, o restante da criação; ou Oceano, de que emergiu Crono (Tempo), que, mais tarde, gerou Éter e Caos; ou ainda Monás (UM) que gerou Éris (Discórdia), que, por sua vez, separou Géia de Oceano (Águas) e de Urano (Céu). A terceira e última tentativa órfica de explicar a origem do mundo foi recentemente revelada pelo já citado Papiro Derveni, em que tudo está centrado em Zeus.
Um verso de “Orfeu” (col. 13,12) afirma categoricamente que “Zeus é o começo, o meio e o fim de todas as coisas”. Para Orfeu, Moîra (Destino) é o próprio pensamento de Zeus (col. 15, 5-7): “Quando os homens dizem: Moîra teceu, entendem que o pensamento de Zeus estipulou o que é e o que será, bem como o que deixará de ser”. Oceano (col. 18, 7-11) não é mais que uma hipóstase de Zeus, tanto quanto Géia (Deméter), Réia e Hera não passam de nomes diferentes de uma única deusa, quer dizer, de uma Grande Mãe.
Para explicar o ato criador do pai dos deuses e dos homens, o texto afirma, sem mencionar a parceira, que Zeus fez amor “no ar”, literalmente, “no alto, por cima”, nascendo então o mundo. A unidade da existência (col. 15, 1-3) é igualmente proclamada: “o lógos do mundo é idêntico ao lógos de Zeus”, donde se pode concluir com Heráclito que o nome que designa o “mundo” é “Zeus”. Como se pode observar, a cosmogonia órfica, particularmente a revelada pelo Papiro Derveni, caminhou a passos largos para uma tendência monista. Em conclusão: tomada em conjunto, a teogonia órfica possui elementos provenientes da Teogonia de Hesíodo, que influenciou quase todo o pensamento mitológico posterior respeitante ao assunto.
É assim que a Noite e o Caos tiveram importância considerável nos contextos órficos. Estes elementos circularam por meio de variantes arcaicas e tardias e acabaram sendo engastadas num complexo mitológico órfico e individual. Outras facetas da cosmogonia órfica, como o Tempo (Khrónos) e o Ovo dão mostras de que se conheciam pormenores do culto e da iconografia orientais. O Tempo, particularmente, trai sua proveniência oriental nos relatos órficos pela forma concreta com que se apresenta: uma serpente alada e policéfala. Tais monstros multidivididos são orientalizantes nas suas características, principalmente de origem semítica, e começam a surgir na arte grega por volta do século VIII a.e.c.
Antropogonia Órfica
A antropologia, ou melhor, a antropogonia órfica, tem como conseqüência o crime dos Titãs contra Zagreu, o primeiro Dioniso. Segundo se mostrou mais atrás, à p. 117-118, após raptarem Zagreu, por ordem de Hera, os Titãs fizeram-no em pedaços, cozinharam-lhe as carnes num caldeirão e as devoraram. Zeus, irritado, fulminou-os, transformando-os em cinzas e destas nasceram os homens, o que explica que o ser humano participa simultaneamente da natureza titânica (o mal) e da natureza divina (o bem), já que as cinzas dos Titãs, por terem devorado a Dioniso-Zagreu, continham igualmente o corpo do menino Dioniso.
O mito do nascimento do homem, a antropogonia, é muito mais importante no Orfismo do que a Cosmogonia. Platão (Leis, 3, 701 B) refere-se à antropogonia órfica, ao dizer que todos aqueles que não querem obedecer à autoridade constituída, aos pais e aos deuses, patenteiam sua natureza titânica, herança do mal. Mas cada ser humano, diz o filósofo ateniense, carrega dentro de si uma faísca de eternidade, uma chispa do divino, uma parcela de Dioniso, ou seja, uma alma imortal, sinônimo do bem. Em outra passagem (Crátilo, 400 C), alude à doutrina, segundo a qual o corpo é uma sepultura da alma durante a vida e acrescenta que os órficos chamam assim ao corpo, porque a alma está encerrada nele como num cárcere, até que pague as penas pelas culpas cometidas. A psiqué é a parte divina do homem; o corpo, sua prisão.
Apagava-se, destarte, no mapa religioso órfico, a tradicional concepção homérica que considerava o corpo como o homem mesmo e a alma como uma sombra pálida e abúlica, segundo se mostrou no Vol. I, p. 144-146. Uma passagem importante de Píndaro (Frg. 131 Bergk) permite-nos compreender melhor como foi possível essa mutação completa de valores. O corpo, diz o poeta tebano, segue a poderosa morte; a alma, porém, que procede apenas dos deuses, permanece. A alma, acrescenta, dorme, enquanto nossos membros estão em movimento, mas aquele, que a faz dormir, mostra-lhe em sonhos o futuro. Desse modo, se os sonhos são enviados pelos deuses e a alma é divina, é preciso libertá-la do cárcere do corpo, para que possa participar do divino, dos sonhos.
O homem, pois, tendo saído das cinzas dos Titãs, carrega, desde suas origens, um elemento do mal, ao mesmo tempo que um elemento divino, do bem. Em suma, uma natureza divina original e uma falta original e, a um só tempo, um dualismo e um conflito interior radical. Nos intervalos do êxtase e do entusiasmo, o dualismo parece desaparecer, o divino predomina e libera o homem de suas angústias. Essa bem-aventurança, todavia, passada a embriaguez do êxtase e do entusiasmo, se evapora na triste realidade do dia-a-dia. É bem verdade que a morte põe termo às tribulações, mas, pela doutrina órfica da metempsicose, de que se falará logo a seguir, o elemento divino terá obrigatoriamente que se “re-unir” a seu antagonista titânico, para recomeçar nova existência sob uma outra forma, que pode ser até mesmo a de um animal. Assim, em um ciclo, cujo término se ignora, cada existência é uma morte, cada corpo é um túmulo. Tem-se aí a célebre doutrina do sùma -sÃma (soma – sêma), do corpo (sôma) como cárcere (sêma) da alma. Assim, em punição de um crime primordial, a alma é encerrada no corpo tal como no túmulo. A existência, aqui neste mundo, assemelha-se antes à morte e a morte pode se constituir no começo de uma verdadeira vida. Esta verdadeira vida, que é a libertação final da alma do cárcere do corpo, quer dizer, a posse do “paraíso”, sobre cuja localização se falará também, não é automática, uma vez que, “numa só existência e numa só morte”, dificilmente se conseguem quitar a falta original e as cometidas aqui e lá.
Talvez, e assim mesmo o fato é passível de discussão, só os “grandes iniciados órficos” conseguiriam desvincular-se da “estranha túnica da carne”, para usar da expressão do órfico, filósofo e poeta Empédocles (Frg. B. 155 e 126), após uma só existência. A alma é julgada e, consoante suas faltas e méritos, depois de uma permanência no além, retorna ao cárcere de novo corpo humano, animal ou, até mesmo, pode mergulhar num vegetal.
Sendo o Orfismo, no entanto, uma doutrina essencialmente soteriológica, oferece a seus seguidores meios eficazes para que essa liberação se faça de um modo mais rápido possível, com os menores sofrimentos possíveis, porquanto as maiores dores neste vale de lágrimas são tão-somente um pálido reflexo dos tormentos no além… Para um sério preparo com vistas a libertar-se do ciclo das existências, o Orfismo, além da parte iniciática, mística e ritualística, que nos escapa, dava uma ênfase particular à instrução religiosa, através dos “hieroì lógoi”, “dos livros sagrados”, bem como obrigava seus adeptos à prática do ascetismo, do vegetarianismo e de rigorosa catarse.
Mortificações austeras, como jejuns, abstenção de carne e de ovos, ou, por vezes, de qualquer alimento, castidade no casamento ou até mesmo castidade absoluta, como a do jovem vegetariano Hipólito na tragédia euripidiana que tem o nome do herói consagrado à deusa virgem Ártemis, meditação, cânticos, austeridade no vestir e no falar são alguns dos tópicos que compõem o verdadeiro catálogo do ascetismo órfico. Vegetarianos, os órficos não apenas se abstinham de carne, mas também eram proibidos de sacrificar qualquer animal, o que, sem dúvida, suscitava escândalo e indignação, por isso que o sacrifício animal e o banquete sacrificai eram precisamente os ritos mais característicos da religião grega. O fundamento de tal proibição há de ser buscado primeiramente na doutrina da metempsicose74, uma vez que todo animal podia ser a encarnação de uma alma, de um elemento dionisíaco e divino e, por isso, virtualmente sagrado. Além do mais, poderia estar animado pela psiqué de um parente, até muito próximo… De outro lado, abstendo-se de carne e dos sacrifícios cruentos, obrigatórios no culto oficial, os seguidores do profeta da Trácia estavam, sem dúvida, contestando a religião oficial do Estado e proclamando sua renúncia às coisas deste mundo, onde se consideravam estrangeiros e hóspedes temporários.
Com o sacrifício cruento em Mecone, assunto de que se tratou no Vol. I, p. 167, Prometeu, tendo abatido um boi e reservado astutamente para os deuses os ossos cobertos de gordura e para os homens as carnes, desencadeou a cólera de Zeus. Profundamente irritado com o logro do primeiro sacrifício que os mortais faziam aos deuses por meio de Prometeu, o senhor do Olimpo privou aqueles do fogo e pôs termo ao estado paradisíaco, quando os homens viviam em perfeita harmonia com os imortais. Ora, com sua recusa em comer carne, decisão de não participar de sacrifícios cruentos e prática do vegetarianismo, os órficos visavam também, de algum modo, a purgar a falta ancestral e recuperar a felicidade perdida.
Não bastam, no entanto, ascetismo e vegetarianismo para libertar a alma do cárcere da matéria. Se a salvação era obtida sobretudo através da iniciação, quer dizer, de revelações de cunho cósmico e teosófico, a catarse, a purificação desempenhava um papel decisivo em todo o processo soteriológico do Orfismo. É bem verdade que nas Órgia (órgia), nos orgiasmos dionisíacos, provocados pelo êxtase e entusiasmo, se realizava uma comunhão entre o divino e o humano, mas essa união, segundo se mostrou, era efêmera e “obtida pelo aviltamento da consciência”. Os órficos aceitaram o processo dionisíaco e dele não só arrancaram uma conclusão óbvia, a imortalidade, donde a divindade da alma, mas ainda o enriqueceram com a k£θarsi$ (kátharsis), a catarse, que, embora de origem apolínea, foi empregada em outro sentido pelos seguidores de Orfeu. Ainda que se desconheça a técnica purificatória órfica, além do vegetarianismo, abluções, banhos, jejuns, purificação da vontade por meio de exame de consciência, de cantos, hinos, litanias e, sobretudo, a participação nos ritos iniciáticos, pode-se ter uma idéia do esforço que faziam os órficos no seu afã catártico, através de uma citação cáustica de Platão, que logo se transcreverá. Observe-se, todavia, que nem todos esses vergastados pelo filósofo são adeptos de Orfeu. Ao lado de homens sérios, verdadeiros purificadores órficos, ascetas e adivinhos, aos quais o filósofo Teofrasto (cerca de 372-287 a.e.c.) dá o nome de ’Orfeotelestai/ (Orpheotelestaí), “iniciadores nos mistérios órficos”, pululavam, desde o século VI a.e.c., os embusteiros, charlatães, vulgares taumaturgos e curandeiros. Usando o nome de Orfeu, conseguiam, as mais das vezes, embair a ignorância e a boa-fé de suas vítimas. Fenômeno, seja dito de passagem, que se repete em todas as épocas, sobretudo nas chamadas religiões populares. Foi exatamente contra esses impostores que o autor do Fédon deixou em sua República, 364b-365a, uma página mordaz, que, de certa forma, nos ajuda a compreender um pouco mais a técnica purificatória do Orfismo: “… sacrificantes mendigos, adivinhos, que assediam as portas dos ricos, persuadem- nos de que obtiveram dos deuses, por meio de sacrifícios e encantamentos, o poder de perdoar-lhes as injustiças que puderam cometer, ou que foram cometidas pelos seus antepassados (…). Para justificar os ritos, produzem uma multidão de livros, compostos por Museu e por Orfeu, filhos da Lua e das Musas. Com base nessas autoridades, persuadem não só indivíduos, mas também Estados, de que há para os vivos e os mortos absolvições e purificações (…); e essas iniciações, pois é assim que lhes chamam, nos livram dos tormentos dos infernos”.
O terceiro e último ato do drama gigantesco da existência e da morte é precisamente a sorte que aguardava a alma no além e o caminho perigoso que a conduzia até lá e a trazia de volta ao mundo dos vivos, para recomeçar uma nova tragédia. Estamos nos domínios da Escatologia.
Entre algumas obras apócrifas atribuídas a Hesíodo há uma Catábase de Teseu e Pirítoo ao Hades. O Ulisses homérico já descera igualmente até a periferia da outra vida. Pois bem, a catábase homérica e hesiódica se enriqueceu com uma terceira, órfica, dessa feita, a (Katábasis eis Haidu), “a Descida ao Hades”. Pouco interessa a autoria desse poema, o que importa é salientar que a escatologia é o ponto capital do Orfismo. Com a mântica, a escatologia representa um segundo elemento decisivo nas novas tendências religiosas do século VI a.e.c. Como Orfeu foi um dos raros mortais a descer em vida à região das trevas, é muito natural que seus seguidores construíssem, dentro dos novos padrões religiosos órficos, uma nova escatologia, reestruturando inclusive toda a topografia do além.
Se em Homero o Hades é um imenso abismo, onde, após a morte, todas as almas são lançadas, sem prêmio nem castigo, e para todo o sempre, segundo comentamos no Vol. I, p. 140-146, e se em Hesíodo, conforme está no Vol. I, p. 179, já existe uma nítida mudança escatológica, se não na topografia infernal, mas no destino de algumas almas privilegiadas, o Orfismo fixará normas topográficas definidas e reestruturará tudo quanto diz respeito ao destino último das almas.
No tocante à topografia, o Hades foi dividido, orficamente, em três regiões distintas: a parte mais profunda, abissal e trevosa, denomina-se Tártaro; a mediai, Érebo, e a mais alta e nobre, Elísion ou a (Elýsia pedia), os Campos Elísios. Ao que tudo indica, os dois primeiros eram destinados aos tormentos que se infligiam às almas, que lá embaixo purgavam suas penas, havendo, parece, uma clara gradação nos suplícios aplicados: os do Tártaro eram muito mais violentos e cruéis que os do Érebo. Os Campos Elísios seriam destinados aos que, havendo passado pelos horrores dos dois outros compartimentos, aguardavam o retorno. Isto significa que a estada no Hades era impermanente para todos. Duas observações se impõem: será que também os órficos desciam ao Hades e estavam sujeitos aos castigos e ã metempsicose ou à ensomatose e, em segundo lugar, depois de quitadas todas as penas, onde estaria localizado o “paraíso”? Quanto às almas dos órficos, houve sempre uma certa hesitação a respeito de também elas passarem pelo processo da transmigração ou reencarnação. Talvez, pelo próprio exame das fontes órficas que se possuem, se possa afirmar que o problema estaria na dependência de ser ou não um iniciado perfeito (o que seria muito difícil) nos Mistérios de Orfeu… No que diz respeito à localização do “paraíso”, existem, igualmente, algumas hesitações e contradições, mas, depois dos ensinamentos de Pitágoras, de algumas descobertas astronômicas e das especulações cosmológicas dos filósofos Leucipo e Demócrito, respectivamente dos fins do século VI e fins do V a.e.c, se chegou à conclusão de que a Terra era uma esfera e, em conseqüência, o Hades subterrâneo e a localização da Ilha dos Bem-Aventurados no extremo Ocidente deixaram “cientificamente” de ter sentido. O próprio Pitágoras, numa sentença, afirma que a “Ilha dos Bem-Aventurados eram o Sol e a Lua”, ainda que a própria catábase do grande místico e matemático, porque também ele teria visitado o reino dos mortos, pressupunha um Hades localizado nas entranhas da Terra. A idéia de se colocar o “céu” lá no alto, na Lua, no Éter, no Sol ou nas Estrelas, tinha sua lógica, uma vez que, ao menos desde o século V a.e.c., se considerava que a substância da alma era aparentada com o Éter ou com a substância das estrelas. A localização homérica do Hades nas entranhas da Terra, entretanto, era tradicional e forte demais para que o povo lhe alterasse a geografia.
Feita esta ligeira introdução ao velho e novo Hades, vamos finalmente acompanhar “um órfico” até lá embaixo e observar o que lhe acontece. Nossa primeira fonte será Platão, que, desprezando a tradição mitológica clássica e “estatal”, fundamentada em Homero e Hesíodo, organizou uma mitologia da alma, com base na doutrina órfico-pitagórica e em certas fontes orientais.
A segunda serão as importantíssimas lamelas, pequenas lâminas ou placas de ouro, descobertas na Itália meridional e na Ilha de Creta.
Essas lamelas foram encontradas em túmulos órficos, nas cidades de Túrio e Petélia, na Magna Graecia, e datam dos séculos IV e III a.e.c., bem como em Eleuterna, na Ilha de Creta, séculos II-I a.e.c., e possivelmente em Roma, século II e.c.
Apesar das diferenças de época e de procedência, as fórmulas nelas gravadas têm, com diferenças mínimas, conteúdo idêntico. É quase certo que procedem de um mesmo texto poético, que deveria ser familiar a todos os órficos, como uma espécie de norma de sua dogmática escatológica, o que os distinguia do comum dos homens e traduzia sua fé na salvação final, a salvação da alma. A obsessão dos iniciados órficos pela salvação os teria levado a depositar nos túmulos de seus mortos não o texto inteiro, mas ao menos fragmentos escolhidos, certas mensagens e preceitos que lhes pareciam mais importantes do cânon escatológico. Tais fórmulas serviam-lhes certamente de bússola, de “guia para sair à luz”, como o impropriamente chamado Livro dos Mortos dos antigos egípcios, como o Bardo Thödol tibetano e o Livro Maia dos Mortos.
Voltemos, porém, à “viagem” órfica.
O ritual “separatista” se iniciava pelo sepultamento: um órfico não se podia inumar com indumentária de lã, porque não se deviam sacrificar os animais.
Realizada a cerimônia fúnebre, com simplicidade e alegria, afinal “as lágrimas se reservavam no Orfismo para os nascimentos”, a alma iniciava seu longo e perigoso itinerário em busca do “seio de Perséfone”. No Fédon (108a) e no Górgias (524a) de Platão se diz queocaminho não é um só nem simples, porque vários são os desvios e muitos os obstáculos: “A mim, todavia, quer me parecer que ele não é simples, nem um só, pois, se houvesse uma só rota para se ir ao Hades, não era necessária a existência de guias, já que ninguém poderia errar a direção. Mas é evidente que esse caminho contém muitas encruzilhadas e voltas: a prova disso são os cultos e costumes religiosos que temos” (Fédon, 108a). A República (614b) deixa claro que os justos tomam a entrada da direita, enquanto os maus são enviados para a esquerda. As lamelas contêm indicações análogas: “Sejas bem- vindo, tu que caminhas pela estrada da direita cm direção às campinas sagradas e ao bosque de Perséfone”. A alma é bem orientada em seu trajeto: “À esquerda da mansão do Hades, depararás com uma fonte a cujo lado se ergue um cipreste branco. Não te aproximes muito dessa fonte. Encontrarás, a seguir, outra fonte: a água fresca jorra da fonte da Memória e lá existem guardas de sentinela. Dize-lhes: ‘Sou filho de Géia e de Urano estrelado, bem o sabeis. Estou, todavia, sedento e sinto que vou morrer. Dai-me, rapidamente, da água fresca que jorra da fonte da Memória’. Os guardas prontamente te darão água da fonte sagrada e, em seguida, reinarás entre os outros heróis”. As almas que se dirigiam ao Hades bebiam das águas do rio Lete, a fim de esquecer suas existências terrenas. Os órficos, todavia, na esperança de escapar da reencarnação, evitavam o Lete e buscavam a fonte da Memória. Uma das lamelas deixa claro esse fato: “Saltei do ciclo dos pesados sofrimentos e das dores e lancei-me com pé ligeiro em direção à coroa almejada. Encontrei refúgio no seio da Senhora, a rainha do Hades”. Perséfone responde-lhe: “Ó feliz e bem-aventurado! Eras homem e te tornaste deus”. No início da lamela há uma passagem significativa. Dirigindo-se aos deuses ctônios, diz o iniciado: “Venho de uma comunidade de puros, ó pura senhora do Hades, Eucles, Eubuleu81 e vós outros, deuses ctônios. Orgulho-me de pertencer à vossa raça bem-aventurada”.
A sede da alma, comum a tantas culturas, configura não apenas refrigério, pelo longo caminhar da mesma em direção à outra vida, mas sobretudo simboliza a ressurreição, no sentido da passagem definitiva para um mundo melhor. Nós conhecemos bem esta sede de água fresca, da água viva, através dos escritos neotestamentários de países de cultura grega (Jo 7,37; Ap 22,17). Evitando beber das águas do rio Lete, o rio do esquecimento, penhor de reencarnações, a alma estava apressando e forçando sua entrada definitiva no “seio de Perséfone”. Mas, se a alma tiver que regressar a novo corpo, terá forçosamente que tomar das águas do rio Lete, para apagar as lembranças do além. Se para os gregos “os mortos são aqueles que perderam a memória”, o esquecimento para os órficos não mais configura a morte, mas o retorno à vida. Desse modo, na doutrina de Orfeu, o rio Lete teve parte de suas funções prejudicadas. Bebendo na fonte da Memória, a alma órfica desejava apenas lembrar-se da bem-aventurança. O encontro de uma árvore, no caso o cipreste branco, símbolo da luz e da pureza, junto a uma fonte, a fonte da Memória, é uma imagem comum do Paraíso, em muitas culturas primitivas. Na Mesopotâmia, o rei, representante dos deuses na Terra, vivera junto aos imortais, em um jardim fabuloso, onde se localizava a Árvore da Vida e a Água da Vida. Seria conveniente não nos esquecermos de que em grego, (parádeisos), fonte primeira de paraíso, significava também jardim. E ao que consta, o Jardim do Éden estava cheio de árvores e de fontes… Esse Jardim do Éden (Gn 13,10; Jl 2,3), simbolizando o máximo de felicidade e sendo equiparado ao Jardim de Deus (Is 51,3; Ez 31,8-9). Semelhante jardim concretiza os ideais da futura restauração (Ez 36,35), da felicidade escatológica, que era considerada como um retorno à bem-aventurança perdida dos tempos primordiais. Passemos, agora, a acompanhar outra alma, que talvez tenha tomado a entrada da esquerda ou tenha vindo muito “carregada” do mundo dos vivos. Os sofrimentos que pesavam sobre aqueles que haviam partido desta vida com muitas faltas são vivamente desenhados por Platão, por uma passagem de Aristófanes, pelo neoplatônico Plotino e até mesmo pela arte figurada. “Mergulhados no lodaçal imundo, ser-lhes-á infligido um suplício apropriado à sua poluição moral” (República, I, 363d; Fédon, 69c); “esvair-se-ão em inúteis esforços para encher um barril sem fundo ou para carregar água numa peneira” 82 (Górgias, 493b; República, 363e); “como porcos agrada-lhes chafurdar na imundície” (Enéadas, I, 6, 6). Aristófanes, num passo da comédia As Rãs, 145sqq., descreve, pelos lábios de Héracles, o que aguarda certos criminosos na outra vida: “Verás, depois, um lodaçal imundo e submersos nele todos os que faltaram ao dever da hospitalidade (…); os que espancaram a própria mãe; os que esbofetearam o próprio pai ou proferiram um falso juramento”.
Um exemplo famoso dos tormentos aplicados no Hades é a pintura do inferno com que o grande artista do século V a.e.c., Polignoto, decorou a (Léskhe), “galera, pórtico”, de Delfos: nela se via, entre outras coisas, um parricida estrangulado pelo próprio pai; um ladrão sacrílego sendo obrigado a beber veneno e Eurínomo (uma espécie de “demônio”, segundo Pausânias, metade negro e metade azul, como um moscardo) está sentado num abutre, mostrando seus dentes enormes em sarcástica gargalhada e roendo “as carnes dos ossos” dos mortos.
Todos esses criminosos e sacrílegos estavam condenados a passar por penosas metempsicoses. Diga-se, logo, que é, até o momento, muito difícil detectar a origem e a fonte de tal crença. Na Grécia, o primeiro a sustentá-la e, possivelmente, a defendê-la foi o mitógrafo e teogonista Ferecides de Siros (séc. VI a.e.c.), que não deve ser confundido com seus homônimos, o genealogista Ferecides de Atenas (séc. V a.e.c.) e Ferecides de Leros, posterior e muito menos famoso que os dois anteriores. Apoiando-se em crenças orientais, o mitógrafo de Siros afirmava que a alma era imortal e que retornava sucessivamente à Terra para reencarnar-se. No século de Ferecides, somente na Índia a crença na metempsicose estava claramente definida. É bem verdade que os egípcios consideravam, desde tempos imemoriais, a alma imortal e suscetível de assumir formas várias de animais vários, mas não se encontra na terra dos faraós uma teoria geral da metempsicose. Caso contrário, por que e para que a mumificação? De qualquer forma, as teorias de Ferecides não surtiram muito efeito no mundo grego. Os verdadeiros defensores, divulgadores e sistematizadores da “ensomatose” e da metempsicose foram o Orfismo, Pitágoras e seus discípulos, e o filósofo Empédocles. A alma, pois, não quite com suas culpas, regressava para reencarnar- se. O homem comum percorria o ciclo reencarnatário dez vezes e o intervalo entre um e outro renascimento era de mil anos, cifras que, no caso em pauta, são meros símbolos, que expressam não quantidades, mas sim idéias e qualidades, o que, aliás, se constitui na essência do número.
Finda a breve ou longa jornada, a alma podia finalmente dizer, como está gravado em uma das lamelas: “Sofri o castigo que mereciam minhas ações injustas (…). Venho, agora, como suplicante, para junto da resplandecente Perséfone, para que, em sua complacência, me envie para a mansão dos bem-aventurados”. A deusa acolhe o suplicante justificado com benevolência: “Bem-vindo sejas, ó tu que sofreste o que nunca havias sofrido anteriormente (…). Bem-vindo, bem-vindo sejas tu! Segue pela estrada da direita, em direção às campinas sagradas e aos bosques de Perséfone”.
Um fragmento da tragédia euripidiana (sempre Eurípides!), Os Cretenses (Frg. 472), atesta a presença na Ilha de Minos, terra das iniciações, da religião de Zagreu e, portanto, do Orfismo. O poeta nos apresenta um coro de adeptos de Zagreu, numa palavra, de iniciados órficos, que “erra na noite” e se alegra “por haver abandonado os repastos cruentos”: “Absolutamente puro em minha indumentária branca, fugi da geração dos mortais; evito os sepulcros e me abstenho de alimentos animais; santificado, recebi o nome de bákkhos”. Este nome, que é, ao mesmo tempo, o nome do deus, exprime a comunhão mística com a divindade, isto é, o núcleo e a essência da fé órfica. Bákkhos, Baco é, como se sabe, um dos nomes de Dioniso, que era, exatamente, sob seu aspecto orgiástico, a divindade mais importante dos órficos. Nome esotérico e sagrado, bákkhos, “baco”, servirá para distinguir o verdadeiro místico, o verdadeiro órfico, o órfico que conseguiu libertar-se de uma vez dos liames do cárcere do corpo.
O Orfismo tudo fez para impor-se ao espírito grego. De saída, tentou romper com um princípio básico da religião estatal, a secular maldição familiar, segundo a qual, como já se comentou no Vol. I, p. 76-81, cada membro do génos era co- responsável e herdeiro das hamartías, das faltas cometidas por qualquer um de seus membros. Os órficos solucionaram o problema de modo original: a culpa é sempre de responsabilidade individual e por ela (e foi a primeira vez que a idéia surgiu na Grécia) se paga aqui; quem não conseguir purgar-se nesta vida, pagará por suas faltas no além e nas outras reencarnações, até a catarse final. Mas, diante do citaredo trácio erguia-se a pólis com sua religião tradicional, com suas criações artísticas de beleza inexcedível e, mais que tudo, com seu sacerdote e poeta divino, Homero. É bem verdade que, desde o início, o Orfismo pediu socorro às Musas e Orfeu tentou modelar-se sobre a personagem do criador da epopéia, tornando-se também, em suas rapsódias e hinos, poeta e cantor, mas a distância entre Homero e Orfeu é aquela mesma estabelecida por Hesíodo entre o Olimpo e o Tártaro… E mais uma vez a Ásia curvou-se diante da Hélade! Foi, não há dúvida, mais uma vitória da cultura que da religião, mas, com isso, o Orfismo jamais passaria, na Grécia, de uma “seita”, de uma confraria. Foi uma pena!
Na expressão feliz de Joseph Holzner83, é difícil precisar em seus pormenores em que consiste a missão da Grécia na história da salvação e qual foi a influência providencial dos Mistérios. Talvez essa missão se encontre menos em minúcias precisas do que no todo da mentalidade helênica. K. Prümm não se equivocou ao afirmar que “a história do desenvolvimento espiritual da humanidade, apesar de seus saltos e tropeços, apesar de sua descontinuidade, segue um plano estabelecido por Deus”. No fundo deste plano existe um projeto de salvação. O Cardeal Newman, na história do desenvolvimento da doutrina cristã, insiste no papel providencial dos Mistérios: “As transformações na história são, as mais das vezes, preparadas e facilitadas por uma disposição providencial, pela presença de certas correntes do pensamento e sentimentos humanos, que apontam o rumo da futura transformação (…). Foi isto exatamente o que aconteceu com o cristianismo, como exigia sua alta transcendência. O cristianismo chegou, anunciado, acompanhado e preparado por uma multidão de sombras, impotentes e monstruosas, como são todas as sombras…”. Os que acreditam seriamente na vontade salvífica universal de Deus devem admitir que o Senhor não podia permanecer indiferente aos inúmeros esforços, muitas vezes sinceros, desses gregos que foram educados nos Mistérios. Os gregos, realmente, não tiveram os deuses que mereciam. Esse povo extraordinário teve sede de amor e submeteu-se, por isso mesmo, às exigências arbitrárias de seus deuses. Foi, no entanto, enganado e traído por eles. Desse modo, do ponto de vista religioso, a era helênica terminou profundamente decepcionada. A antigüidade, já em seu declínio, retratou sua própria alma no mito gracioso e profundo de Eros e Psiqué. A Psiqué grega, que buscou por todos os caminhos, no céu, na terra e nos infernos, o único alimento que podia satisfazer sua fome de amor, o amor divino.
Mais um pouco, e as sombras, de que fala o Cardeal Newman, haveriam de dissipar-se com os raios do Novo Sol, que brilharia intensamente também no céu azul da Hélade. No Olimpo, Psiqué celebrará suas núpcias com Eros.
Repetindo, mais uma vez, o pensamento lúcido de Jean Daniélou, S.J., segundo quem uma coisa é a revelação e outra o modo como esta revelação foi transmitida pelos escritores sacros, haurida, em grande parte, nas civilizações antigas (e particularmente na grega, acrescentaríamos) é que se pode avaliar bem os significantes com que o Orfismo contribuiu para a formação do cristianismo nascente.
A lenda grega ornamentou simbolicamente Orfeu com o nimbo da santidade. Nas pinturas das catacumbas romanas ele aparece sob a figura de citaredo e de cantor do amor divino. Nos mosaicos do mausoléu de Gala Placídia, em Ravena, é representado como Bom-Pastor. Uma antiga cena de Crucificação chega mesmo a chamar Cristo de “Orfeu báquico”.
A alma grega, realmente, não podia suportar a ruptura entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses, um mundo que entrega o homem à morte e proclama a imortalidade dos deuses. Eis por que tanto se lutou na Grécia órfico- pitagórico-platônica pela imortalidade da alma. É que, existindo no homem aquele elemento divino, aquela faísca de eternidade, de que tanto se falou, é preciso libertá-la, constituindo-se essa liberação no tema central dos mistérios gregos. Não há dúvida de que a gnose é filha bastarda da antiguidade helênica: a alma, como diz Berdiaev deve forçosamente retornar à sua pátria eterna.
Além da óbvia influência sobre Píndaro e sobretudo, juntamente com o Pitagoricismo, sobre a gigantesca síntese platônica da nova “mitologia da alma”, o Orfismo chegou até os primeiros séculos da era cristã, ainda com muita vitalidade. Em seguida, foi-se apagando lentamente, mas Orfeu, mesmo independente do Orfismo, teve sua figura reinterpretada “pelos teólogos judaicos e cristãos, pelos hermetistas, pelos filósofos do Renascimento, pelos poetas, desde Poliziano até Pope, e desde Novalis até Rilke e Pierre Emmanuel”. Também nós, de língua portuguesa, tivemos a nossa reinterpretação do mito de Orfeu e Eurídice: trata-se da tragédia de Vinícius de Moraes, Orfeu da Conceição.
Em homenagem ao poeta carioca, vamos transcrever, do Segundo Ato, um suspiro do violão de Orfeu em busca de sua bem-amada.
Enlouquecido com a morte de Eurídice, Orfeu desce o morro e chega à Cidade, quer dizer, ao Inferno: era dia de Carnaval. “Plutão”, possivelmente diretor do clube “Os Maiorais do Inferno”, expulsa-o, para que o poeta e cantor não perturbe a folia.
Vejamos uma fala da personagem principal de Vinícius, que bem lhe caracteriza a catábase, do morro para a cidade:
Orfeu:
“Não sou daqui, sou do morro. Sou o músico do morro. No morro sou conhecido — sou a vida do morro. Eurídice morreu. Desci à cidade para buscar Eurídice, a mulher do meu coração. Há muitos dias busco Eurídice. Todo o mundo canta, todo o mundo bebe: ninguém sabe onde Eurídice está. Eu quero Eurídice, a minha noiva morta, a que morreu por amor de mim. Sem Eurídice não posso viver. Sem Eurídice não há Orfeu, não há música, não há nada. O morro parou, tudo se esqueceu. O que resta de vida é a esperança de Orfeu ver Eurídice nem que seja pela última vez!”

Lúcio Aneu Sêneca ficaria satisfeito em saber que ainda hoje falamos a seu respeito. Diferentemente de muitos de seus colegas estoicos, que escreveram sobre a inutilidade da fama póstuma, Sêneca ansiava por isso, trabalhava por isso, atuava por isso, até os momentos finais de sua vida e o suicídio teatral que rivalizaria com o de Catão. Ao contrário de Jesus, que provavelmente nasceu no mesmo ano que Sêneca em uma província igualmente remota do Império Romano, havia pouca mansidão ou humildade em Sêneca. Em vez disso, havia ambição, talento e uma sede de poder que não apenas rivalizava, como chegava a superar a de Cícero.
Seus contemporâneos talvez achassem Cícero melhor escritor e orador, mas Sêneca é muito mais lido atualmente, e por um bom motivo. Ninguém escreveu de forma mais convincente e acessível sobre os conflitos de um ser humano no mundo — o desejo por tranqüilidade, significado, felicidade e sabedoria. O número de leitores dos ensaios e das cartas que Sêneca escreveu em sua longa vida não apenas superou o de Cícero, como [231] também, a longo prazo, provavelmente o de todos os outros estoicos combinados.
Da forma como ele sempre desejou.
Nascido por volta de 4 a.e.c. em Corduba, Espanha (atual Córdoba), filho de um rico e instruído escritor (conhecido na história como Sêneca, o velho), Sêneca, o jovem, estava destinado a grandes feitos desde o nascimento. Assim como estavam seus irmãos, Novato, que se tornou governador, e Mela, cujo filho, Lucano, deu continuidade à tradição de escrita da família.
Chegando ao mundo perto do fim do reinado de Augusto, Sêneca foi o primeiro grande estoico sem nenhuma experiência direta em Roma durante a República. Sêneca conhecia apenas o Império; ele viveria durante os reinados dos cinco primeiros imperadores. Ele nunca respirou a liberdade das libertas romanas que Catão e seus predecessores desfrutaram. Em vez disso, passou a vida inteira tentando manobrar dentro dos turbulentos regimes judiciais de um poder cada vez mais autocrático e imprevisível.
Mesmo assim, apesar de todas essas mudanças, a infância de Sêneca foi mais ou menos idêntica à dos filósofos que o precederam. Seu pai escolheu Átalo, o estoico, para ser seu mestre, em particular pela reputação de eloqüência, desejando imbuir o filho não apenas de uma mente justa, como também torná-lo capaz de comunicar as idéias de maneira clara e convincente na vida romana. O jovem começou a estudar com gosto — segundo o próprio Sêneca, quando criança, ele “cercava” a sala de aula com prazer, e era o primeiro a entrar e o último a sair. Sabemos que Átalo não tolerava os “posseiros”, o tipo de aluno que só ficava sentado pelos cantos escutando ou, na melhor das [232] hipóteses, fazia anotações para memorizar e repetir o que ouviu durante as aulas. Em vez disso, a educação devia ser um processo prático, com debates e discussões, que envolvia tanto o professor quanto o aluno. “Mestre e aluno devem possuir o mesmo propósito”, disse Átalo sobre os seus métodos: “De um lado, a ambição de promover e, do outro, a de progredir.”
Por progresso, Átalo tinha em mente mais do que apenas boas notas e aparente eloqüência. Sua instrução era tanto moral quanto acadêmica, e ele discorria longamente com seu promissor jovem discípulo sobre “pecado, erros e os males da vida”. Ele era um defensor da virtude estoica da temperança, e incutiu em Sêneca hábitos de moderação no comer e no beber, algo que seguiria pelo resto da vida, levando-o a abandonar as ostras e os cogumelos, duas iguarias romanas. Ele zombava da pompa e do luxo como prazeres passageiros que não contribuíam para a felicidade duradoura. “Se deseja se equiparar a Júpiter, você não deve ansiar por nada”, disse Átalo para Sêneca, “pois Júpiter não anseia por nada... Aprenda a se contentar com pouco e a se manifestar com coragem e grandeza de alma.”
Mas a lição mais poderosa que Sêneca aprendeu com Átalo foi o desejo de se aperfeiçoar de maneira prática, no mundo real. O propósito de estudar filosofia, conforme aprendeu com seu amado mestre, era “tirar algo de bom todos os dias e voltar para casa um homem mais completo, ou a caminho de se tornar mais completo”.
Como inúmeros jovens desde então, Sêneca experimentou diferentes escolas e idéias, encontrando valor no estoicismo e nos ensinamentos de um filósofo chamado Sexto. Ele leu e debateu os escritos de Epicuro, de uma escola supostamente [233] rival. Explorou os ensinamentos de Pitágoras e até se tornou vegetariano por algum tempo, de acordo com os ensinamentos pitagóricos. É um crédito para o pai de Sêneca, e um lembrete a todos os pais desde então, o fato de ele ter sido paciente e indulgente com esse período do filho, incentivando uma variedade de estudos. Pode demorar um pouco para que os jovens precoces encontrem o próprio caminho, e forçá-los a limitar a curiosidade é conveniente, mas muitas vezes pode sair caro.
O que Sêneca estava fazendo era desenvolver uma gama de interesses e experiências que mais tarde o capacitariam a criar as próprias práticas. Com Sexto, por exemplo, descobriu os benefícios de passar alguns minutos à noite antes de dormir escrevendo em um diário, e aliou isso ao tipo de reflexão moral investigativa que Atalo lhe ensinara. “Eu me valho desse privilégio”, escreveria mais tarde sobre a sua prática de manter registros, “e todos os dias defendo a minha causa perante meu próprio eu. Quando a luz do dia se esvai e minha esposa, há muito consciente de meu hábito, fica em silêncio, examino todo o meu dia e reconstituo os meus atos e as minhas palavras. Não escondo nada de mim mesmo, não omito nada. Pois, por que eu deveria recuar diante de qualquer um de meus erros, quando posso comungar assim comigo mesmo?”
Essa característica de Sêneca, seu compromisso sincero com o autoaperfeiçoamento — firme, embora gentil (“Não faça isso de novo”, dizia a si mesmo, “mas agora eu o perdoo”) —, era [234] apreciada por seus professores e, evidentemente, encorajada. Mas eles também sabiam o motivo de terem sido contratados e que o pai, que não era fã da filosofia, fazia esse investimento a fim de treinar o filho para uma carreira política atuante e ambiciosa. Portanto, esse treinamento moral foi contrabalançado por uma rigorosa instrução da lei, da retórica e do pensamento crítico. Em Roma, um jovem advogado promissor podia comparecer ao tribunal já aos dezessete anos, e resta pouca dúvida de que Sêneca estava pronto no momento em que se tornou legalmente capaz.
No entanto, com apenas alguns anos naquela carreira promissora, ainda com vinte e poucos anos, a saúde de Sêneca quase pôs tudo a perder. Ele sempre enfrentara uma doença pulmonar, provavelmente tuberculose, mas algum tipo de surto em 20 e.c. forçou-o a fazer uma longa viagem ao Egito para se recuperar.
A vida toma nossos planos e os despedaça. Como Sêneca escreveria tempos depois, nunca devemos subestimar o hábito do destino de se comportar da maneira como ele deseja. Só por que damos duro, só porque somos promissores e nosso caminho para o sucesso está aberto, isso não significa que conseguiremos o que queremos.
Sêneca certamente não conseguiria. Passaria cerca de dez anos em Alexandria, convalescendo. Embora não pudesse controlar isso, podia decidir como gastar seu tempo. Então, passou aquela década escrevendo, lendo e se recuperando. Seu tio, Gaio Galério, exercia a função de prefeito do Egito, e podemos supor que foi assim que Sêneca viu em primeira mão como funcionava o poder. Também podemos imaginá-lo desejando e planejando um retorno. [235]
Enquanto estava longe, as notícias que Sêneca recebeu prenunciariam a trajetória de sua vida. Atalo entrara em conflito com Tibério, o imperador, que confiscara sua propriedade e o banira de Roma. O amado mestre de Sêneca passaria o resto de seus anos no exílio, cavando valas para sobreviver. Sêneca aprendeu que ser filósofo na Roma imperial era viver perigosamente, aceitar que as Parcas eram caprichosas e a Fortuna poderia ser cruel.
Seu retorno a Roma, aos 35 anos, em 31 e.c., apenas reforçaria essa última lição: na viagem de volta para casa, seu tio morre em um naufrágio. Sêneca também chegou a tempo de presenciar a condenação de Sejano, que fora um dos comandantes e conselheiros militares de maior confiança de Tibério, pelo Senado, e seu linchamento pela multidão nas ruas. Era uma época de paranoia, violência e turbulência política. Nesse redemoinho, Sêneca assumiu seu primeiro cargo público, pois suas ligações familiares lhe garantiram a posição de questor.
Sêneca manteve-se discreto durante o reinado de Tibério, que durou até 37 e.c., e igualmente durante o de Caligula, consideravelmente mais curto, embora violento na mesma medida. Posteriormente, em seu livro Sobre a tranqüilidade da mente, Sêneca contaria a história de um filósofo estoico a quem admirava, chamado Júlio Cano, condenado à morte ao se opor a Caligula. Enquanto esperava a execução, Cano aproveitou para jogar uma partida de xadrez com um amigo. Quando o guarda foi buscá-lo, ele brincou: “Você é testemunha de que eu tinha uma peça de vantagem."
Sêneca observou não apenas o brilhantismo filosófico da piada, mas também o tipo de fama conferida ao seu autor naquela época aterrorizante. [236]
Era fácil para ele se enxergar no lugar de Cano, pois também andara na corda bamba, entre a vida e a morte, sob o reinado daquele soberano tão instável.
De acordo com Dião Cássio, Sêneca foi salvo da execução — por qual crime, não sabemos — apenas devido à sua saúde precária.
Sêneca, que era superior em sabedoria a todos os romanos de sua época e de muitas outras também, quase foi destruído, embora não tivesse feito nada de errado nem aparentasse estar fazendo, apenas por defender bem um caso no Senado enquanto o imperador estava presente. Caligula ordenou que ele fosse condenado à morte, mas depois o perdoou por acreditar na afirmação de uma de suas companheiras, a de que Sêneca estava com tuberculose em estágio avançado e morreria em pouco tempo.
Foi sair da frigideira e entrar no fogo. Em menos de dois anos, Sêneca perderia o pai (em 39 e.c., aos 92 anos), se casaria (em 40 e.c.) e, em seguida, perderia o filho primogênito (em 40-41 e.c.). Então, vinte dias depois de enterrar o filho, seria banido de Roma por Cláudio, o sucessor de Caligula.
Por quê? Não sabemos ao certo. Seria uma perseguição velada aos filósofos? Em seu luto, Sêneca teria tido um caso com Júlia Lívila, irmã de Agripina? O registro é obscuro e, tal como os escândalos de nossa época, repleto de boatos, interesses e relatos conflitantes. De qualquer modo, Sêneca foi processado por adultério e, em 41 e.c., aos 45 anos, esse pai e filho enlutado foi exilado para a distante ilha de Córsega. Mais uma vez, sua carreira promissora era interrompida pelo destino. [237]
Assim como sua década no Egito, este seria um longo perío do longe de Roma — oito anos — e, embora ele tenha começado produzindo bem (escreveu Consolação a Poltbio, Consolação a minha mãe Hélvia e Sobre a ira em um curto espaço de tempo), o isolamento começaria a abatê-lo. Logo, o homem que pouco antes escrevia consolações para outras pessoas passou a precisar de algum consolo para si mesmo.
Ele estava com raiva, como qualquer pessoa estaria, mas, em vez de ceder ao sentimento, canalizou a energia em um livro sobre o tema, De Ira (ou Sobre a ira), que dedicou ao irmão. É um livro belo e comovente, sem dúvida dirigido tanto a si mesmo quanto ao leitor. “Não ande com os ignorantes”, escreveu. “Fale somente a verdade, mas apenas àqueles que podem lidar com ela.” “Vá embora e ria... Espere sofrer muito.” Esse tipo de monólogo particular no estoicismo remonta a Cleantes, mas Sêneca o aplicava a uma das situações mais estressantes que se possa imaginar: ser privado do convívio de seus amigos e familiares, uma condenação injusta, o roubo de anos valiosos de sua vida.
Um dos temas mais comuns nas cartas e nos ensaios de Sêneca desse período é a morte. Convivendo com a tuberculose desde muito jovem — a certa altura chegando a contemplar o suicídio —, ele não conseguia deixar de pensar e escrever sobre o ato derradeiro da vida. “Preparemos nossa mente como se tivéssemos chegado ao fim da vida”, lembrou a si mesmo. “Não adiemos nada. Façamos o balanço dos livros da vida todos os dias... Nunca falta tempo para aquele que diariamente dá os retoques finais em sua vida.” Enquanto estava no exílio, ele consolava o sogro, um homem que acabara de perder o emprego como supervisor do suprimento de grãos de Roma: “Acredite, é melhor fazer o balanço de nossa vida do que do mercado de grãos." [238]
O mais interessante é que ele questionou a ideia de que a morte era algo que estava à nossa frente em um futuro incerto. “Este é nosso grande erro”, escreveu Sêneca, “pensar que a morte está mais adiante. A maior parte da morte já passou. Todo o tempo passado pertence à morte.” Foi isso que ele percebeu, que estamos morrendo a cada dia e que nenhum dia, uma vez morto, pode ser revivido.
Deve ter sido uma percepção particularmente dolorosa para um homem que apenas via passar os anos de sua vida — pela segunda vez — devido a acontecimentos fora de seu controle. Podia não ser estoico se desesperar com isso, mas certamente era muito humano.
Em uma peça que Sêneca escreveu no fim da vida, sem dúvida por experiência própria, ele capturou quão caprichoso e aleatório pode ser o Destino:
Se o amanhecer vê alguém orgulhoso,
O fim do dia o vê abatido.
Ninguém deve confiar demais no triunfo, Ninguém deve perder a esperança de melhora. Cloto mistura uma coisa à outra e impedeA Fortuna de descansar, tecendo os destinos ao redor. Ninguém teve tanto favor divino
Que o possa garantir amanhã.
O Divino mantém nossa vida em movimento, Girando em um redemoinho.
O Destino o fizera nascer rico e dera-lhe grandes mestres. Também enfraquecera sua saúde e o obrigara a se exilar injustamente duas vezes, no momento em que sua carreira estava decolando. [239] Durante toda a vida, a Fortuna se comportou exatamente como quis. Para ele, como para nós, trouxe sucesso e fracasso, dor e prazer... em geral de formas como ele não esperava.
Mal sabia Sêneca, em 50 e.c., que aquilo voltaria a acontecer. Suas provações estavam a ponto de melhorar, e sua vida, prestes a se tornar um turbilhão que a história ainda não desvendou inteiramente.
Agripina, bisneta de Augusto, tinha grandes ambições para seu filho de doze anos, Nero. Ao se casar com Cláudio, sucessor de Caligula, em 49 e.c., convenceu-o a adotar Nero, e uma de suas primeiras medidas como imperatriz foi persuadir Cláudio a convocar Sêneca de Corduba para servir como tutor de seu filho. Desejando que ele um dia se tornasse imperador, ela queria que Nero tivesse acesso ao cérebro político, retórico e filosófico de Sêneca.
De repente, aos 53 anos, Sêneca, havia muito uma figura subversiva, embora marginalizada, ascendeu ao centro da corte imperial romana. Uma vida inteira de esforço e ambição finalmente produzira o benfeitor definitivo, e toda a família de Sêneca estava pronta para tirar vantagem disso.
O que Sêneca ensinou ao jovem Nero? Ironicamente, assim como seu pai contratara Atalo para mentorear Sêneca em basicamente tudo, exceto filosofia, Agripina queria que Sêneca ensinas se estratégia política a Nero, não estoicismo. As lições de Sêneca envolveriam lei e oratória — como argumentar e como traçar estratégias. Quaisquer princípios estoicos em suas aulas teriam que ser disfarçados como legumes grelhados no bolinho de uma criança ou açúcar para camuflar o gosto amargo do remédio.
Como Ario e Atenodoro com Otaviano, Sêneca estava preparando o menino para uma das tarefas mais difíceis do mundo: [240] usar a púrpura imperial. Nos tempos da República, os romanos desconfiavam do poder absoluto. Agora, porém, o trabalho de Sêneca era ensinar alguém a alcançá-lo. Apenas algumas gerações antes, os estoicos haviam sido defensores fervorosos dos ideais republicanos (Catão era um dos heróis de Sêneca), mas, com a morte de Augusto, muitas dessas objeções se tornaram inúteis. Como escreveu Emily Wilson, tradutora e biógrafa de Sêneca: “Cícero achava que realmente poderia derrotar César e Marco Antônio. Sêneca, ao contrário, não tinha ilusões de que conseguiria algo por oposição direta a quaisquer dos imperadores sob os quais viveu. O melhor que podia esperar era moderar algumas das piores tendências de Nero e maximizar seu senso de autonomia.”
Isso sem dúvida faz sentido, mas a questão permanece: Um Sêneca mais esperançoso poderia ter exercido mais impacto? Ou aceitar a própria impotência em mudar o statu quo se torna uma profecia que se cumpre?
Sêneca acreditava que um estoico tinha a obrigação de servir ao país — nesse caso, um Império que já passara por quatro imperadores — da melhor maneira possível, e certamente ele estava disposto a aceitar qualquer papel para escapar daquela maldita ilha na qual fora exilado.
Ele sabia a barganha faustiana que aquilo se revelaria? Havia indícios. Nero não parecia se importar com os estudos — ao menos, não como Otaviano — e parecia desejar mais ser músico e ator do que imperador. Ele era autoritário e cruel, mimado e se distraía facilmente. Essas não eram características auspiciosas. Mas a alternativa a Nero era retornar ao exílio na Córsega.
Em 54 e.c., quase cinco anos depois de Sêneca ter chegado à corte, Agripina tramou a morte do marido, Cláudio, assassinado [241] pela ingestão de cogumelos venenosos. Nero tornou-se imperador aos dezesseis anos, e Sêneca foi convidado a escrever os discursos que Nero faria para convencer Roma de que não era insanidade total dar àquela criança diletante poderes quase divinos sobre milhões de pessoas.
Como se o poder absoluto não fosse corruptor o suficiente, ficou óbvio que Nero testemunhara algumas primeiras lições sórdidas de sua mãe e de seu pai adotivo. Como professor e mentor, Sêneca tentou uma correção de curso. Uma das primeiras coisas que deu ao novo imperador foi uma obra que compôs intitulada De Clementia (ou Sobre a clemência), que traçava um caminho “para o bom rei” e ele esperava que Nero seguisse. Embora clemência e misericórdia hoje possam parecer conceitos óbvios, na época foi um conselho bastante revolucionário.
Robert A. Raster, o estudioso dos clássicos, observa que não havia nenhuma palavra grega para clemência. Os filósofos falavam de comedimento e moderação, mas Sêneca falava de algo mais profundo e inédito: o que alguém faz com o poder. Particularmente, como os poderosos devem tratar alguém sem poder, porque isso revela quem eles são. Como explicou Sêneca: “Ninguém poderá pensar em algo mais adequado para um governante do que a clemência, não importa que tipo de governante ele seja e em quais termos foi colocado no comando de outros.
Era uma lição dirigida a Nero, assim como a todos os líderes que um dia leriam o ensaio. Um olhar rápido pela história confirma [242] que o mundo seria um lugar melhor se houvesse mais clemência. O problema é fazer com que os líderes entendam isso.
A dinâmica entre Sêneca e Nero é interessante porque é evidente que evoluiu — ou melhor, involuiu — com o tempo. Mas sua essência talvez seja mais bem capturada em uma estátua de ambos os personagens feita pelo escultor espanhol Eduardo Barron, em 1904. Apesar de ter sido construída cerca de dezoito séculos após o episódio, retrata uma cena que apresenta os elementos atemporais do caráter de ambos os personagens. Sêneca, muito mais velho, está sentado com as pernas cruzadas, envolto em uma linda toga, embora sem adornos. Desenrolado sobre o seu colo e sobre um banco simples, está um texto que ele escreveu. Talvez seja um discurso. Talvez seja uma lei em debate no Senado. Talvez seja o próprio texto do De Clementia. Seus dedos indicam um ponto no texto. Sua linguagem corporal é receptiva. Ele está tentando incutir em seu jovem pupilo a seriedade das tarefas que tem pela frente.
Sentado diante de Sêneca, Nero é, em todos os sentidos, quase o oposto de seu conselheiro. Está encapuzado, acomodado em uma cadeira semelhante a um trono. Um cobertor elegante repousa nas suas costas. Ele usa joias. Sua expressão é tensa. Ambos os punhos estão cerrados, e um repousa sobre a têmpora como se não conseguisse se forçar a prestar atenção. Está olhando para o chão. Seus pés estão cruzados na altura dos tornozelos. Ele sabe que deveria estar escutando, mas não está. Preferia estar em qualquer outro lugar. Pensa: Em breve não terei mais de suportar essas lições. Então, poderei fazer o que quiser.
Sêneca enxerga bem essa linguagem corporal, e, ainda assim, prossegue. Como prosseguiria ainda por muitos anos. Por quê? Porque ele esperava que alguma coisa — qualquer coisa — fosse [243] absorvida. Porque ele sabia que havia muito em jogo. Porque ele sabia que seu trabalho era tentar ensinar Nero a ser bom (ele, literalmente, morreria tentando). E porque também jamais recusaria a chance de estar tão perto do poder, de causar tanto impacto.
No fim, Sêneca fez pouco progresso com Nero, um homem que o tempo logo revelaria ser louco e falho. Aquela sempre fora uma missão sem esperança? Será que a mão firme de Sêneca foi uma influência positiva — influência sem a qual Roma teria ficado ainda pior? Não há como saber. O que sabemos é que Sêneca tentou. É a velha lição: você pode levar um cavalo até a água, mas não pode obrigá-lo a beber. Você controla o que faz e diz, não o que as pessoas escutarão.
Tudo o que um estoico pode fazer é estar presente e fazer seu trabalho. Sêneca acreditava que aquela era sua obrigação, e ele claramente também desejava fazê-lo. Como escreveria tempos depois, a diferença entre os estoicos e os epicuristas era que os estoicos achavam que a política era um dever. “As duas seitas, os epicuristas e os estoicos, divergem na maioria das coisas”, escreveu Sêneca. “Epicuro diz: ‘O homem sábio não se envolverá nas questões públicas, exceto em uma emergência.' Zenão diz: ‘Ele se envolverá nas questões públicas, a menos que algo o impeça.”’
Nada o impedia — muito menos as próprias ambições —, de modo que Sêneca continuou tentando.
Fontes revelam que, durante os primeiros anos, Sêneca foi a mão firme. De acordo com contemporâneos, enquanto ele estava trabalhando com Burro, o líder militar também escolhido por Agripina, Roma foi, pela primeira vez em algum tempo, bem administrada. Em 55 e.c., o irmão de Sêneca, Gálio, foi nomea do cônsul. No ano seguinte, o próprio Sêneca ocupou a posição. [244]
Contudo, como diz o poema que Sêneca escreveu sobre o Destino, aquilo não duraria. Na verdade, essa parece ser uma constante na vida de Sêneca — que a paz e a estabilidade são frágeis e trespassadas, de forma bastante volúvel, por acontecimentos fora de seu controle. Movido pela paranoia e pela veia cruel que herdara da mãe, Nero começou a eliminar os rivais, a começar por seu irmão Britânico, que foi morto com veneno, da mesma forma que Cláudio. Ele renegou a mãe e começou a tramar sua morte — falhando diversas vezes ao tentar ministrar-lhe uma dose fatal de veneno. Um relato conta sobre uma tentativa de Nero de assassinar a mãe em um elaborado acidente de barco. Finalmente, por volta de 59 e.c., ele conseguiu o que queria.
Aquele Nero inicial, contido-embora-esperando, capturado por Barrón em sua estátua, estava agora liberto. Nas palavras de Tácito, ele não mais adiou crimes havia muito premeditados. Com o poder amadurecido e corroendo sua alma, ele poderia fazer o que quisesse, não importava quanto fosse perverso. Foi uma virada certamente percebida por Sêneca. Enquanto Ário aconselhara Augusto a eliminar o outro herdeiro, “Césares demais”, Sêneca precisou lembrar a Nero que era impossível até mesmo para o rei mais poderoso matar todos os sucessores. Alguém acabaria vindo em seguida. Mas Nero não lhe deu ouvidos e, por fim, matou todos os homens da linhagem Júlio-Claudiana.
Quando Nero não estava assassinando, ele também negligenciava a gestão do Império. Corria em carruagens em uma pista especial da qual gostava na periferia de Roma, forçando escravizados a observá-lo e aplaudi-lo. Ignorava o Estado para poder se apresentar no palco, cantando e dançando como um ator barato — fato que, segundo Suetônio, seus criados escondiam dele, não permitindo que ninguém “saísse do teatro mesmo pelos mais urgentes motivos".
Se Sêneca estava horrorizado, então por que não foi embora? Como podia participar de tamanho constrangimento?
Uma explicação é o medo. Durante toda a vida, ele vira imperadores assassinarem e banirem impunemente. Sentira a injustiça na pele mais de uma vez. A vingança imperial pairava sobre ele. Como relata Dião Cássio, “após a morte de Britânico, Sêneca e Burro não mais se dedicavam às questões públicas, e se deram por satisfeitos por poderem administrá-las com moderação e ainda preservar a vida”. Talvez ele tivesse pensado, como as pessoas fazem hoje em dia a respeito de líderes imperfeitos, que poderia fazer o bem através de Nero. Sêneca sempre procurou o lado bom das pessoas, mesmo em alguém tão obviamente mau quanto Nero. “Sejamos gentis uns com os outros”, escreveu certa vez. “Somos apenas pessoas más vivendo entre pessoas más. Só uma coisa pode nos trazer a paz: um pacto de clemência mútua.”Apesar de seus defeitos, talvez ele tenha visto algo em Nero, alguma bondade, que se perdeu no registro da história.
Ou talvez seu medo muito verdadeiro e esses pontos cegos tenham sido agravados pelas tentadoras vantagens da posição de Sêneca. Segundo o ditado, é difícil fazer alguém enxergar quando seu salário depende de que a pessoa não enxergue.
Sêneca enriqueceu e continuou a enriquecer sob o governo de Nero. Em poucos anos acumulou, principalmente por presentes de seu líder, uma fortuna de cerca de trezentos milhões de sestércios. Ele foi, sem dúvida, o estoico mais rico do mundo, possivelmente o mais rico que já existiu. Uma fonte observa que Sêneca possuía cerca de quinhentas mesas idênticas de madeira [246] cítrica com pernas de marfim, apenas por puro deleite. É uma imagem estranha, um filósofo estoico — descendente da escola frugal de Cleantes — dando festas no estilo de Gatsby financiadas pelos presentes de seu imperador assassino.
Embora a arte em geral apresente Sêneca com um corpo esguio e forte, sua verdadeira aparência sobrevive apenas sob a forma de uma estátua, datada do século III, que na verdade é um busto duplo de Sêneca e Sócrates. Sêneca amava Sócrates, maravilhando-se com o fato de que "havia trinta tiranos ao redor de Sócrates, e ainda assim eles não conseguiram quebrantar seu espírito”. Ambos trajam a toga clássica dos filósofos. Curiosamente, a de Sócrates envolve os dois ombros, enquanto o ombro direito de Sêneca está descoberto — talvez uma referência ao seu discurso sobre a necessidade de um homem perceber quão pouco necessita para ser feliz, pois são “as coisas supérfluas que desgastam as nossas togas". Mas a imagem também revela Sêneca como um homem mais velho que, evidentemente, desfrutou sua cota de banquetes suntuosos e engordara a serviço de Nero.
Muito do que sabemos sobre a opulência e a fortuna de Sêneca chegou até nós por um homem chamado P. Suílio, um senador romano cuja irritação com Sêneca vinha da suspeita de que o filósofo estivesse por trás do renascimento da Lex Cincia, uma lei cuja cláusula exigia que os advogados defendessem casos sem compensação. Embora a motivação de Suílio fosse suspeita a ponto de mais tarde ser condenado por graves acusações criminais e ser banido de Roma, havia ao menos alguma verdade em seus ataques escritos à hipocrisia de Sêneca. Até mesmo a resposta de Sêneca — em seu ensaio Sobre a vida feliz — parece estabelecer um padrão em que ele obviamente falhou: [247]
Parem, portanto, de proibir aos filósofos a posse de dinheiro; ninguém condenou a sabedoria à pobreza. O filósofo pode ter ampla riqueza, mas esta não terá sido arrancada de ninguém, nem manchada com o sangue de outra pessoa — riqueza adquirida sem dano a qualquer homem, sem negociação vil, e o gasto dela não será menos digno do que foi a sua aquisição; não fará nenhum homem reclamar, exceto o rancoroso.
Catão era rico. Cícero também. No entanto, nenhum deles enriqueceu servindo a alguém tão detestável quanto Nero. Ário e Atenodoro foram generosamente recompensados por seus serviços a Augusto... mas Augusto não matou a própria mãe. Catão emprestou a amigos boa parte de seu dinheiro, sem juros, e não parecia interessado em aumentar sua fortuna em benefício próprio. “Qual é o limite adequado para a riqueza?”, perguntaria Sêneca mais tarde, retoricamente. “E, primeiro, ter o que é necessário e, segundo, ter o que é suficiente.”
É evidente que ele tinha dificuldade com o conceito de suficiente. Ao longo de vários anos, emprestou algo como quarenta milhões de sestércios com altos juros para a colônia britânica de Roma. Foi uma jogada financeira agressiva e, quando a colônia entrou em colapso por causa da dívida, eclodiu uma rebelião brutal e violenta que acabou por ser reprimida pelas legiões romanas.
Sêneca disse que a riqueza de um filósofo não deveria ser manchada de sangue, mas é difícil não ver os respingos vermelhos na dele.
Por que Sêneca não conseguiu se conter? É estranho dizer que seu talento e seus brilhantismo eram os culpados, mas essa é a verdade — da mesma forma que para tantas pessoas [248] ambiciosas que acabam acumulando fama e fortuna controversas. Ele foi preparado para a grandeza desde o nascimento, e tinha a expectativa de se tornar um homem importante de seu tempo. Aproveitou todas as oportunidades que a vida lhe deu e tentou tirar o melhor proveito delas, perseverou em dificuldades que teriam arrasado qualquer um que não fosse estoico, e também desfrutou bons momentos. Não reclamou, seguiu em frente, continuou servindo, continuou tentando fazer a diferença e fazer o que fora treinado para fazer. O que ele nunca fez foi parar e se questionar, nunca se perguntou para onde aquilo o estava levando; e se valia a pena.
Por volta de 62 e.c., ficou mais difícil negar as concessões que era forçado a fazer diariamente no mundo de Nero. Talvez tenha havido algum episódio desconhecido por nós que o arrancou de seu estupor. Talvez a consciência moral que ele aprendeu com Átalo tenha, enfim, vencido a batalha contra seu desejo de ser bem-sucedido.
Finalmente, finalmente, Sêneca tentou se retirar. Sabemos que ele não confrontou Nero. Isso teria sido demais. Não há evidências de uma renúncia baseada em princípios, como a feita pelo secretário de Defesa James Mattis ao então presidente Donald Trump, quando usou uma base estoica para discordar em relação à política do presidente na Síria. Em vez disso, Sêneca se encontrou com o imperador e tentou inutilmente convencer Nero de que ele não precisava mais de seus serviços, de que estava velho e com a saúde debilitada, pronto para se aposentar. “Não consigo mais suportar o peso de minha fortuna”, disse ele a Nero. “Imploro por ajuda.” Ele pediu a Nero que tomasse posse de todas as suas propriedades e riquezas. Queria ir embora sem amarras para desfrutar a aposentadoria. [249]
Não seria tão fácil.
Ele sujara as mãos de sangue para obter aquele dinheiro, e haveria sangue para se livrar dele.
Poucos dias depois desse encontro, Nero assassinou outro inimigo.
Em 64 e.c., o Grande Incêndio atingiu Roma e, impulsionado por fortes ventos, destruiu mais de dois terços da cidade. Espalhou-se o boato de que havia sido Nero quem ateara o fogo, ou, ao menos, permitira que a capital ardesse por seis dias para poder reconstruí-la da forma que desejava. Sua reputação de homem frívolo e psicopata era terreno fértil para tais teorias da conspiração, e assim, pensando rápido, Nero encontrou um bode expiatório: os cristãos. Não sabemos quantas prisões e execuções ele ordenou, mas um deles foi um brilhante filósofo de Tarso — o mesmo território intelectual que gerara Crisipo, Antípatro e Atenodoro — que, durante o reinado de Cláudio, escapara da morte graças ao irmão de Sêneca. Saulo de Tarso, que hoje conhecemos como São Paulo, foi acrescentado à pilha de corpos de Nero.
Enquanto o sangue fluía e o fogo queimava, Sêneca poderia sentir algo além de culpa? Tyrannodidaskalos — professor tirano. Era assim que o chamavam. E era verdade, não é mesmo? Não foi isso que ele fez? Ele não moldara o homem que Nero agora mostrava ser? No mínimo, era difícil argumentar que Sêneca não emprestara credibilidade e proteção ao governo de Nero. Talvez Sêneca tenha sentido desespero naqueles dias sombrios — aquilo que ele tentou conter por tanto tempo agora saía do controle. [250]
“Passamos nossa vida servindo ao tipo de Estado ao qual nenhum homem decente deveria servir”, disse um dos estoicos em O sangue dos mártires, o impactante romance de Naomi Mitchison publicado em 1939 sohre a perseguição aos cristãos na corte de Nero. “E agora temos idade suficiente para enxergar o que fizemos.”
Séculos antes de Sêneca, na China, Confúcio fora professor e conselheiro de príncipes. Ele percorrera a mesma estrada que Sêneca, tentando ser um filósofo dentro do mundo pragmático do poder. Seu princípio de equilíbrio era o seguinte: “Quando o Estado tem o Caminho, aceite um salário; quando o Estado está fora do Caminho, aceitar um salário é vergonhoso.” Sêneca demorou muito mais do que Confúcio para chegar a tal conclusão. É indesculpável — a vergonha era evidente na primeira vez em que o imperador tentara matar a própria mãe... ou ao menos deveria ter sido evidente para alguém treinado na virtude.
Mas não era assim que Sêneca via as coisas, ao menos não pelos quase quinze anos que passou na corte de Nero. Com o tempo, ele viria a repetir Confúcio ao escrever que quando “o Estado está podre além da salvação, se o mal tem domínio total sobre ele, o homem sábio não trabalhará em vão ou desperdiçará seus talentos em esforços inúteis”.
Mas foi exatamente isso que ele fizera por muito tempo. Retirando-se o melhor que pôde, Sêneca voltou-se por completo para a escrita. Em um ensaio notável intitulado Sobre o lazer, publicado após sua aposentadoria, ele parece em conflito com as próprias experiências complicadas. “O dever de um homem é ser útil aos seus semelhantes”, escreveu, “se possível, ser útil a muitos deles; falhando nisso, ser útil a alguns; falhando nisso, ser útil aos seus vizinhos; e, falhando com eles, ser útil a si mesmo: pois ao ajudar os outros, ele promove os interesses gerais da humanidade.”
Apenas tardiamente ocorreu a um trabalhador como Sêneca que também se pode contribuir com seus concidadãos de maneira discreta — por exemplo, escrevendo ou simplesmente sendo uma boa pessoa em casa. “Estou trabalhando para as gerações futuras”, explicou ele, “escrevendo algumas idéias que podem lhes ser úteis... Indico para outros homens o caminho certo, que encontrei tarde na vida... Eu clamo a eles: ‘Evitem tudo o que agrada à multidão: evitem as dádivas do acaso! ” O próprio Sêneca notaria a ironia de que, ao se comunicar com as gerações futuras, estava “fazendo mais bem do que quando apareço como advogado no tribunal ou carimbo meu selo sobre um testamento ou presto assistência ao Senado”.
A forma primária desse serviço veio no formato de cartas filosóficas, destinadas não apenas a seu amigo Lucílio, a quem eram endereçadas, mas também dirigidas a um público mais amplo. Se não conseguia impactar diretamente os acontecimentos em Roma, imaginou, poderia ao menos alcançar as pessoas pela escrita — isso também ajudaria a assegurar a reputação “imortal que ainda almejava. Sendo bem-sucedido em ambos os casos, esta coleção, conhecida como Cartas morais, ainda vende muitos milhares de cópias por ano em incontáveis idiomas.
Assim como Cícero, Sêneca passaria três anos (62-65 e.c.) finalizando suas cartas e seus livros, um fato pelo qual o mundo literário lhe é eternamente grato. Podemos imaginá-lo feliz pela comparação com um colega tão ilustre, pensando até em como seria a encenação de sua aposentadoria. Também foi uma jogada inteligente — voltar-se para a escrita era uma maneira conveniente de ficar longe do temperamento cada vez mais volátil [252] de Nero. “Meus dias têm esse único objetivo, assim como as minhas noites”, escreveu ele, “esta é minha tarefa e meu estudo: pôr fim a velhos males... Antes de envelhecer, me preocupava em viver bem; na velhice, me preocupo em morrer bem.” Infelizmente, muito do trabalho de Sêneca antes e depois desse período se perderia. Emily Wilson estima que mais da metade de seus escritos não sobreviveu, incluídos todos os seus discursos políticos e cartas pessoais, assim como obras Sobre a índia e o Egito.
Apesar de todo o perigo iminente, aquele foi, para ele, um período de alegria e criatividade. Sêneca escreveu sobre sentar-se em seus aposentos acima de um ginásio movimentado, desligando-se de todo o barulho e concentrando-se apenas em sua filosofia. Escreveu sobre o processo de, com o tempo, se tornar um amigo melhor para si mesmo — uma admissão, talvez, de que a sua ambição possa ter sido alimentada por um sentimento inicial de não ser suficiente, de não valer muito. Ele disse em uma carta que apenas aqueles que encontram tempo para a filosofia vivem de verdade. Bem, agora ele estava de fato fazendo isso, e estava bastante vivo. A cada dia, como escreveu em seu exílio na Córsega, “posso argumentar com Sócrates, duvidar de Carnéades, encontrar a paz em Epicuro, conquistar a natureza humana com os estoicos e superá-la com os cínicos”.
Sêneca também falou da filosofia como uma forma de se olhar no espelho, de apagar as próprias falhas. Embora não tenhamos evidências de que ele questionou diretamente seu trabalho com Nero em seus escritos — servir fazia parte de seu código político, como nos dias de hoje seria para o general Mattis—, podemos dizer que ele lutou bastante contra o próprio desenrolar de sua vida. O mais próximo que Sêneca chegaria de se referir a uma [253] figura como Nero seria em uma peça que escreveu chamada Tiestes, uma história sombria e perturbadora sobre dois irmãos lutando pelo reino de Micenas. É impossível ler a obra hoje e não a ver como uma espécie de diálogo entre Sêneca e Nero, um alerta contra a tentação do poder e as coisas inomináveis que os seres humanos fazem uns contra os outros ao buscá-lo.
A linha mais reveladora da peça faz uma afirmação que Sêneca aprendeu a duras custas: “Os crimes muitas vezes voltam para o seu professor.”
E foi o que aconteceu.
Ele escreve em Tiestes: “É um vasto reino ser capaz de viver sem um reino.” Isso também ele experimentava na própria pele. Pela terceira vez na vida, Sêneca perdera quase tudo. Ele acreditava, como agora escreveria a Lucílio, que “o maior império é ser imperador de si mesmo”.
Foi uma constatação bastante tardia.
Sêneca descobriria novamente que a filosofia não existia apenas no mundo etéreo ou apenas nas páginas de seus escritos. Tácito relata que a primeira tentativa de Nero de assassinar Sêneca — de novo pelo uso de veneno — foi frustrada pela dieta parca do filósofo. Era difícil matar alguém tão afastado de sua antiga vida de opulência, que comia principalmente frutas silvestres e bebia água de um riacho borbulhante. Mas mesmo essa prorrogação durou pouco. [254]
Em 65 e.c., conspiradores, entre eles um senador estoico chamado Trásea e o filho de seu irmão, Lucano, começaram a tramar contra a vida de Nero. Sêneca não estava diretamente envolvido, não da forma como Catão ou Bruto estiveram, mas ao menos ele era mais corajoso do que Cícero. Segundo um boato, os conspiradores planejavam colocar Sêneca de volta no comando após a morte de Nero. Seu envolvimento é suficiente para redimi-lo? Será uma prova de que ele finalmente estava disposto a romper de maneira irreversível com o monstro que ajudara a criar? Quando a conspiração falhou, Sêneca arriscou a vida para tentar encobrir os participantes mais ativos.
Essa escolha selou seu destino. Nero, um covarde como Hitler em seus últimos dias, enviou capangas para exigir o suicídio de Sêneca. Não haveria clemência, apesar do ensaio que Sêneca escrevera para seu aluno tantos anos antes.
A vida de Sêneca fora um labirinto complexo de contradições, mas, com o fim próximo, ele conseguia reunir a coragem e a lucidez que havia muito lhe escapavam. Ele pediu algo para escrever seu testamento e seu pedido foi rejeitado. Então, virou-se para os amigos e disse que poderia deixar para eles a única coisa que importava: sua vida, seu exemplo. Foi de partir o coração, e todos caíram em lágrimas quando ele proferiu essas palavras.
Pareceria absurdo dizer que Sêneca ensaiara para esse mo mento, mas, de certa forma, ensaiou. Todos os seus escritos e filosofias, como disse Cícero, haviam conduzido à morte, e, agora, ela chegara. Ele aproveitou a oportunidade para praticar o que pregara por tanto tempo. “Onde estão as suas máximas filosóficas ou a reparação de tantos anos de estudo contra os males [255] que virão?”, repreendeu gentilmente seus amigos que lamentavam, bem como a própria história. “Quem não conheceu a crueldade de Nero? Depois do assassinato da própria mãe e de um irmão, nada resta a não ser acrescentar a destruição de um guardião e mestre."
Não muito antes, ele escrevera a Lucílio dizendo que, embora fosse verdade que um tirano ou um conquistador poderia nos condenar à morte quando bem entendesse, na verdade esse não era um grande poder. “Acredite em mim”, disse ele, “você está sendo encaminhado para esse destino desde o dia em que nasceu.” Sêneca acreditava que, se quisermos “ficar calmos enquanto esperamos a última hora”, nunca devemos deixar o fato de nossa mortalidade escapar de nossa consciência. Fomos condenados à morte ao nascer. Para Sêneca, tudo que Nero fazia era adiantar a linha do tempo. Com isso em mente, ele então poderia abraçar a esposa, Paulina, e pedir a ela, calmamente, que não sofresse muito e que continuasse a viver sem ele.
Como tantas outras mulheres estoicas, ela não se contentava em fazer o que lhe era ordenado. Em vez disso, decidiu acompanhar o marido. Cortando as artérias em seus braços, o casal começou a perder sangue. Os guardas — aparentemente sob as ordens de Nero — correram para salvar Paulina, que viveria ainda vários anos.
Para Sêneca, a morte não veio tão facilmente quanto ele esperava. Sua dieta parca parecia ter diminuído seu fluxo sanguíneo. Por isso, ele bebeu de bom grado um veneno que guardara precisamente para aquela ocasião, mas não antes de derramar uma pequena libação aos deuses. Será que nesse momento teria se lembrado de algo que Átalo dissera havia muito tempo? Que “a maldade bebe a maior parte de seu próprio veneno”? [256] Isso estava se mostrando verdadeiro para Sêneca e, em breve, também se revelaria verdadeiro para Nero.
O homem que tanto escrevera sobre a morte estava descobrindo, com ironia, que a morte não lhe vinha de bom grado. Será que isso o deixou frustrado? Ou ele já estava pensando na história, sabendo que o destino prolongava a cena a respeito da qual tanto meditara? Quando o veneno não funcionou, Sêneca foi levado para um banho de vapor, em que o calor e o ar denso por fim o mataram. Existe todo um gênero de pinturas da morte de Sêneca, e até versões feitas por Peter Paul Rubens e Jacques-Louis David. Invariavelmente, parecem retratá-lo como talvez Sêneca desejasse ser visto, não mais gordo e rico, mas novamente magro e digno. Todos os outros na sala estão histéricos, mas Sêneca está calmo — o estoico ideal que não pôde ser em vida — enquanto deixa nosso mundo.
Pouco depois, seu corpo foi descartado sem alarde, sem ritos fúnebres, um pedido que ele fizera muito antes e, para Tácito, era a prova de que, como um bom estoico, “mesmo no auge de sua riqueza e poder ele pensava no fim de sua vida’’, bem como em seu legado eterno.
Mas tudo o que conquistara em vida se perdeu, exceto os livros que hoje temos. Um ano depois, Nero também mataria o irmão de Sêneca, pois os crimes não voltam apenas para os seus professores, mas também para as pessoas e coisas que eles amam. [257]
É também nos lembrarmos mais do bem do que do mal que nos foi feito; mais dos benefícios que recebemos do que dos que oferecemos; sermos pacientes quando atingidos pela injustiça; preferirmos dirimir um desentendimento por meio da negociação do que mediante o recurso à justiça; preferirmos uma arbitragem a um litígio, já que o árbitro leva em conta a equidade, ao passo que o juiz leva em conta a lei. A arbitragem foi criada com o propósito expresso de garantir espaço total para a equidade.