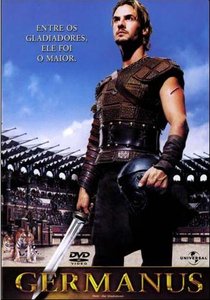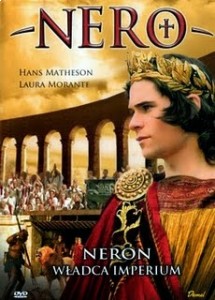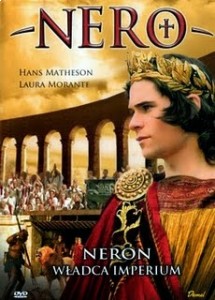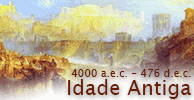





Cada uma das Idades está "aparentada" com um metal, cujo nome toma e cuja hierarquia se ordena do mais ao menos precioso, do superior ao inferior: Ouro, Prata, Bronze, Ferro. O que surpreende é que em todas as quatro Eras, cujo valor se afere pelos metais, Hesíodo tenha intercalado entre as duas últimas mais uma: a Era dos Heróis, que não possui correspondente metálico algum. Há os que procuram explicar o fato por uma preocupação historicista, já que o poeta sabia que antes dele tinham vivido homens e heróis notáveis, que se imortalizaram em Tróia e em Tebas. Era de Ouro - Os homens mortais da Idade de Ouro foram criados pelos próprios imortais do Olimpo, durante o reinado de Crono. Viviam como deuses e como reis, tranquilos e em paz. O trabalho não existia, porque a terra espontaneamente produzia tudo para eles. Sua raça denomina-se de ouro, porque o ouro é o símbolo da realeza. Jamais envelheciam e sua morte assemelhava-se a um sono profundo. Após deixarem esta vida, recebiam o basíleion guéras, que quer dizer, o privilégio real, tornando-se daímones epikhthónioi,intermediários, aqui mesmo na terra entre os deuses e seus irmãos viventes. Esse basileion gnéras tem uma conotação toda especial, quando se leva em conta que os daimones epikhthónioi, esses grandes intermediários, assumem em "outra vida" as duas funções que, segundo a concepção mágico-religiosa da realeza, definem a virtude benéfica de um bom rei: como phýlakes, como guardiões dos homens, velam pela observância da justiça e, como plutodótai, como dispensadores de riquezas, favorecem a fecundidade do solo e dos rebanhos. Curioso é que Hesíodo emprega as mesmas expressões, que definem os "reis" da Era de Ouro, para qualificar os "reis" justos do seu século. Os homens da Era de Ouro viam hòs theoí, como deuses; os reis justos do tempo do poeta, quando avançam pela assembleia e, por meio de suas palavras mansas e sabias, fazem cessar a hýbris, o descomedimento, são saudados como theòs bós, como um deus. E assim como a terra, à época da Era de Ouro, era fecunda e generosa, igualmente a cidade, sob o governo de um rei justo, floresce em prosperidade sem limites. Ao contrário, o rei que não respeita o que simboliza seu sképtron, o seu cetro, afastando-se pela Hýbris do caminho que conduz à Díke, transforma a cidade em destruição, calamidade e fome. É que, por ordem de Zeus, trinta mil imortais invisíveis (que são os próprios daímones epikhthónioi) vigiam a piedade e a justiça dos reis. Nenhum deles, que se tenha desviado da Díke, deixará de ser castigado mais cedo ou mais tarde pela própria Díke.
Era de Prata - Foram mais uma vez os deuses, os criadores da raça de prata, que é também um metal precioso, mas inferior ao ouro. À soberania piedosa do rei da Era de Ouro fundamentada na Díke opõe-se uma "Hýbris louca". Tal Hýbris, porém, nada tem a ver com a Hýbris guerreira: os homens da idade de prata mantêm-se afastados tanto na guerra, quanto dos labores campestres. Essa Hýbris, esse descomedimento, é uma asébeia, uma impiedade, uma adikía, uma injustiça de caráter puramente religioso e teológico, uma vez que os "reis" da raça de prata se negam a oferecer sacrifícios aos deuses e a reconhecer a soberania de Zeus, senhor da Díke. Exterminados por Zeus, os homens da raça de prata, recebem, no entanto, após o castigo, honras menores é verdade, mas análogas às tributadas aos homens da Era de Ouro: tornam-se daímones hypokhthónioi, intermediários entre os deuses e os homens, mas agindo de baixo para cima, na outra vida. Além do mais, os mortais da raça agêntea apresentam fortes analogias com os Titãs: o mesmo caráter, a mesma função, o mesmo destino.
Orgulhosos e prepotentes, mutilam o seu pai Urano e disputam com Zeus o poder sobre o universo. Reis, pois que Titán em grego, em etimologia popular, aproxima-se de Titaks, rei, e Titéne, rainha, os Titãs têm por vocação o poder. Face a Zeus, todavia, que representa para Hesíodo a soberania da ordem, da Díke, aqueles que simbolizam o mando e a arrogância da desordem e da Hýbris. De um lado, portanto, estão Zeus e os homens da Era de Ouro, projeções do rei justo; de outro, os Titãs e os homens da Era de Prata, símbolos de seu contrário. Na realidade, o que se encontra no relato das duas primeiras eras é a estrutura mesma dos mitos hesiódicos da soberania.
Era de Bronze - Os homens da raça de bronze, consoante Hesíodo, foram criados por Zeus, mas sua matriz são os freixos, símbolo da guerra. Trata-se aqui da Hýbris militar, da violência bélica, que caracteriza o comportamento do homem na guerra. Assim, do plano religioso e jurídico se passou às manifestações da força bruta e do terror. Já não mais se cogita de justiça, do justo ou do injusto, ou de culto aos deuses. Os homens da Era de Bronze pertencem a uma raça que não come pão, quer dizer, são de uma era que não se ocupa com o trabalho da terra. Não são aniquilados por Zeus, mas sucumbem na guerra, uns sob os golpes dos outros, domados "por seus próprios braços", isto é, por sua própria força física. O próprio epíteto da era a que pertencem esses homens violentos tem um sentido simbólico. Ares, o deus da guerra, é chamado por Homero na Ilíada de Khálkeos, isto é, "de bronze". No pensamento grego, o bronze, pelas virtudes que lhe são atribuídas, sobretudo por sua eficácia apotropaica, está vinculado ao poder que ocultam as armas defensivas: couraça, escudo e capacete. Se o brilho metálico do bronze reluzente infunde terror ao inimigo, o som do bronze entrechocado, essa phoné, essa voz, que revela a natureza de um metal animado e vivente, rechaça os sortilégios dos adversários.
A par das armas defensivas, existe uma ofensiva também estreitamente ligada à indole e à origem dos guerreiros da Era do Bronze. Trata-se da lança ou dardo confeccionado de madeira especial, a melia, isto é, o "freixo". E não foi do freixo que nasceram, segundo Hesíodo, os homens da Era do Bronze? As ninfas mélias ou melíades, nascidas do sangue de Urano, estão intimamente unidas a essas árvores "de guerra" que se erguem até o céu como lanças, além de se associarem no mito a seres sobrenaturais que encarnam a figura do guerreiro. Jean-Pierre Vernant faz uma aproximação muito feliz do gigante Talos com os homens da raça de bronze. Esse Talos, guardião incansável da ilha de Creta, nascera de um freixo (melia) e tinha o corpo todo de bronze.
Como Aquiles, era o gigante cretense dotado de uma invulnerabilidade condicional, que somente a magia de Medeia foi capaz de destruir. Os Gigantes, "à cuja família" pertence Talos, representam uma confraria militar, dotada de uma invulnerabilidade condicional e em estreita relação com as ninfas Mélias ou Melíades. Na Teogonia o poeta "gerou os grandes Gigantes de armas faiscantes (porque eram de bronze), que têm em suas mãos compridas lanças (de freixo) e as ninfas que se chamam Mélias".
Assim entre a lança, atributo militar, e o cetro, atributo real da justiça e a paz, há uma diferença grande de valor e de nível. A lança há que submeter-se ao cetro. Quando isso não acontece, quando essa hierarquia é quebrada, a lança confunde-se com a Hýbris. Normalmente para o guerreiro, tributário da violência, a Hýbris dele se apodera, por estar voltado inteiramente para a lança. É o caso típico, entre outros, de Ceneu, o "lápita da lança", dotado como Talos, Aquiles e os Gigantes de uma invulnerabilidade condicional como todos os que passaram pela iniciação guerreira. Ceneu fincava sua lança sobre a praça pública, rendia-lhe um culto e obrigava a todos que por ali passassem a tributar-lhe honras divinas. Filhos da lança, indiferentes à Díke e aos deuses, os homens da raça de bronze, como os Gigantes, após a morte, foram lançados no Hades por Zeus, onde se dissiparam no anonimato da morte.
Era dos Heróis - A quarta era é a dos heróis, criados por Zeus, uma "raça mais justa e mais brava, raça divina dos heróis, que se denominam semideuses". Lendo-se, com atenção o que diz Hesíodo acerca dos heróis, nota-se logo que os mesmos formam dois escalões: os que, como os homens da era de bronze, se deixaram embriagar pela Hýbris, pela violência e pelo desprezo pelos deuses e os que, como guerreiros justos, reconhecendo seus limites, aceitaram submeter-se à ordem superior da Dike. Um exemplo bem claro desses dois escalões antitéticos é a tragédia de Ésquilo. Os sete contra Tebas: em cada uma das sete portas ergue-se um herói mordido pela Hýbris, que, como um gigante, profere contra os imortais e contra Zeus terríveis impropérios; a este se opõe outro herói, "mais justo e bravo", que temperado pela sophrosýne, pela prudência, respeita tudo quanto representa um valor sagrado. O primeiro escalão, os heróis da Hýbris, após a morte, são como os da Era de Bronze, lançados no Hades, onde se tornam nónymoi, mortos anônimos; o segundo, os heróis da Dike, recebem como prêmio, a Ilha dos Bem Aventurados, onde viverão para sempre como deuses imortais.
Era de Ferro - "Oxalá não tivesse eu que viver entre os homens da quinta era: melhor teria sido morrer mais cedo ou ter nascido mais tarde, por agora é a era de ferro..." Hesiodo em Trabalhos e Dias 174 - 176. No mito de Prometeu e Pandora, Hesíodo nos dá um panorama da Era de Ferro: doenças, a velhice e a morte; a ignorância do amanhã e as incertezas do futuro; a existência de Pandora, a mulher fatal, e a necessidade premente do trabalho. Uma junção de elementos tão díspares, mas que o poeta de Ascra distribui num quadro único. As duas Érides, as duas lutas, se constituem na essência da Era de Ferro.
A causa de tudo foi o desafio a Zeus por parte de Prometeu e o envio de Pandora (vide mito de pandora). Desse modo, o mito de Prometeu e Pandora forma as duas faces de uma só moeda: a miséria humana na Era de Ferro. A necessidade de sofrer e batalhar na terra para obter o alimento é igualmente para o homem a necessidade de gerar através da mulher, nascer e morrer, suportar diariamente a angústia e a esperança de um amanhã incerto. É que a Era de Ferro tem uma existência ambivalente e ambígua, em que o bem e o mal não estão somente amalgamados, mas ainda são solidários e indissolúveis. Eis aí por que o homem, rico de misérias nesta vida, não obstante se agarra a Pandora, "o mal amável", que os deuses ironicamente lhe enviaram. Se este "mal tão belo" não houvesse retirado a tampa da jarra, em que estavam encerrados todos os males, os homens continuariam a viver como antes, "livres de sofrimento, do trabalho penoso e das enfermidades dolorosas que trazem a morte". As desgraças, porém despejaram-se pelo mundo; resta, todavia, a Esperança, pois afinal a vida não é apenas infortúnio: compete ao homem escolher entre o bem e o mal. Pandora é, pois, o símbolo dessa ambiguidade em que vivemos.
Em seu duplo aspecto de mulher e de terra, Pandora expressa a função da fecundidade, tal qual se manifesta na Era de Ferro na produção de alimentos e na reprodução da vida. Já não existe mais a abundância espontânea da Era de Ouro; de agora em diante é o homem quem deposita a sua semente (spérma) no seio da mulher, como o agricultor a introduz penosamente nas entranhas da terra. Toda riqueza adquirida tem, em contrapartida, o seu preço. Para a Era de Ferro a terra e a mulher são simultaneamente princípios de fecundidade e potências de destruição: consomem a energia do homem, destruindo-lhe, em conseqüência, os esforços; "esgotam-no, por mais vigoroso que seja", entregando-o à velhice e à morte, "ao depositar no ventre de ambas" o fruto de sua fadiga.

Pela mesma indistinção do público e do privado, quando se queria designar alguém caracterizava-se sua pessoa pelo lugar que ocupava no espaço cívico, pelos títulos e dignidades políticas ou municipais, caso as tivesse; isso fazia parte de sua identidade, como entre nós a patente junto ao nome de um oficial ou os títulos de nobreza. Ao introduzir um personagem, um historiador ou romancista especificava se era escravo, plebeu, liberto, cavaleiro, senador. Neste último caso podia ser pretoriano ou consular, segundo a dignidade mais elevada à qual fora designado na escala das honras fosse o consulado ou apenas o pretório. Tratando-se de um militar de vocação, que preferia o comando de um regimento numa província ou nas fronteiras e adiava a preocupação de investir-se em Roma de uma dessas dignidades anuais, recebia o título de "o jovem Fulano" (adulescens), mesmo que fosse quadragenário embaixo da couraça: ainda não havia ingressado na verdadeira carreira. Isso com relação à nobreza senatorial; quanto aos notáveis de cada cidade, Censorino assim caracteriza para uso dos leitores o protetor (amicus) ao qual tudo deve e dedica seu livro: "Cumpriste até o fim a carreira municipal, recebeste a honra de ser sacerdote dos imperadores entre os homens principais de tua cidade e te elevas além do nível provincial por tua dignidade de cavaleiro romano". Pois a vida municipal também tinha sua hierarquia. Quem não era plebeu e pertencia ao Conselho local (curia), como verdadeiro notável, era um curial; até mesmo um "homem principal", se tivesse desempenhado na ordem todas as funções anuais até as mais elevadas, que eram também as mais custosas.
Pois "levar vida política" — ou "exercer funções públicas" — não constituía uma atividade especializada: era a realização de um homem plenamente digno desse nome, de um membro da classe governante — que se considerava apenas humana —, de uma pessoa privada ideal; não ter acesso aos cargos públicos, à vida política da cidade, equivalia a ser mutilado, homem de baixa condição. Para que o leitor sorria com um paradoxo divertido, os poetas eróticos gabavam-se de desprezar a carreira política e só querer militar na carreira do amor (militia amoris); para a maioria dos filósofos, conselheiros com segundas intenções, a vida política (bios politikos) só podia ser sacrificada, sendo preciso sacrificá-la, à vida filosófica, na qual cada um se consagra por inteiro ao estudo da sabedoria. Na prática, os cargos públicos municipais e, com maior razão, os senatoriais eram acessíveis apenas às famílias ricas; porém esse privilégio também constituía um ideal e quase um dever. O conformismo estóico identificará a vida política à vida harmonizada com a Razão. Não adiantava nada um romano ser rico se não estava entre os "primeiros de nossa cidade", se não se projetara na cena pública — supondo que as outras famílias ricas lhe deixassem possibilidade de permanecer à margem e que a população da cidade não tivesse ido tirá-lo da solidão de suas terras para, com suave violência, impeli-lo para as funções municipais a fim de que lhe desse os caros prazeres públicos ligados ao exercício de cada uma dessas dignidades, que duravam um ano e conferiam uma posição vitalícia.
Pois cada uma dessas dignidades custava muito caro ao indivíduo assim honrado pela vida: a indistinção dos fundos públicos e dos patrimônios privados não funcionava em mão nua. E a curiosa instituição que se chama "evergetismo". Quem recebia a nomeação de pretor ou cônsul devia desembolsar alguns milhões para dar ao povo de Roma espetáculos públicos, representações teatrais, corridas de carros no circo, até dispendiosos combates de gladiadores na arena do Coliseu; depois o novo pretor ou cônsul ia ressarcir-se dos gastos no governo de uma província. Tal era o destino de uma família de nobreza senatorial, ou seja, uma família em 10 mil ou 20 mil. Mas é entre os notáveis municipais — ou uma família em vinte, talvez — que o evergetismo assume sua verdadeira dimensão, sem encontrar compensações para os sacrifícios financeiros que lhes impunha.
Evergetismo
Na menor cidade do Império, quer a população fale latim ou grego, quer fale mesmo celta ou siríaco, talvez a maioria dos edifícios públicos que os arqueólogos vasculham e os turistas visitam foi construída pelos notáveis locais com dinheiro do próprio bolso. Além disso, tais notáveis financiavam os espetáculos públicos que anualmente alegravam a cidade, desde que tivessem o suficiente, pois quem alcançava uma dignidade municipal devia pagar. Tal dignitário doava uma soma ao Tesouro da cidade, financiava os espetáculos do ano em que estava no cargo ou ainda empreendia a construção de um edifício. Caso estivesse em dificuldades financeiras, formulava por escrito a promessa pública de fazer isso um dia, pessoalmente ou por intermédio de seus herdeiros. E havia mais: independentemente de qualquer função pública, os notáveis ofereciam a seus concidadãos, de livre e espontânea vontade, edifícios, combates de gladiadores, banquetes ou festas; essa espécie de mecenato era ainda mais frequente que nos Estados Unidos de hoje, com a diferença de que seus objetos se referiam quase exclusivamente à ornamentação da cidade e a seus prazeres públicos. A grande maioria dos anfiteatros, essas enormes riquezas petrificadas, foi oferecida livremente por mecenas, que, assim, imprimiam à cidade sua marca definitiva.
Tais liberalidades deviam-se à generosidade privada? A uma obrigação pública? A ambas. A dose variava de indivíduo para indivíduo e só havia casos particulares. Pois as cidades pouco a pouco transformaram em dever a tendência dos ricos a generosidade ostentatória; obrigavam-nos a fazer sempre o que a preocupação com a posição os levava a fazer algumas vezes. Mostrando-se liberais, os notáveis confirmavam que pertenciam à classe governante, e os poetas satíricos caçoavam da pretensão dos novos-ricos, que se apressavam a oferecer espetáculos a seus concidadãos. As cidades adquiriram o hábito de um luxo público que passaram a exigir como um direito. A nomeação dos dignitários anuais fornecia a oportunidade; todo ano, em cada cidade desenrolavam-se pequenas comédias: era preciso encontrar novas fontes de financiamento. Cada membro do conselho declarava-se mais pobre que seus pares e dizia que em compensação Fulano de Tal era um homem feliz, próspero e tão magnânimo que seguramente aceitaria naquele ano uma dignidade que acarretava o dever de garantir à própria custa a água quente dos banhos públicos. O interessado protestava que já passara por isso. O mais teimoso ganhava. Se não se via saída, o governador da província interferia; ou a plebe da cidade, zelosa de sua água quente, intervinha pacificamente: aclamava a vítima designada, levava às nuvens sua generosidade espontânea e elegia-a dignitário erguendo as mãos ou por aclamações unânimes. A menos que, espontaneamente, pois também havia espontaneidade, um mecenas imprevisto se levantasse para declarar que desejava beneficiar a cidade; ela lhe agradecia fazendo o Conselho nomeá-lo alto dignitário local e conceder-lhe um título de honra excepcional, como "patrono da cidade", "pai da cidade" ou "benfeitor magnânimo e espontâneo", que ele inscreveria em sua lápide; ou então votando-lhe uma estátua, pela execução da qual ele espontaneamente pagava.
Por isso foi que os dignitários locais pouco a pouco deixaram de ser eleitos pelos cidadãos para ser designados pela oligarquia do Conselho, que os escolhia em seu próprio meio: o problema era mais a falta que o excesso de candidatos; consistindo a função mais em pagar do que em governar, deixava-se ao Conselho a decisão de imolar um de seus membros, e o melhor candidato era aquele que aceitasse pagar. A classe dos notáveis tinha, assim, a equívoca satisfação de dizer que a cidade lhe pertencia, pois era ela quem pagava; em troca podia repartir os impostos do Império em seu proveito, fazendo-os recair o máximo possível sobre o campesinato pobre. Cada cidade se dividia em dois campos: os notáveis que davam e a plebe que recebia; além das obrigações inerentes às dignidades anuais, só se podia ser uma estrela local promovendo, uma vez na vida, a construção de um edifício ou a realização de um banquete público. Assim se formou uma oligarquia dirigente. Será preciso dizer hereditária? É menos simples: as dignidades do pai criavam um dever moral para o filho, vítima designada das próximas prodigalidades, pois era o herdeiro. Entre os ricos do lugar, pensava-se primeiro em depenar aqueles cujo pai já alcançara as dignidades (patrobouloi), esperando que o filho quisesse imitar a generosidade paterna; na falta de candidatos bastante ricos entre os filhos de dignitários, o Conselho se conformava em aceitar em seu seio o representante de uma família de comerciantes para impeli-lo às custosas dignidades.
Os notáveis tinham interesse em se sujeitar a tal sistema apenas porque o costume o impunha; pois se rebelavam tão frequentemente quanto se prestavam a ele de bom grado. O poder central também hesitava. Ora, para mostrar-se popular, impunha aos notáveis uma obrigação formal de dar ao povo prazeres que "o distraíssem da tristeza"; ora fazia a política dos notáveis e tentava refrear as exigências da plebe; ora, por fim, fazia sua própria política e tentava proteger os ricos contra sua tendência às suntuosidades ostentatórias: não seria melhor oferecer à cidade um cais de porto em lugar de uma festa? Pois o povo recebia prazeres que o divertiam ou edifícios que lisonjeavam a vaidade do mecenas; somente nos anos de penúria a plebe pensava em pedir a seus dirigentes que lhe vendessem a preços módicos o trigo armazenado em seus celeiros. Ofereciam-se prazeres aos concidadãos por civismo e edifícios à cidade por ostentação; essas são as duas raízes do evergetismo, que confundem, elas também, o homem público e o homem privado.
Civismo nobiliário
Quem diz ostentação diz espontaneidade; quem diz civismo diz dever. Um dever paradoxal, esse de dar à cidade mais do que lhe é devido. Os cidadãos de um Estado moderno, que são administrados, limitam-se a pagar seus impostos e nem um centavo a mais; porém as cidades gregas (e, a seu exemplo, as romanas) tinham um princípio, ou pelo menos um ideal, mais exigente: quando podiam, tratavam os cidadãos como um partido moderno trata os militantes; estes últimos não devem medir seu zelo de acordo com uma cota, e sim fazer pela causa tudo que estiver a seu alcance. As cidades esperavam a mesma dedicação de seus cidadãos ricos. Demoraríamos muito para explicar que tal dedicação se aplicava principalmente a despesas com amenidades (a despesa que um dignitário menos podia recusar era aquela que a devoção também lhe exigia: quando, em nome de seu cargo, celebrava uma festa ou um espetáculo em honra aos deuses da cidade, não deixava de acrescentar alguma coisa de sua bolsa aos créditos públicos). Ao que se soma a ostentação nobiliária. Os ricos sempre se sentiram figuras públicas; convidavam os concidadãos às bodas de sua filha; na morte de seu pai, toda a cidade era chamada ao banquete funerário e aos combates fúnebres de gladiadores. Logo se fez disso uma obrigação. Em todo o Império, um notável que se casava de novo ou cujo filho adolescente tomava as vestes de homem devia alegrar a cidade ou doar-lhe uma soma em dinheiro; caso se recusasse, precisaria se refugiar numa de suas terras para celebrar as próprias bodas. Mas isso significava privar-se da existência pública e cair no esquecimento; ora, o orgulho nobiliário quer perdurar. Assim, em vez de um prazer fugaz, ele oferece à cidade um edifício sólido, no qual é gravado seu nome. Pode também criar uma fundação perpétua, segundo outra moda da época: em seu aniversário a cidade se banqueteará em sua memória com os rendimentos de um capital que ele deixou com tal intenção ou celebrará uma festa que levará seu nome.
Tudo isso são meios de confirmar, vivo ou morto e honrado, uma condição de estrela social. Ora, uma estrela não é mais uma pessoa privada, o público a devora. Ademais, a relação de um benfeitor de cidade com seu público era física, face a face, como fora a dos políticos da República romana que tomavam decisões diante dos olhos do povo, em pé na frente do palanque, visíveis como os generais de outrora no campo de batalha. Encerrados em seus palácios, os imperadores desejarão dar a impressão de que continuam esse republicanismo tomando a precedência pessoalmente no circo ou no anfiteatro de Roma, onde a plebe vigiava sua atitude e os queria atentos e complacentes aos desejos do público, o único juiz verdadeiro.
Os notáveis municipais têm a mesma sorte. Numa cidadezinha da Tunísia encontrou-se um mosaico no qual um grande homem chamado Magério celebra a própria generosidade; o mosaico decorava sua antecâmara. Vê-se o combate de quatro bestiários contra quatro leopardos; o nome de cada combatente está inscrito ao lado de sua imagem, bem como o de cada animal: o mosaico não está ali como ornamento, mas como a descrição rigorosa de um espetáculo que Magério ofereceu com seus denários. Ao longo do mosaico leem-se as aclamações e reclamações do público, que sanciona o zelo benfeitor escandindo slogans em sua homenagem: "Magério! Magério! Que teu exemplo se torne instrutivo para o futuro! Que os benfeitores precedentes entendam a lição! Onde e como se fez tanto bem? Tu dás um espetáculo digno de Roma, a capital! Tu o dás a tua custa! Este dia é teu grande dia! Magério é o doador! Essa é a verdadeira riqueza! Sim, essa mesma! Já que terminou, despede os bestiários com uma paga suplementar!". Magério concordou com esta última vontade, e veem-se no mosaico os quatro sacos de moedas de prata (com a cifra inscrita sobre cada um) que entregou aos bestiários na arena.
Aos aplausos do povo sucediam-se normalmente títulos honoríficos, distinções de honra concedidas pelo Conselho para a vida toda; a cidade agradece, mas é ela quem julga; o notável só se distingue entre seus pares prestando-lhe homenagem. Compreendemos que os títulos honoríficos de um benfeitor, assim como as dignidades públicas que ele carrega, tiveram uma importância tão considerável como os títulos de nobreza no Ancien Regime e suscitaram paixões igualmente intensas. O Império Romano apresenta o seguinte paradoxo: um civismo nobiliário. Tal civismo ostentatório deve confirmar sua presunção hereditária com uma proeza de liberalidade que o distinga, mas no interior do quadro cívico: superior à plebe de seu vilarejo, o notável é grande em sua cidade porque mereceu aos olhos desta e no benefício desta; ela é beneficiária e juiz da dedicação de seu filho. A plebe percebia tão bem esse equívoco que saía do espetáculo sem saber se o benfeitor a havia honrado ou humilhado; uma frase que Petrônio empresta a um espectador expressa tal ressentimento: "Ele me ofereceu um espetáculo, mas eu o aplaudi: estamos quites, uma mão lava a outra".
Ao mesmo tempo dedicação patriótica e busca de glória pessoal (ambitus). Já na República romana os membros da classe senatorial procuravam tornar-se populares oferecendo espetáculos e banquetes públicos, e era mais para agradar à plebe do que para corromper os eleitores; continuaram assim depois da supressão da eleição às dignidades. Como diz Georges Ville, por trás da ambição materialmente interessada pode esconder-se uma ambição por assim dizer desinteressada, que procura o favor da multidão por si mesmo e com ele se contenta".
O Evergetismo não se parece com nada
Deixemos de falar de "burguesia" romana: como a clientela, o evergetismo não se explica pelo interesse de classe, mas por um espírito nobiliário que inutilmente ergue edifícios públicos e estátuas honoríficas que cantam a glória de uma dinastia e resultam de um imaginário nobre; é uma arte do brasão. Falar de maquiavelismo, redistribuição, despolitização, cálculo interessado na colocação de simbólicas barreiras de classe equivale a achatar e racionalizar um fenômeno cujos custo e desenvolvimento simbólico ultrapassam em muito o que era socialmente necessário. O que nos engana é que essa nobreza, com sua simbologia aparentemente cívica, seus edifícios "públicos" e seus títulos de magistratura não se parece com a nobreza de sangue e títulos do Ancien Regime: é uma formação histórica original que canta a própria glória no velho vocabulário da cidade antiga, em vez de louvar a grandeza de sua raça.
Os curiais não eram a mesma coisa que a classe proprietária apenas porque o número de cadeiras no Conselho municipal em geral se limitava a cem. Assim como no Ancien Regime não bastava enriquecer para obter um título de nobreza, e o título de acadêmico na França limita-se a quarenta pessoas, célebres ou menos célebres. O Conselho municipal era um clube nobre onde nem todos os homens de posses entravam: as leis imperiais insistiam em que em caso de necessidade financeira fossem admitidos de favor vulgares comerciantes ricos. O clube dos ricos nobres preferia pressionar um de seus membros para que se arruinasse pela cidade. E às vezes os nobres se conformavam em fugir às suaves violências de seus pares: refugiavam-se em suas terras, na casa de seus lavradores (coloni praediorum), diz o último livro da Digesta; pois o poder público afundava ao tentar sair das cidades e penetrar no campo, onde cristãos como são Cipriano se abrigariam das perseguições.
Classe nobiliária também, pela antiguidade dessas famílias. Dinastias de novos-ricos são admitidas, é um fato comprovado, porém um fato não menos comprovado é a existência secular dessas famílias, seus intercasamentos, sua endogamia. Os intercasamentos entre as grandes famílias de uma cidade foram trazidos à luz por Philippe Moreau a partir do Pro Cluentio de Cícero; na Grécia, a abundante epigrafía imperial permite seguir muita família nobre ao longo de dois ou três séculos, particularmente em Esparta, na Beócia, em outros lugares ainda: foi possível estabelecer árvores genealógicas que ocupam páginas in-fólio em nossas coletâneas de inscrições gregas do período imperial. O Império é uma época de estabilidade nobiliária.
O evergetismo foi um ponto de honra nobiliário em que o orgulho de casta acionou todas as motivações cívicas e liberais sobre as quais os historiadores se estenderam habilmente, mas também com demasiada exclusividade: civismo, prazer de dar, desejo de se destacar... Essas árvores sentimentais e cívicas esconderam-lhes a floresta do orgulho nobre e a existência de uma nobreza patrimonial, hereditária de fato. Cada nobre quer ser superior aos outros e gosta de poder dizer que foi "o primeiro" ou "o único" a gastar com tal liberalidade inédita: os dignitários precedentes gratuitamente distribuíram óleo para o banho do povo, mas eis que um novo paladino distribui óleo perfumado... "Quero ganhar dinheiro", declara um herói de Petrônio, "e ter uma morte tão bela que meus funerais se tornarão proverbiais"; sem dúvida prescreverá aos herdeiros que ofereçam um banquete à cidade por ocasião de seu enterro. Pão e circo, ou melhor, edifícios e espetáculos: a autoridade ainda era mais a projeção de um indivíduo do que uma capacidade pública ou privada de obrigar; era monumentalização e teatralização. O evergetismo não era tão virtuoso como creem seus últimos Comentaristas nem tão maquiavélico como dizem os comentaristas precedentes, imbuídos de vago marxismo. A nobreza residia, ao pé da letra, num "jogo de competição", tão irracional, política e economicamente, quanto o esbanjamento por mera ostentação. Isso ia muito mais longe que a necessidade de "preservar a posição" ou marcar as barreiras de classe, e não há como conciliar o fenômeno fundamental da competição de esbanjamento com explicações sociais ao gosto dos modernos; tampouco se pode atribuí-lo às explicações dos antigos — patriotismo, festa e banquete, generosidade etc. É um fenômeno tão curioso como esse potlatch que intriga os etnógrafos que o encontram entre tantos povos "primitivos"; uma paixão tão devoradora como aquelas que, entre os povos "civilizados", só se desencadeiam pelo poder "político" e pela riqueza "econômica". Pelo menos para quem nisso acredita.

Com os progressos do poder romano, produziu-se rapidamente uma transformação social que teve como efeito modificar a distribuição da terra e criar uma aristocracia rural nas mãos da qual se concentrou uma grande parte da terra italiana. Esta evolução começou quando as gentes patrícias adquiriram a preponderância no Estado. Era inevitável tendo em conta a própria constituição da gens, que reunia um número considerável de pessoas sob a autoridade do "pai", o que colocava à sua disposição uma grande quantidade de mão-de-obra. Além disso, havia uma disposição legal que proibia que uma terra saísse da gens, o que assegurava a continuidade da propriedade. Pelo contrário, as terras pertencentes aos plebeus não eram atingidas por esta disposição, de tal modo que, progressivamente, as terras patrícias acabaram por prevalecer consideravelmente sobre as outras. Finalmente, como já dissemos, a propriedade privada compreendia uma porção relativamente fraca das terras nacionais; o resto pertencia ao domínio público, e não era diretamente admitido em exploração pelo Estado (pelo menos na prática mais corrente); era simplesmente ocupado, apenas a titulo de uso em benefício do explorador.
Compreende-se que este sistema fosse particularmente favorável às grandes gentes, ricas em homens e em rebanhos, e não beneficiasse em nada os cultivadores isolados, plebeus, sem outros auxiliares para além dos descendentes diretos e trabalhadores assalariados. Daí resultou um desequilíbrio que aumentou o poder do patriarcado à custa dos pequenos proprietários. Estes, vivendo do dia-a-dia, encontravam-se à mercê de uma má colheita e, como dispunham de pouco dinheiro, numa época em que a troca ainda era a base do negócio, viam-se obrigados a recorrer freqüentemente à empréstimos cuja taxa era tanto mais pesada quanto mais raro era o numerário na cidade. Muito rapidamente os juros atingiam e ultrapassavam o montante do capital. Infeliz do devedor que não pudesse libertar-se! Se os seus não o resgatassem, era vendido como escravo "para lá do Tibre", isto é, em terra etrusca, e nunca mais teria oportunidade de regressar à pátria. Para evitar tal infortúnio, o pequeno proprietário endividado servia-se do último recurso: vender a terra ao credor, cujo domínio ia assim aumentando; o camponês despojado vinha então instalar-se na cidade e tentava subsistir exercendo pequenos ofícios, entre a plebe urbana. E foi assim, em boa parte, que esta se formou. No principio das perturbações que marcaram os primeiros séculos da República encontra-se uma verdadeira crise agrária. Já dissemos quais foram as conseqüências: a formação de uma plebe consciente da sua força, das concessões lentamente arrancadas aos patrícios sob a ameaça de seqüestro e, finalmente, o desaparecimento dos quadros arcaicos da cidade, o acesso ao poder de homens novos e a laicização da vida pública.
Um fato ilustra bem o sentido desta origem camponesa da plebe. É significativo que a primeira organização da plebe se tenha formado em volta do templo da deusa Ceres, antiga divindade latina que presidia ao crescimento do trigo. Este templo, erguido nas proximidades do Aventino, a saída do vale do Circo Máximo (segundo todas as probabilidades, no local onde atualmente se encontra a Igreja de Santa Maria in Cosmédin), sucedia a um culto instalado neste local por imigrantes latinos, camponeses para ali transplantados depois da guerra e que se mantiveram fiéis à sua primeira protetora. Assim, não surpreende verificar que, durante toda a história de Roma, esta plebe urbana recorde (de forma mais ou menos viva e consciente) o tempo em que vivia livremente no campo, e exija que os seus defensores lhe coloque terras à disposição, votando leis agrárias.
A evolução que marcara a fisionomia do Lácio atingiu igualmente o resto da Itália, onde também se produziu uma certa concentração da propriedade. Muitas vezes, nas nações conquistadas por Roma, a burguesia local recorrera a Roma para se defender contra o partido popular e, em vez de sofrer com o novo regime, aproveitara para consolidar a sua posição. É o que se verifica, por exemplo, na Campânia. Ao lado dos antigos proprietários, os Romanos instalavam na região conquistada colonos romanos, muitas vezes antigos soldados, que partilhavam os melhores terrenos. Os restantes eram divididos em duas partes: uma era considerada ager publicus, isto é, propriedade coletiva, inalienável, do Estado romano, a outra era devolvida aos indígenas, por meio de venda ou aluguel. As partes não cultivadas até então eram abandonadas a quem as quisesse trabalhar, como outrora acontecera no Lácio. Estas medidas tinham por efeito permitir a sobrevivência do campesinato local, ao lado do campesinato formado pelos colonos romanos e seus descendentes. Quanto ao ager publicus, era geralmente ocupado, em virtude de um direito de utilização, pelos grandes senhores romanos, e também pelos grandes proprietários locais que assim constituíam latifundia, vastos domínios onde os escravos criavam rebanhos.

A partir de meados do século II, outras distrações se ofereciam aos ociosos do Fórum. Tinham chegado a Roma, timidamente primeiro, depois mais numerosos, filósofos gregos em busca de discípulos. Os epicuristas foram os primeiros. Defendiam que a vida humana tinha por fim último o prazer, que todos os seres procuram acima de tudo a satisfação da sua própria natureza. Não lhes faltaram auditores; as suas palavras acorriam os jovens, abandonando os exercícios do Campo de Marte. Mas os magistrados mostraram-se impenetráveis. Os filósofos bem pregavam que este prazer cujo evangelho defendiam não era o dos sentidos, e que não era o deboche que ensinavam, mas a abstinência: os senadores ordenaram ao pretor que expulsasse os impertinentes. Contudo, a juventude habituara-se às lições dos filósofos. Muitos senadores sentiam-se igualmente atraídos por estes discursos livres e quando em 154 (ou 155) chegaram a Roma três filósofos, Carbeades, Diógenes e Critolau, para defenderem a causa de Atenas, toda a gente se juntou à sua volta para os ouvir. Dos três, Carneades era o conferencista mais brilhante. Um dia, tomou publicamente a palavra e proferiu o elogio da Justiça - o que muito agradou aos Romanos, que se consideravam geralmente o povo mais justo do mundo. Carneades demonstrou que a Justiça era a mais nobre e a mais útil de todas as virtudes, pois só ela fundamentava os Estados e as leis. Todos aplaudiram. Mas, no dia seguinte, o mesmo, Carneades retomou a palavra sobre o mesmo tema e demonstrou o contrário do que defendera na véspera. Afirmou que a Justiça, por excelente que fosse em si mesma, era na realidade uma impossível quimera, pois, dizia, se os Romanos quisessem ser perfeitamente justos, deveriam restituir as suas conquistas. Não será a guerra uma forma de injustiça? Mas, se os Romanos tivessem a ingenuidade de renunciar as suas conquistas, não se conduziriam como imbecis? A Justiça não seria, então, uma forma de imbecilidade? E, nestas condições, como torná-la uma virtude? Carneades, ao defender este paradoxo, transportava para o Fórum polemicas de escola familiares aos Atenienses, habituados a ouvi-lo atacar o dogmatismo dos estóicos. Mas é fácil imaginar o escândalo que suscitaram em Roma estas afirmações pouco habituais e a confusão dos senadores, que tomaram a letra a ironia do Acadêmico. Apressaram-se a anular o despacho oficial que chamara a Itália os três filósofos e estes foram expulsos.
A embaixada de 155 ficou célebre na memória dos Romanos; os ecos das duas conferências de Carneades não se apagaram nos tempos mais próximos e aos filósofos que chegaram a Roma, mais numerosos do que nunca, não faltaram discípulos. Na maior parte das vezes, familiarizavam-se com os grandes, de quem se tornavam amigos e, em certos casos, diretores de consciência. Nem todos eram gregos; havia orientais helenizados, e também italianos convertidos ao pensamento grego, como Blóssio de Cumes, estóico, que foi o conselheiro mais escutado de T. Graco e muito contribuiu para que se traduzisse em fatos o ideal de humanidade (philanthropia) pregado pelos mestres do Pórtico. Pela mesma época, outro pensador estóico, Panécio, tornara-se companheiro de Cipião Emiliano, e a sua influência, largamente divulgada entre os amigos e os aliados dos Cornelii, tornou as idéias estóicas familiares aos aristocratas romanos. Estes filósofos ensinavam em casa dos seus protetores, e também nas suas casas de campo. Mas como impedir que homens que tinham a proteção de senadores e magistrados influentes tomassem a palavra em público? Acontecerá, porém, mais uma vez, no inicio do Império, e mesmo no tempo de Domiciano. Os filósofos foram expulsos de Roma, mas estas medidas foram tomadas tendo sobretudo em conta os pregadores que se reclamavam ora do cinismo, convidando os auditores a um total desprezo pelas regras mais elementares da vida social, ora de um misticismo em que as práticas divinatórias e mágicas assumiam a maior importância - o que não deixava de comportar graves riscos para a tranqüilidade pública. Estes reflexos elementares de defesa contra um perigo muito real atingiram, por vezes, pensadores autênticos, mas estes aceitavam afastar-se da Cidade por uns tempos, retirando-se para casa de amigos. Uma vez amainada a tempestade, regressavam.
Estamos muito bem informados sobre as desventuras dos filósofos no tempo de Nero e de Domiciano, pois Filóstrato legou-nos A Vida de Apolônio de Tiana. Depois de ter percorrido todo o Oriente e uma parte das cidades da Grécia, Apolônio, que se reclamava do neopitagorismo e pretendia, a força de ascese, ter conseguido entrar em comunicação direta com os deuses, concebeu finalmente o projeto de partir para Roma. Ora, diz Filóstrato, "nesse tempo Nero não tolerava que se fosse filósofo; os filósofos afiguravam-se-lhe como uma raça indiscreta por trás da qual se dissimulavam adivinhos e, por fim, o manto de filósofo acabou por conduzir quem o usasse diante dos juízes, como se fosse sinal de que se praticava a adivinhação". Já. Musónio, outro filósofo que talvez deva ser identificado com o mestre de Epíteto, Musonius Rufus, fora preso, e quando Apolónio entrou na Via Apia, acompanhado por trinta e quatro discípulos vindos com ele do Oriente, encontrou Filolau de Cittium não muito longe de Aricia. Este Filolau era, segundo Filóstrato, um hábil orador, mas tinha horror às perseguições. Sem esperar que o expulsassem, abandonara Roma de vontade própria e sempre que encontrava um filósofo pelo caminho, exortava-o a afastar-se rapidamente. Os dois homens começaram a conversar a beira da estrada. Filolau criticou Apolónio pela sua imprudência:
"Arrastas atrás de ti um coro de filósofos (na verdade, todos os discípulos de Apolónio eram reconhecidos como tal, usando manto curto, descalços, cabelos ao vento), e vêm todos oferecer-se à malevolência, ignorando que os oficiais colocados por Nero às portas da cidade vos prenderão ainda antes de fazeres menção de querer entrar".
Apolónio compreendeu que o terror perturbara Filolau. Mas apercebeu-se igualmente do perigo e, voltando-se para os discípulos, deu liberdade aos que quisessem regressar. Dos trinta e quatro discípulos restaram apenas oito e foi com este acompanhamento que Apolónio penetrou na Cidade. Na verdade, os guardas, as portas, não lhe perguntaram nada, e todos se dirigiram para o albergue, para jantar, pois era de noite. Durante a refeição entrou na sala um homem, visivelmente embriagado, que começou a cantar. Era pago pelo Imperador para ir assim, de taberna em taberna, cantar as melodias compostas por Nero. E quem o ouvisse distraidamente ou se recusasse a dar-lhe o seu óbolo era acusado de crime de lesa-majestade. Apolónio compreendeu a manobra e desmontou-a comprando o cantor. Esta aventura recorda uma passagem em que Epíteto evoca os agentes provocadores da policia imperial que vinham sentar-se junto dos clientes, nas tabernas, e lhes diziam mal do Imperador. Desgraçado daquele que ousasse concordar: era imediatamente preso.
Apolónio, usando de prudência, evitou as perseguições diretas. Foi interrogado pelo prefeito do pretório, Tigelino, mas sem malevolência. De resto, gozava de grandes apoios, em especial junto de um dos cônsules que o admirava e se interessava pelo seu pensamento. Assim, conseguiu fazer-se ouvir onde quis - mais feliz e mais hábil do que um dos seus colegas que aproveitou a inauguração dos Banhos de Nero para declamar contra o luxo em geral e contra o uso dos banhos, em particular, que, considerava um requinte contrário a ordem da natureza, e que a policia imperial expulsou para pôr termo aos seus discursos.
Mais tarde, no tempo de Domiciano, Apolónio desentendeu-se novamente com a autoridade. Desta vez foi mais grave. Foi chamado a Roma, preso e conduzido ao tribunal do Imperador. Era acusado, entre outras faltas, de praticar a magia. A iniciativa do caso não remontava, de resto, a Domiciano, mas a um certo Eufrates, filósofo de tendências estóicas, rival de Apolónio e que o perseguiu odiosamente. Denunciou-o ao Imperador, garantindo que se dedicava, no Oriente, a uma propaganda hostil ao Príncipe. Este convocou Apolónio e deu-lhe oportunidade de se defender. Desejava sobretudo saber em que medida Apolónio se encontrava em contato com as conspirações da oposição; quanto ao resto, atribula o justo valor às querelas dos filósofos e à sua atitude parece ter sido semelhante à do irmão mais velho de Sêneca, Galião, governador de Acaia, quando os juízes ortodoxos levaram S. Paulo ao seu tribunal. Desde que a ordem pública não fosse perturbada, mais valia não se imiscuir nesses assuntos.
Pela mesma época, e mais ainda no inicio do reinado de Trajano, Eufrates continuava a freqüentar as casas dos notáveis romanos e a proferir conferências públicas. Foi muito admirado por Plínio, o Moço, que exortava os amigos a ouvi-lo. Eufrates foi um dos inúmeros sofistas a volta dos quais se acotovelavam os auditores. Freqüentava, tal como os colegas, os pórticos dos novos foros e partilhava com os retóricos os aplausos do público.
Os retóricos tinham surgido em Roma mais ou menos na mesma época que os filósofos e tinham sido incluídos nas mesmas medidas de expulsão, pois eram criticados, tal como os filósofos, por atraírem a si a juventude, prejudicando o seu treino militar. Mas, progressivamente, tinham regressado. Os jovens romanos, no início do século I a.e.c., iam ouvir as suas lições e chegavam a ir a Grécia aprender a arte de falar com os mestres mais célebres. Nestas condições, era difícil expulsar de Roma os mestres de uma ciência que parecia cada vez mais indispensável na bagagem de qualquer homem culto e, segundo Cícero, de todo o romano digno desse nome. No inicio do Império, o estudo da retórica era a coroação normal da educação. Depois de ter aprendido os rudimentos com um gramático (grammaticus), o jovem, pelos 15 anos, começava a freqüentar a casa do retórico. Aí, treinava-se a compor discursos sobre temas propostos pelo mestre. Em certos dias, os alunos faziam uma espécie de discurso sobre determinado tema, rivalizando entre si em imaginação para encontrar novos argumentos ou movimentos particularmente patéticos. E, muitas vezes, nessas ocasiões, os pais dos alunos, as personagens influentes, os oradores afamados eram convidados a assistir ao concurso. Acontecia mesmo, por vezes, que homem feitos freqüentassem as carteiras dos mestres ou que estes fizessem uma demonstração do seu virtuosismo.
Os retóricos davam aulas nas éxedras dos fora - pelo menos desde o tempo de Adriano. Era ai que se escutavam as declamações dos alunos. Por vezes, depois de terminada a lição, o público espalhava-se pelos pórticos e continuava a discutir os méritos deste ou daquele discurso. No inicio dos fragmentos conservados do Satiricon, vemos o retórico Agamémnon empenhado num violento improviso, enquanto os estudantes invadem o jardim e criticam sem rodeios a declamação que acabam de ouvir. A vida intelectual não estava, como atualmente, isolada da rua; estava sempre presente, na praça pública, nas salas abertas a todos, nas conversas, e formava uma parte importante das atividades sociais.
Além dos discursos dos filósofos, das declamações dos retóricos e dos alunos, havia as leituras públicas (recitationes). A moda foi lançada no tempo de Augusto por Asinio Polio - o mesmo que dotou Roma da primeira biblioteca. Os escritores habituaram-se imediatamente a apresentar as suas obras em público, em sessões para as quais se fazia convites especiais. E, durante o Império, eram raros os romanos cultos que não alimentavam ambições literárias: compunham poemas, epopéias ou tragédias, poemas históricos ou didáticos; obras históricas, elogios, tratados de toda a espécie. Tudo isso era apresentado, como hoje diríamos, "em primeira audição". O autor solicitava a critica e era um dever de cortesia fazer algumas observações, misturadas com muitos elogios. Os próprios Imperadores gostavam de figurar entre o público, quando não davam a ler as suas próprias obras, como qualquer pessoa. Este costume não podia deixar de exercer uma profunda influência na vida literária. As obras começaram a ser cada vez mais pensadas em função da leitura pública; os autores procuram efeitos de conferencista, terminam todos os seus desenvolvimentos com uma sententia, uma fórmula contundente, que chama a atenção do auditor e resume o que acaba de ser dito.
As leituras públicas eram, por vezes, organizadas por livreiros empreendedores que por este meio davam a conhecer as novidades ou as "reedições". Tratava-se, de resto, de um uso há muito conhecido na Grécia, já que Zenão, o fundador do estoicismo, conta que ouvira ler em Atenas, na loja de um livreiro, o segundo livro das Memórias de Xenofonte, escrito havia um século. Em Roma, tanto as livrarias como as salas de declamação eram ponto de encontro dos conhecedores, que discutiam problemas literários; os jovens ouviam, os velhos clientes peroravam entre os livros cujos rolos, cuidadosamente punçados, se alinhavam por cima deles. A porta da boja estava coberta de inscrições anunciando as obras à venda; por vezes, o primeiro verso do poema encontrava-se reproduzido por baixo do busto do autor. A publicidade invadia os pilares mais próximos. Estas bojas de livreiros situavam-se, naturalmente, perto do Fórum: no próprio Fórum, no tempo de Cicero, e mais tarde ao longo do Argileto; depois da construção do Fórum da Paz, podem ver-se junto das bibliotecas de Vespasiano; os Sosii, os maiores livreiros de Roma no tempo de Augusto (eles foram, em particular, os "editores de Horácio"), encontravam-se estabelecidos junto da estátua de Vertumno, à saída do Vicus Tuscus para o Fórum romano.
Eram estes prazeres que a Cidade oferecia ao escol dos Romanos, à medida que a cultura se ia generalizando. Neste progresso e nesta vulgarização da vida intelectual, o papel dos gregos foi preponderante. Os conferencistas dos Fora imperiais eram os mesmos que se faziam ouvir, em outros momentos da sua carreira, nos agorai das grandes cidades orientais. Através de todo o Império, é um vaivém constante de intelectuais, de professores que transportavam as idéias e as modas. Mas encontraram em Roma ouvintes particularmente atentos e, desde muito cedo, discípulos que se revelaram muitas vezes dignos dos seus mestres. Teremos ocasião de insistir na real originalidade, em relação à paideia helénica, da cultura romana. Observemos desde já que a urbanitas, em Roma, era inseparável de um certo ideal intelectual e que o tempo de lazer dos citadinos - dos mais esclarecidos - não era consagrado aos divertimentos mais grosseiros.

Na Grécia, os jovens formavam-se no ginásio e a sua cultura intelectual vinha completar a educação do corpo. O ginásio não tinha por objetivo principal formar os soldados da cidade: o desporto, os exercícios eram um fim em si, uma "arte da paz" da qual se esperavam espíritos bem formados, equilibrados e nobres. Preparavam-se, com os melhores súbditos, atletas dignos de figurar nos Jogos Magnos, contribuindo assim, poderosamente, para a gloria da sua cidade. Em Roma, pelo contrário, a ginástica pura, o atletismo considerado como uma arte só por si, foram ignorados durante muito tempo. No Campo de Marte, os jovens submetiam-se a um treino quase exclusivamente militar: saltar, lançar o dardo, correr com ou sem armas, nadar, endurecer ao frio e ao calor, combater à lança, montar a cavalo. Mas tudo isto sem arte, sem qualquer preocupação de perfeição estética. Assim, quando, em 169 a.e.c., Paulo Emilio organizou jogos gimnicos em Amphipolis, os soldados romanos não fizeram nenhuma figura brilhante.
Os primeiros espetáculos de atletas foram introduzidos em Roma por Fulvius Nobilior (um senador fileleno), em 186 a.e.c. Mas os concorrentes eram, na sua maior parte, gregos chamados expressamente para a circunstância. O público romano parece não se ter divertido muito. Preferia os jogos tradicionais, sobretudo os espetáculos de gladiadores e de animais. No entanto, no fim da República, as exibições de atletas multiplicam-se com os progressos da "vida grega". Pompeu quis que figurassem nas grandes festas que marcaram a inauguração do seu teatro, e César, em 46, mandou construir expressamente um estádio provisório no Campo de Marte. Muitos romanos tinham percorrido o pais grego, vivido acampados em cidades da Asia e possuíam alguns conhecimentos da arte, embora pensassem, no fundo de si mesmos, que não passava de um divertimento pueril, indigno de um homem livre. A atração das multidões gregas pelos triunfos atléticos parecia-lhes muito exagerada, mas o aspecto da gloria não podia deixar de os seduzir. As numerosas estátuas levadas para a Cidade depois das conquistas tinham acabado por impor os cânones de beleza masculina em que se inspirava o ideal do ginásio. E, progressivamente, este mundo novo abriu-se à sua frente.
Nas cidades latinas sempre tinham existido lutadores nas praças públicas, em volta dos quais se reuniam os papalvos. Augusto, diz-nos Suetônio, apreciava muito esses espetáculos e, por vezes, fomentava lutas contra especialistas gregos. Esperava, com certeza, que os Romanos ganhassem gosto pelo atletismo, gosto esse que possuía em alto grau. Cabe-lhe a honra de ter instituído, para comemorar a vitória de Accio, jogos celebrados de quatro em quatro anos na cidade de Nicópolis, que fundara perto de Accio. Com este gesto, pretendeu honrar Apolo, seu protetor, mas, conscientemente, imitava também o rito grego dos Grandes Jogos. Os jogos de Accio figuraram ao lado dos quatro grandes santuários helênicos, Olimpia, Delfos, Corinto e Nemeia. E o seu cerimonial reproduziu-se em Roma; acompanhou a festa anual do templo de Apolo Palatino. Realizaram-se, além dos combates de gladiadores, corridas de carros e exibições de atletas no Campo de Marte. Estes jogos de Augusto não sobreviveram ao seu reinado mas o hábito tinha sido adquirido e o atletismo ganhara o direito de cidade romana.
O triunfo dos jogos gregos foi, evidentemente, o reinado de Nero. Todavia, a atração pelo atletismo é anterior à instituição de um concurso quinquenal chamado Jogos Neronianos (Neronia) e a festa anual do ginásio do Campo de Marte, para a qual o imperador, seguindo o exemplo dos soberanos helenísticos, previu um abastecimento de óleo destinado ao uso de quem treinasse, fosse senador ou cavaleiro. Sabemos, por um tratado de Sêneca, o diálogo Sobre a Fugacidade da Vida, que data de 49 d.e.c., que os nobres romanos se apaixonavam pelos campeões de atletismo, que os acompanhavam ao estádio e à sala de treinos, que partilhavam dos seus lazeres e acompanhavam os progressos dos novos atletas, que honravam com a sua proteção. Nero, ao multiplicar os espetáculos deste gênero, estava longe, portanto, de inovar; limitava-se a seguir uma moda já bem estabelecida. A partir do seu reinado, os jogos gregos multiplicaram-se. Os célebres Jogos Capitolinos, instituídos por Domiciano, atraíram grandes multidões e continuaram a ser celebrados pelo menos durante todo o século II e o século III da nossa era. Domiciano (como já acontecera com Nero) acrescentara aos concursos de atletas competições puramente literárias, um prêmio de eloqüência grega, um prêmio de eloqüência latina, outro de poesia: O que nos mostra a que ponto o ideal da paideia é então aceito na sua totalidade. Excelência do espírito e excelência do corpo tornaram-se inseparáveis. Para estes concursos, Domiciano mandou construir um edifício especial, um estádio, no Campo de Marte: a forma deste estádio ainda hoje se pode ver na Praça Navone, que ocupa o mesmo espaço, e as suas substruções foram postas a descoberto por escavações recentes. Teria uma lotação de trinta mil espectadores, O que nos prova, diga-se o que se disser, a popularidade destes espetáculos. É verdade que alguns espíritos tradicionalistas criticavam esta consagração da paideia grega; a oposição senatorial não perdeu tão excelente ocasião de protestar contra esta infidelidade à tradição dos antepassados, mas Roma não podia entregar as cidades do Oriente o monopólio destes concursos de atletismo. Capital do mundo, era seu dever acolher todas as formas da gloria e não recusar, em nome de um conservantismo tacanho, um ideal de beleza humana que, no passado, inspirava o classicismo grego. Por outro lado, o que chocava a maior parte dos detractores do atletismo, era o fato de ele ter degenerado da sua principal finalidade e, em vez de moldar harmoniosamente o corpo dos que o praticavam, tendeu a produzir campeões de másculos hipertrofiados, a propósito dos quais Sêneca escreveu:
"Que ridícula ocupação, meu caro Lucilius, e tão pouco adaptada a um homem culto, essa que consiste em treinar os músculos, em fortalecer a nuca e adelgaçar as ancas. Quando te encontrares forte como desejas, de músculos bem salientes, verás que nem assim terás atingido a força nem o peso de um boi..."
Mas considerações como estas não impediam que muitos jovens tivessem lições de ginástica com atletas de renome, de orelhas esmagadas em gloriosos combates, e até mesmo que certos romanos ricos tivessem em casa, ao lado do medico, especialistas que os treinavam e chegavam a regular minuciosamente todos os pormenores da sua vida.
Os espetáculos de atletismo, importados da Grécia, nunca conseguiram agradar tanto as multidões romanas como os jogos nacionais, pois não pertenciam, como estes, a mais profunda tradição religiosa da cidade.
Os jogos romanos, na sua essência, são atos religiosos. Representam um ritual necessário para manter as desejadas boas relações entre a cidade e os deuses: este caráter primitivo nunca será esquecido e, já muito tarde, ainda era uso assistir em cabelo aos combates do anfiteatro ou as corridas do circo, como se assistia aos sacrifícios.

A partir do momento da conversão de Constantino, a posição da Igreja cristã na sociedade romana mudou. Por meio do denominado Edito de Milão (313), a Igreja recuperou suas propriedades, confiscadas durante a grande perseguição e, começando pela Africa durante os primeiros anos do reinado de Constantino, recebeu fundos adicionais e outros benefícios do imperador. A Igreja conseguiu para seus clérigos a dispensa das obrigações civis (embora se supusesse que na ordenação de um clérigo o cumprimento dessas obrigações seria assumido por um substituto); os bispos conquistaram direitos de jurisdição civil com ou sem o consentimento das partes. Como conseqüência disso, os litigantes obtiveram uma serie de benefícios práticos, já que foram liberados do que Constantino denominava as "infindáveis malhas dos litígios" por uma jurisdição mais rápida e honesta. Mas o sistema trouxe consigo evidentes abusos, como quando Libanio se queixava das atividades do bispo de Antioquia, que no exercício de sua jurisdição episcopal decidiu a favor dos monges as disputas territoriais que ele mesmo havia submetido. Com a obtenção de tal poder, os bispos logo se tornaram figuras proeminentes de suas comunidades; suas igrejas adquiriram grande importância e, com a obtenção de doações e legados, transformaram-se freqüentemente em instituições muito florescentes.
Em uma ocasião, São Jerônimo fez uma promessa tentadora e não cumprida de escrever uma história na qual mostraria come a Igreja durante o século IV "havia crescido rica em opulência e posses, porem pobre em virtude". São Jerônimo teria apreciado a descrição que faz o historiador Amiano Marcelino do desfile dos prelados em volta da cidade de Roma, magnificamente ornamentados, rodeados por uma multidão de admiradores e comendo como reis. Nesse escrito Amiano os compara com os humildes e louváveis homens do clero provinciano. Apesar disso, o próprio protetor de São Jerônimo, São Dâmaso (367-83), era bem conhecido entre os bispos de Roma por ter em alta conta a distinção de seu cargo.
Jerônimo também levou em conta as divisões religiosas que dilaceraram a Igreja no século IV. Constantino ficou consternado no principio de seu reinado pela divisão na Igreja africana entre católicos e donatistas, quando estes últimos opuseram-se a ordenação como bispo de Cartago de um candidato que se acreditava que havia entregado as Escrituras durante a Grande Perseguição. Este cisma, que dominou no século IV a vida da Igreja africana, somente desapareceu com os esforços de Santo Agustinho e seus colegas no inicio de século IV, no meio de grandes rancores e com a ajuda de concílios prudentemente dirigidos e apoiados pela legislação imperial.
Ao chegar ao Oriente, em 324, Constantino enfrentou imediatamente o problema do arianismo. Ario, sacerdote de Alexandria, havia desenvolvido teorias relativas a natureza de Deus que deviam grande parte de sua forma conceitual à filosofia neoplatônica. Concebia a Trindade como uma hierarquia de seres divinos encabeçados por deus-Pai; e argumentou que o Filho, o Logos, embora houvesse existido antes do tempo, foi criado pelo Pai e é subordinado a ele. Nesse e em outros sistemas teológicos aparentados, o Filho é visto como o Demiurgo ou agente criador e como intermediário entre o Pai e o mundo criado. A opinião ortodoxa recusou-se a aceitar esta distinção entre as pessoas da Trindade. No concilio de Nicéia, convocado em 325 para resolver o problema, o próprio Constantino proporcionou a solução, afirmando que Pai e Filho são "consubstanciais" (em grego, homoousios); obteve a aceitação de todos, exceto a de dois uo três clérigos recalcitrantes, que foram exilados. De fato, nem o concilio de Nicéia nem o "Credo" que dele surgiu, incorporando à formula de Constantino, puderam reconciliar as diferenças entre as posições ariana e ortodoxa. O movimento arianista seguiu predominando no império oriental ate que Teodosio impôs uma definição da ortodoxia estritamente ajustada a Nicéia e eliminou o serio problema do arianismo no Oriente.
Os imperadores viram-se obrigados a participar de perto destas controvérsias teológicas e parece que algumas vezes lucraram com isso. Constantemente eram informados por embaixadas eclesiásticos, convocavam concílios eclesiásticos, influíam em seus procedimentos e empregavam a autoridade secular para impor suas decisões e depor e exilar os bispos recalcitrantes, como Liberio de Roma e Atanasio de Alexandria. Amiano Marcelino escreveu, embora com exagero proposital, que na época de Constantino o serviço de transporte imperial, o cursus publicus, esteve a ponto de entrar em colapso por causa do numero de bispos que viajavam de um sínodo a outro com permissão imperial.
Apesar de sua intervenção na direção dos concílios eclesiásticos, de seu recurso ao bravo secular para fazer cumprir suas decisões, e apesar da enorme e ameaçadora autoridade que algumas vezes exerceram sobre a Igreja, os imperadores do século IV não se encontraram nunca em condição de definir por si mesmos a doutrina oficial e não foram tornados em nenhum sentido como cabeças da Igreja. De fato, a posição desejada por Juliano, que escreveu cartas aos sacerdotes de seu paganismo reformado indicando-lhes como de veriam se vestir e comportar em publico, o que deveriam ler e quais doutrinas deveriam aceitar era muito mais teocrática e "cesaropapista" que de qualquer imperador cristão.
No Ocidente, o bispo Ambrósio de Milão de se empenhou uma grande influencia sobre os imperadores que as vezes residiram na cidade. En 389, desafiou Teodósio em público na abarrotada catedral de Milão e obrigou o imperador a rescindir a ordem que havia dado ao bispo e a Igreja de Callinicum, no Eufrates, para que restaurasse uma sinagoga que haviam destruído; no ano seguinte, utilizando métodos similares, fez que Teodósio cumprisse uma penitencia pelo massacre que seus soldados haviam cometido na Tessalônica. Ambrósio teve uma concepção muito clara das obrigações de um imperador cristão embora nenhuma fonte da época interpretasse essas suas intervenções como uma solução de principio entre Igreja e Estado. Apesar das vantagens obtidas pela Igreja e da imensa influencia exercida por certos bispos, ela não adquiriu uma posição formal reconhecida dentro da estrutura constitucional do baixo império romano. Suas relações tom o governo imperial foram e continuaram sendo as de um grupo de pressão privilegiado e bem organizado.

Materialmente livre dentro dos limites da convenção, o ex-escravo permanece simbolicamente sob a dependência do patrono, e os romanos, que gostavam dos trocadilhos paternalistas, repetiam que um liberto tem deveres de filho para com o ex-senhor, cujo nome de família se tornou o seu; tem para com ele deveres de "devoção". A obrigação imposta aos libertos de ir duas vezes por dia à casa do amo dar-lhe bom-dia e boa-noite caiu em desuso. Em contrapartida, a devoção queria que fizessem visitas de respeito, e a Cistellaria mostra como a cena era tensa: o liberto exaspera-se por sentir sobre si o peso de um poder que não tem mais como obrigá-lo e no entanto ainda existe; o patrono, por sua vez, sabe que seu tempo passou, que o liberto o odeia, ao mesmo tempo que o teme, e assim mesmo se faz de importante. Tais relações muito prolongadas eram ainda mais pesadas quando o escravo obtinha a liberdade à custa de trabalhos determinados que executaria para o patrono após a libertação (operae libertorum). Ao que parece, um liberto não era obrigado, como os clientes, a fazer ao patrono uma visita protocolar (salutatió) todas as manhãs; em contrapartida, muitas vezes era convidado a jantar e encontrava-se à mesa não tão longe dos clientes. Consta que não eram raras as rixas entre essas duas espécies desiguais de fiéis: para um cliente pobre era difícil sofrer a concorrência, junto ao patrono, de um ex-escravo próspero; os poetas Juvenal e Marcial, reduzidos a cortejar os grandes para viver, odiavam tanto os libertos ricos como os clientes de nacionalidade grega, pois uns e outros eram seus concorrentes.
Com a "corte que lhe fazem os clientes e os libertos laboriosos não ingratos", como diz Frontão, uma casa brilha na cena pública da notoriedade, condição necessária e suficiente para que a considerem digna de pertencer à classe que governa: "Tive muitos clientes", escreve um liberto riquíssimo para ilustrar seu sucesso. O que é um cliente? Um homem livre que vem fazer a corte ao pai de família e orgulhosamente se proclama seu cliente; é rico ou pobre, poderoso ou miserável, às vezes mais poderoso que o patrono ao qual saúda. Podemos enumerar pelo menos quatro espécies de clientes: os que desejam fazer carreira pública e contam com a proteção do patrono; gente de negócios cujos interesses o patrono servirá com sua influência política e com maior boa vontade se estiver associado a eles, como frequentemente ocorre; pobres-diabos, poetas, filósofos que em geral vivem das esmolas do patrono (entre eles, muitos gregos) e que, não sendo gente do povo, achariam desonroso trabalhar ao invés de viver da proteção dos grandes; e, por fim, aqueles que são bastante poderosos para pertencer ao mesmo mundo do patrono e legitimamente aspirar a ser incluídos em seu testamento em agradecimento a suas homenagens (entre eles encontram-se tanto os mais altos personagens do Estado quanto libertos do Imperador, administradores todo-poderosos): um velho rico sem descendência tinha muitos clientes desse tipo.
Tal é a multidão que todas as manhãs faz fila diante da porta do patrono, na hora em que cantam os galos e os romanos se levantam. São algumas dezenas, às vezes centenas. Celebridades locais também são assediadas, embora por grupos mais reduzidos; longe de Roma, através das cidades, os mar, poderosos notáveis também têm sua clientela. Nada há de surpreendentes no fato de um homem rico ou influente viver invado de protegidos e amigos interessados, mas entre os romanos tal evidência tornou-se uma instituição e um rito. "A arraia-miúda", escreve Vitrúvio, "são aqueles que fazem visitas e não recebem ninguém." Quem é cliente de alguém não deixa de dizê-lo abertamente para se vangloriar e manifestar a influência do patrono; declara-se "cliente de Fulano", "íntimo da casa de Beltrano"; quem não pertence à plebe ignara manda construir à própria custa uma estátua do patrono em praça pública ou na casa dele; a inscrição, na base, enumera as funções públicas do patrono, do qual o autor da homenagem se declara cliente, com todas as letras. Um patrono afável protestou em semelhante caso que a palavra amigo seria mais justa; tanto que "amigo" se tornou sinônimo lisonjeiro de cliente.
A saudação matinal é um rito; faltar-lhe equivaleria a renegar o laço de clientela. Os visitantes fazem fila em veste de cerimônia (toga) e cada um recebe simbolicamente uma espécie de gorjeta (sportula), que permite aos mais pobres ter o que comer nesse dia; tanto que a gorjeta foi substituída pela pura e simples distribuição de alimentos... Os clientes são admitidos na antecâmara segundo uma ordem implacavelmente hierárquica em que se encontram as posições da organização cívica; é a mesma coisa nos jantares, em que as diferentes categorias cívicas de convivas se veem recebendo pratos diferentes e vinhos de qualidade diversa conforme sua respectiva posição; tudo destaca a hierarquia. Em outras palavras, o pai de família não recebe as saudações individuais de certo número de amigos, mas admite em sua casa um fragmento da sociedade romana, que o visita em bloco, com seus níveis e desigualdades públicas, e sobre o qual ele tem autoridade moral; sempre sabe a seu respeito mais que os clientes. "Um rico patrono", escreve Horário, "vos governa como faria uma boa mãe e exige de vós mais sabedoria e virtude do que ele próprio tem."
Autoridade Moral
O poder econômico que a casa exerce sobre seus camponeses, mantidos pelo contrato de meeiros, comporta igualmente uma autoridade moral. Na época das perseguições da Igreja, os proprietários cristãos que, assustados, decidiam sacrificar aos ídolos carregavam consigo na apostasia rendeiros e clientes (amici), os quais sacrificavam como eles; outros senhores, com um toque de varinha mágica, convertiam todos os habitantes de seu domínio, resolvendo que, dali em diante, o culto rústico celebrado por seus camponeses seria oferecido ao "verdadeiro" deus, mandando demolir o santuário ancestral que se erguia em suas terras e construindo no local uma igreja. A auréola de prestígio que envolve a casa constitui também uma área de autoridade. Três séculos antes, Catilina arrastara seus meeiros em uma insurreição contra o Senado; e Cícero, ao partir para o exílio, tivera o consolo de ouvir os amigos colocarem a seu serviço "a própria pessoa, os filhos, os amigos, os clientes, os libertos, os escravos e os bens".
A casa exerce um poder material e moral sobre os que a compõem e sobre os que a cercam; ora, na mente de todos, seu poder sobre esse pequeno círculo a qualifica também como membro da classe que governa cada cidade ou até o Império todo. Mesmo em Roma, escreve Tácito, "a parte sã do povo via tudo pelos olhos das grandes casas". Ser rico e ter autoridade sobre um pequeno círculo (era realmente um) qualificava também politicamente. Claro que a consciência coletiva não sofria materialmente o poder que cada casa exercia em seu pequeno círculo! Era uma ideia subentendida que assegurava a transição: governar os homens não é uma função especializada, mas o exercício do direito natural que os animais de grande porte têm de governar os menores. Grandeza social e legitimação política andando juntas, o exercício das funções públicas não era uma função especializada, como no mundo de hoje, no qual, mesmo que as "duzentas famílias" governem, não se sentam em pessoa nos bancos do Parlamento. No mundo romano os nobres e os notáveis compunham fisicamente o Senado e os conselhos de todas as cidades, ainda que nessas assembleias o número de cadeiras fosse limitado e nem todos os notáveis encontrassem lugar.
Poder social e político: há ainda outra coisa, menor e mais geral; quem possui um nome importante deve estar presente em tudo que interessa às pessoas e desempenhar um papel honorífico. É um dos aspectos, o mais anódino, do fenômeno polimorfo que era a clientela. O Império Romano, esse governo indireto, consistia em uma federação de cidades autônomas; todo membro da nobreza, fosse senador ou cavaleiro, devia receber ou merecer o título de patrono de uma dessas cidades ou, se possível, de várias. Na verdade, não passava de um título honorífico; tinha como causa ou consequência algum benefício ou serviço que o patrono prestara à comunidade: doar uma soma ao Tesouro municipal, construir ou restaurar um edifício, defender a cidade em alguma querela de fronteira. Em troca, o patrono podia afixar em sua antecâmara uma carta oficial honorífica que a cidade lhe dirigia; seus lutos familiares tornavam-se eventos locais; a comunidade protegida, a qual ele não deixava de informar, endereçava-lhe em resposta um decreto de consolação; se ele chegava à cidade, era recebido oficialmente e fazia uma entrada solene, à maneira de um soberano. A clientela urbana constituía assim um dos caminhos abertos a essa ambição pelos símbolos; mesmo as inumeráveis associações (collegia) pelo prazer do convívio tinham seus nobres patronos; o objetivo principal desses colégios era banquetear-se; o patrono não recebia outro poder efetivo além daquele de decidir, talvez, sobre o cardápio do festim que oferecia a sua custa. A ambição pelos símbolos foi uma das paixões dominantes do mundo greco- romano.
Com algumas nuanças regionais. A Itália é o reino da clientela. Em terra grega, sofre-se como por toda parte a influência, o poder econômico e as altas relações dos ricos, aliados naturais dos romanos, donos do país. Poderosos personagens de tempos em tempos tiranizam sua cidade. Em contrapartida, as pompas, vaidades e saudações da clientela são desconhecidas. Os libertos não chegam à primeira fila (em Atenas compõem a metade dessa multidão de semicidadãos que não se incluem no demo em seu epitáfio) nem glorificam o ex-senhor. No entanto, o mecenato, essa ruinosa ambição pelos símbolos, reinava ainda na Grécia mais que na Itália, que recebera seu exemplo dos próprios gregos, e que os modernos chamam de "evergetismo".
Em suma, a classe governante procura recrutar menos governantes capazes que indivíduos que lhe mostrem num espelho o conjunto das qualidades privadas que ela aprecia em si mesma: opulência, educação, autoridade natural. Prefere julgar tais qualidades com os olhos, pois não saberia defini-las com critérios regulamentares; por isso a cooptação continua sendo o princípio que tacitamente domina o ingresso nessa classe e as promoções em dignidade. Só que não é a classe em bloco que procede à escolha dos eleitos: cada um de seus membros tem sua fileira de protegidos, que recomenda aos confrades, mediante a troca do mesmo bom procedimento; o próprio imperador nomeia para altos cargos de acordo com tais recomendações. O sistema assegura a cada personagem importante o prazer de reinar sobre um rebanho de postulantes. Clientela, portanto; mas tomemos cuidado com esse termo vago e enganoso. Há duas espécies de clientela: ora é o cliente que precisa de um patrono; ora é o patrono que corre atrás do cliente para sua própria glória. No primeiro caso, o patrono realmente exerce poder; no segundo, disputa com seus pares os clientes, que são os verdadeiros senhores. É então o patrono que precisa do cliente.
Nem toda clientela, infelizmente, era da mesma espécie. "Em Ístria", conta Tácito, "a casa dos Crassus sempre tinha clientes, terras e um nome sempre popular." Nos campos reinava por toda parte um patronato comparável ao caciquismo sul-americano; por toda parte os grandes proprietários tiranizavam e protegiam os camponeses dos arredores; aldeias inteiras entregavam-se a um desses protetores, para ao menos estar ao abrigo de outras. Às vezes o patronato constituía mais uma aposta sobre o futuro que um efeito do estado de coisas; durante uma guerra civil, conta o mesmo Tácito, a cidade de Fréjus uniu-se ao bom partido para seguir um de seus filhos, que se tornou personagem importante; assim agiu "por zelo de compatriotas e na esperança de que um dia ele fosse poderoso".
A bem da verdade, "clientela" e "patronato" são palavras que os romanos usam a torto e a direito; com elas pensam as mais diferentes relações. Uma nação protegida será "cliente" de um Estado poderoso, um acusado será defendido na justiça pelo patrono, a menos que inversamente não reconheça como patrono o homem que se dispõe a defendê-lo. Não há nada mais falacioso que os estudos de vocabulário. Ora se protege porque se domina de outro modo; ora se é escolhido como patrono a fim de proteger. O segundo caso é o do patronato das carreiras: o jovem ambicioso que procura uma promoção não pertence à classe dos pobres coitados que sofrem a influência de algum vizinho poderoso, amam-no, servem-no e recorrem a seu apoio. Esse jovem se pergunta que patrono deve escolher: um compratiotas?, um velho amigo bem posicionado?, o homem que protegeu os primeiros passos de seu pai na carreira? O protetor assim eleito o recomendará pela única razão de que o jovem, ainda na véspera talvez um desconhecido, se confiou a ele, sabendo que, se não aceitar essa fidelidade que lhe é oferecida, outro a receberá. Os romanos costumavam transformar uma relação geral em relações individuais ritualizadas; a geração ascendente dividia-se em mil clientelas e todas as manhãs ia saudar os patronos.
Em troca de sua proteção o patrono ganhava o prazer de não ter menos protegidos que seus pares. A circulação das elites políticas se processava através de canais de conhecimento pessoal que criavam deveres de homenagens verbais e pecados de ingratidão. Os patronos tinham a ilusão de construir por pura amizade a carreira de jovens respeitosos; tinham prazer em aconselhá-los (Cícero assume com o jovem Trebácio um tom condescendente que não se permite com seus outros correspondentes); escreviam numerosas cartas de recomendação a seus pares. Transformadas quase em gênero literário, tais cartas em geral são vazias: basta informar o nome do protegido; cada patrono confia em seus pares e troca com eles sua parte de influência, sem dúvida à custa de uma censura preliminar que cada um exercia sobre si mesmo: sob pena de perder todo crédito, devia-se recomendar apenas os postulantes que a opinião da classe governante podia aceitar. Ora, o crédito faz tudo: quem tem muitos protegidos e postos para distribuir recebe todas as manhãs a saudação de uma pequena multidão. Em contrapartida, quem renuncia a qualquer papel público será abandonado por todos, "não terá mais séquito, nem escolta ao redor de sua liteira, nem visitantes em sua antecâmara". Uma clara divisão entre a vida pública e a vida privada não decorria nem da lei nem do costume; só a prudência podia decidir. "Deixa, pois, teus clientes e vem jantar tranquilamente em minha casa", diz a um amigo o sábio Horácio.

Os processos efetivos de governo do Império Romano continuaram quase os mesmos desde os Flávios ate os Severos. Os imperadores comumente não tinham por si mesmos grandes iniciativas, salvo em questões de política militar, nem estavam preparados para fazê-lo. Não possuam meios (e nem sequer sentiam necessidade de fazê-lo) para consultar a opinião publica; por outro lado, tampouco podiam idealizar os instrumentos de atuação política que nos governos modernos são naturais. Os governadores provinciais administravam as províncias a seu bel-prazer, com a única limitação de uma linha geral marcada pelos imperadores. A administração financeira das cidades era uma das poucas áreas em que os imperadores intervinham, e o foram fazendo com maior intensidade à medida que o tempo passava, em parte pela nomeação de funcionários instruídos para supervisionar a organização financeira das cidades, em parte exigindo o consentimento do imperador ou do governador provincial nos acordos municipais sobre material financeiras. Em geral, os imperadores governavam respondendo as consultas que lhes eram feitas. Se uma comunidade desejava dirigir-se diretamente ao imperador, fazia-o mediante um acordo tomado de forma conveniente pelo conselho e pela assembléia, que era enviado ao imperador, algumas vezes em forma de carta através do governador da província, e outras mediante uma embaixada que apresentava o caso apoiando o acordo. As inscrições mostram que a participação nas embaixadas é em seu financiamento era uma das formal de munificência cívica que praticaram com mais freqüência os dirigentes das comunidades locais.
O procedimento normal de uma embaixada, como ilustram numerosas histórias e os conselhos dos livros de pratica retórica, era muito simples: ela se apresentava diante do imperador, mostrava-lhe o acordo e expunha a defesa do caso o mais persuasivamente possível. Esses procedimentos, naturalmente, dependiam do uso da ret6óca (que era precisamente a arte da persuasão), e é com esse fundo de utilidade pratica que podemos entender, ao menos em parte, o imenso prestigio que alcançou a retórica no Império da era antonina. O movimento literário conhecido como "segunda sofistica" se caracteriza por um amalgama de cultura filosófica e literária que teve como resultado a que foi denominada "oratória de concerto", na qual freqüentemente se dá total liberdade ao brilho pessoal. O marco de referencia dessa oratória (que sobrevive sobretudo em grego, com alguns exemplos em latim) se assentava na literatura do passado, especialmente em Homero, e nos escritores e oradores gregos dos séculos V e IV a.e.c. Por exemplo, quando um sofista árabe se dirige ao imperador Caracala na Germania, ele se compara a Demóstenes quando se apresentou valentemente diante de Filipe da Macedônia; embora a comparação possa parecer exagerada e remota, todos os ali presentes a consideraram apropriada para a ocasião, e ela criou o fundo de simpatia e compreensão próprias para a adoção de soluções praticas. Sugeriu-se que, fazendo menção constante ao passado remoto, os gregos do Império Romano viam compensada sua carência de poder político significativo. Isso é verdade em parte; por outro lado, essa malha cultural proporcionava um modo de comunicação entre os indivíduos e entre as comunidades e seu imperador.

Se é verdade que as lendas de um povo ou de uma raça nos revelam os traços mais profundos e as aspirações da sua alma, as de Roma, pelo lugar que concedem às estórias de amor, sugerem que os duros conquistadores do mundo dissimulavam em si uma ternura mais exigente do que eles mesmos se permitiram confessar. A história da sua cidade começa com um romance de amor: a paixão súbita do deus Marte pela “vestal” Reia Sílvia. Mas, se formos mais atrás ainda, até ao tempo em que, sob as muralhas de Tróia, se decidiu a sorte do mundo futuro, foi ainda um romance de amor que determinou o desenrolar dos destinos e no fim do qual começa a fortuna de Roma. Este romance dos primeiros tempos é contado por um Hino Homérico.
Na montanha Ida, na Frigia, Anquises guardava os seus rebanhos. Anquises era sobrinho de Laomedonte, que reinava em Tróia. Era belo. Neste tempo, os príncipes, e às vezes os deuses, não desdenhavam fazer-se pastores. Ora, a deusa Afrodite tinha visto Anquises e sentiu-se perdida de amor por ele. Afrodite não podia resistir a uma paixão. Sem tardar, vai ao encontro do belo pastor e conta-lhe toda uma estória que vai inventando. Ela é, diz-lhe, uma filha do rei da Frigia. O deus Hermes raptou-a e levou-a para a montanha. Está muito triste, porque ninguém vem em seu socorro! Anquises compadece-se; a conversa torna-se mais terna. Nessa mesma noite, o belo pastor e a deusa, sob o seu disfarce de mortal, unem-se um ao outro. Afrodite, satisfeita, não finge mais. Revela a sua divindade e anuncia a Anquises que em breve lhe dará um filho, mas recomenda-lhe formalmente que não diga a ninguém que a mãe é a deusa do amor, porque, caso contrário, Zeus, irritado por se descobrirem os segredos dos deuses, fulminaria o indiscreto com o seu raio.
Ora, alguns anos depois, Anquises embriagou-se e, por isso, perdeu a discrição. Por gabarolice, revelou aos companheiros a origem do seu filho, o pequeno Eneias. Zeus, indulgente apesar de tudo - também ele era pai, e orgulhoso dos seus filhos - , deixou-lhe a vida, contentando-se em torná-lo coxo (outros dizem em torná-lo cego). Mais tarde, quando Tróia foi tomada, Anquises deixou a sua pátria, levado aos ombros do seu filho, e foi com o pequeno grupo de troianos exilados até a Sicília onde, segundo se conta, terá morrido.
Esta lenda era muito popular em toda a bacia do Mediterrâneo e, desde o século VI a.e.c., pelo menos, tinha chegado à Itália. A imagem de Eneias levando aos ombros o velho Anquises era familiar ao fiéis que iam em peregrinação ao santuário do etrusco Veios, alguns quilômetros ao norte de Roma. Era também familiar aos Romanos, que, desde uma época muito antiga, reivindicavam origem troiana.
Na verdade, os Romanos gostavam mais de se afirmar descendentes de Eneias que de Vênus. Os caprichos da paixão amorosa inquietavam-nos. Preferiam aquela ternura mais calma de que Eneias era o símbolo e a que chamavam piedade - e que era, simultaneamente, afeição filial, devoção, levada até ao heroísmo, para com os entes queridos e sentido de um dever transcendente, anterior a qualquer lei humana, que era expressão da ordem divina -, aquela piedade que consideravam uma das exigências mais profundas da vida moral.
O filho de Afrodite, vencido na sua pátria, privado da sua casa e dos seus tesouros, não quis salvar senão o pai, os deuses do seu lar e o seu próprio filho, o pequeno Ascânio. Quanto à sua mulher, Creúsa, tivera de a abandonar na cidade condenada, em obediência a um dever mais forte do que o amor humano.
Em outros tempos, as regras sociais teriam obrigado Eneias a mostrar-se mais atento à salvação da sua mulher, talvez mesmo a dar-lhe a prioridade em relação à salvação do pai, e os exegetas de Virgílio, que contou a lenda na Eneida, não deixaram de censurar ao herói o que chamam a sua desenvoltura para com Creúsa. Virgílio, no entanto, não podia nem queria alterar nada à lenda. Apenas introduziu certas emoções humanas que estavam dela ausentes - a dor de Eneias, os riscos que voluntariamente correu para tentar salvar a infeliz -, mas o sentido da narrativa continuou a ser claro: a “piedade” do herói para com Anquises e Ascânio é um dever divino, a sua afeição por Creúsa é apenas um amor humano. Sacrificando Creúsa, fere apenas o seu coração, se a tivesse preferido aos da sua raça seria culpado e não respeitaria a ordem do mundo.
Em outra ocasião, durante a sua interminável viagem para a Terra Prometida, Eneias terá de sacrificar uma vez mais a ternura do seu coração.
A sua aventura com a rainha Dido tem o mesmo significado que o abandono, involuntário, de Creúsa.
Depois da tempestade que o lançara, com os seus navios, para a costa africana, Eneias acreditara terem terminado as suas provas. No local onde Eneias chegara, um povo novo construía uma cidade. Uma rainha, vinda de Sídon, lançava as fundações de um império. Informada da epopeia troiana, acolheu os náufragos com benevolência, comovida com as suas desgraças e sensível à sua coragem. Também ela não fora poupada pelo destino. Vira o seu próprio irmão assassinar aquele com quem tinha casado e que amava acima de tudo o mais. Fugira do seu país para escapar a uma morte mais do que provável e agora tentava fundar uma nova pátria entre os Númidas bárbaros. Quantos sentimentos partilhados entre o troiano e a rainha! Sentiam a mesma nostalgia pelo Oriente, por uma civilização que parecia ser ainda mais preciosa, porque a terra africana e o Ocidente mediterrânico só ofereciam, por todo o lado, florestas selvagens ou povos nômades sem cidades nem leis. Tinham o mesmo desejo de criar, neste deserto, um oásis humano, uma “cidade” que teria os seus deuses, os seus templos, os seus lugares públicos, a sua vida coletiva, onde as qualidades e as virtudes humanas poderiam desenvolver-se e expandir-se. Para além disso, Dido, a rainha aventurosa, está tão só quanto Eneias na missão que se atribuiu. Ambos conduzem um povo - e estão condenados à maior das solidões.
Assim, a tentação de unir os seus destinos é para ambos imediatamente irresistível. Quase nem é necessário que os deuses intervenham. Basta uma ocasião, uma expedição de caça, uma trovoada que separa Eneias e Dido do seu séquito na montanha, o asilo cúmplice de uma gruta onde ambos se refugiam e ei-los, como anteriormente Afrodite e Anquises, unidos um ao outro. Dido julgou mesmo distinguir, nos relâmpagos que, por momentos, iluminaram a gruta, o fogo das tochas do himeneu. Deixou-se levar pela ilusão de que os deuses aprovam esta relação que ela aceita com felicidade. Eneias, esse, deixa-se amar. Não sente qualquer vergonha nem receio por este compromisso a que todo o seu ser se entrega. Desempenha, com total boa-fé, o seu papel de marido e de rei - até ao dia em que os deuses lhe recordam que a sua missão não é ali: a sua “Terra Prometida” espera-o. Recusará ao seu filho Ascânio e à raça de ambos a grande fortuna que lhes reserva o Destino? E o filho de Vênus, dilacerado, uma vez mais, mas sem hesitar, sacrifica o seu amor humano ao seu dever. Parte. Dido, quando ele lhe diz o que decidiu, enche-o de censuras. Fica desesperada com esta fuga diante do seu amor. Ele sabe-o, mas deixa-a, apesar disso. Ela, com cólera e vergonha, por que acreditou por um momento que Eneias podia substituir junto de si o marido, Siqueu, e porque, abandonada, toma consciência do seu perjúrio, decide morrer. Na parte mais alta do seu palácio, acende uma imensa fogueira, que será a sua pira funerária, e a chama ilumina o céu enquanto os navios do troiano fogem para norte.
Este “romance de Dido”, que ocupa todo um livro da Eneida, o quarto, provavelmente não foi inventado por Virgílio. Parece que o velho poeta Névio já o tinha conhecido dois séculos antes. Pertence mais à tradição romana do que à imaginação de Virgílio. Não há dúvida de que o poeta ou o escritor que o inventou mostrou ter o sentido das exigências morais mais profundas da sua raça. Nesta ordem de ideias, a história merece a atenção de quem se propõe analisar a atitude dos Romanos perante o amor. É significativo verificar, de fato, que o herói a quem Roma tem orgulho de fazer remontar a sua origem subordine por duas vezes os desejos do coração ao cumprimento do dever, que prefira “mudar os seus desejos em vez de mudar a ordem do mundo”, antecipando assim uma fórmula famosa. E, no entanto, ele é filho de Vênus! Para continuar fiel à sua origem, não deveria ter colocado os “direitos” da paixão acima de qualquer dever? Não nasceu ele de um capricho de mulher apaixonada, ou, melhor, de um capricho da própria deusa do amor?
Todavia, pensavam os Romanos, um capricho de Vênus teria de ser algo mais do que um capricho de mulher. Uma vez que Vênus é uma deusa, todas as suas ações se situam no plano da Providência. Entregando-se a Anquises, realizou na sua carne a vontade dos Destinos, ao passo que o capricho amoroso de uma mortal é cego e deixado ao acaso. Vênus, além disso, e tanto ou mais do que Juno, a protetora dos casamentos legítimos, patrona da rainha Dido e inimiga de Eneias, é capaz de fazer “política”. Por isso, Vênus e Juno colaboram: ambas conduzem Eneias e Dido um para o outro. Juno imagina que, tendo colocado a rainha nos braços de Eneias, este ficará para sempre enredado. Vênus compreende muito bem o estratagema e colabora nele, mas, dissimuladamente, troça das ilusões da sua rival. Conhece os limites do seu próprio domínio, sabe que um impulso de paixão, sobretudo se satisfeito, não basta para submeter a vontade de um homem, mesmo sendo romano. Ri-se dos sofrimentos do amor, porque ela mesma os sentiu. Dido, que é mulher e não deusa, irá talvez morrer por causa deles (mas mais por cólera e vergonha do que por amor). Eneias, que é do seu sangue, irá sobreviver-lhes. E que é a morte de uma mulher quando se trata de fundar Roma?
Virgílio, o poeta e o pensador que, sem dúvida alguma, maior sensibilidade teve em relação às exigências íntimas da alma romana, quis situar, portanto, na aurora dos primeiros tempos uma história de amor correspondido e depois ultrapassado. Não o fez em obediência à moda literária, já que todos os poetas do seu século cantavam o amor e o usavam como tema principal dos seus versos, mas porque pretendia encarnar no seu herói a questão essencial do homem dividido entre a vontade e a carne, entre a ordem do mundo e o imperativo do seu próprio ser, entre o divino que o ultrapassa e a ternura que o prolonga. Quis também que este mesmo herói, ultrapassando o seu sofrimento, subordinasse, com um impulso que poderia ter parecido natural, o amor ao dever.
***
Havia muitas outras estórias de amor no dealbar destes primeiros tempos. Virgílio abandonou o seu herói depois da vitória sobre os bárbaros italianos, mas a tradição dos historiadores anterior a Virgílio relata-nos os acontecimentos que se seguiram, ou, pelo menos, os que a lenda continha.
A lenda imaginara toda uma série de dramas que se teriam desenrolado na cidade e no palácio construídos pelos Troianos, logo que se instalaram no Lácio. Não sabemos exatamente como se formaram estas lendas, que devem muitos dos seus traços à literatura grega e, muito em especial, à tragédia. Mas não os devem menos a uma certa concepção da vida amorosa e familiar que, aparentemente, os Romanos julgavam verosímil, uma vez que foi em função dela que reconstruíram os acontecimentos da sua mais remota história.
O rei Latino, que reinava entre os aborígenes aquando da chegada de Eneias, dera-lhe Lavínia, sua filha, em casamento. Este casamento era apenas uma união política. Como acontece frequentemente nas lendas relativas à colonização grega, o casamento de uma filha (única!) do rei indígena com o chefe dos estrangeiros deve assinalar o início de uma era de paz e colaboração entre os dois povos, até então hostis. Genro do rei, Eneias sucede-lhe muito naturalmente à frente da geração nascida dos numerosos casamentos celebrados entre os troianos e os habitantes do Lácio, na sequência do de Eneias e Lavínia. Os Romanos admitiam, por conseguinte, que uma filha pudesse transmitir ao marido uma espécie de direito sobre o reino, e, mais em geral, a herança de seu pai. De fato, na época clássica, vemos genros e filhos a participar por igual no círculo das altas personagens, crescer na sua sombra e a beneficiar da sua influência política. Se é verdade, e iremos depois confirmá-lo, que a jovem, depois do casamento, é integrada na casa do marido, a estória de Eneias e de Lavínia evitará que esqueçamos que também o jovem marido irá gravitar em torno do sogro. As novas relações que ele assim estabelece irão enfraquecer consideravelmente as que o uniam, até aí, à família de origem.
O casamento de Eneias e Lavínia não foi muito feliz. Uma certa tradição romanesca afirma mesmo que esta tinha ciúmes do passado do marido. De uma margem a outra do Mediterrâneo, as notícias correm céleres e Lavínia teve ecos da aventura africana. Depressa soube que a rainha Dido tinha sido abandonada e morrera. Sendo mulher, suspeitou que a ternura e os remorsos não se teriam apagado no coração de Eneias. Por outro lado, quando uma fugitiva de nome Ana se apresentou, dizendo-se irmã da desditosa Dido e pedindo hospitalidade, Lavínia teve as suspeitas mais sombrias. Logo se desencadeia uma tragédia palaciana. Não podendo impedir Eneias de agir humanamente em relação a Ana, que tivera de fugir de Cartago por causa de uma guerra infeliz, conspirou para a perder. Felizmente, os deuses estavam vigilantes. Um sonho preveniu Ana contra as armadilhas de Lavínia. A meio da noite, foge. Pela manhã, quando as gentes do rei iniciaram a sua busca, viram que a pista as conduzia diretamente ao rio próximo, mas que terminava ali. Nesse momento, uma forma saiu da água e revelou que a jovem fora desposada pelo deus do rio, que se tinha transformado em ninfa e que lhe deveria ser prestado culto.
Os acontecimentos que se seguiram à morte de Eneias - ou, melhor, à sua transfiguração, porque se espalhou o rumor que tinha sido levado para o céu pelos deuses - mostraram que a atmosfera continuava pesada na família real. Ascânio, o filho de Eneias e de Creúsa, era encarado com suspeita por Lavínia. Para pôr termo a esta surda hostilidade, Ascânio resolveu deixar Lavínio, tendo partido, subindo o Tibre, para fundar a cidade de Alba Longa, que seria o berço de Roma. Portanto, os Romanos tinham-se comprazido em situar no palácio e na família do seu herói mais remoto os dramas do ciúme amoroso e do poder partilhado e todas as intrigas que podem destruir uma casa com lutas internas, por ter emergido de uniões sucessivas. É significativo que estes relatos se tenham construído em torno da pessoa de Lavínia, tão apagada no poema virgiliano. Mas isso não significa que o poeta não tenha pretendido colocar no início da raça uma figura feminina apaixonada.
Escolheu para tal a rainha Amata, mulher do rei Latino. Amata era muito mais jovem do que Latino e tinha decidido tomar por genro, não Eneias, o estrangeiro que odiava, mas um jovem rei da região, Turno, que reinava sobre os Rútulos. Quando Latino tentou dar Lavínia a Eneias, Amata levou Turno a pegar em armas e Latino teve de aceitar a guerra entre o seu povo, arrastado pelos Rútulos, e os imigrantes troianos. Na sequência da vitória de Eneias, Amata, frustrada, suicida-se. Pessoa violenta, entregue a todos os excessos da cólera e do orgulho, ela é um instrumento inconsciente e dócil do ódio de Juno.
Os sentimentos atribuídos pela lenda a Lavínia - os mesmos que a Eneida atribui à sua mãe Amata se são, talvez, adequados a heroínas de tragédias gregas, como Medeia ou Hécuba. são-no mais ainda a estas romanas, cuja personalidade iremos aprender a conhecer: consideradas oficialmente como simples companheiras, desejam desempenhar, não obstante, um papel determinante no exercício e na transmissão de um poder de que o costume e a lei as excluem. Em vão procuraríamos na lenda dos primeiros tempos romanos a figura de uma mulher “razoável”, uma alma que não seja conduzida pela paixão mais pura e ainda mais do que pelo desejo de amar, pelas paixões políticas e o instinto de poder. Resignadas, na aparência, a ter por marido aquele que quiserem dar-lhes, umas vez mães assenhoreiam-se de toda a autoridade que possam conseguir, manifestam uma vontade inflexível, intrigam e combatem sem escrúpulos nem piedade e são fúrias desenfreadas quando adivinham uma ameaça ou uma pequena oposição à sua ambição ou ao seu sonho. Dido, figura acerca da qual os comentaristas de Virgílio reiteraram à porfia o encanto melancólico, ignorando totalmente as intenções virgilianas, subordina a ternura à vontade. Recusa compreender onde reside a verdadeira vocação daquele que pretende amar. Reconhece apenas o fracasso das suas esperanças e, por orgulho ferido, condena-se a si mesma a morrer. Não esqueçamos, por fim, ao ler o livro IV da Eneida, que a ternura que conduz um ser em direção a outro, o sacrifício da vida pelo amado, e não contra ele, não é nas mulheres virgilianas que o iremos encontrar, mas em dois homens, dois amantes, um dos quais é irrefletido e o outro heróico, Niso e Euríolo.
***
Eis, por fim, a própria Roma prestes a nascer. Reia Sílvia era filha do rei de Alba, Numitor, mas Numitor era um rei caído em desgraça, por que tinha sido destronado pelo seu irmão Amúlio, que condenara a jovem à virgindade, na esperança de apagar toda a linhagem do rei legítimo. Segundo uns, foi consagrada ao culto de Vesta, que a obrigava a guardar castidade durante todo o tempo em que poderia ser mãe. Segundo outros, foi encerrada em uma prisão - como fora Danae, em Argos, pelo seu pai Acrísio. Apesar destas precauções, Reia conheceu o amor. Diz-se, por vezes, que o seu sedutor não foi outro senão o próprio Amúlio. Mais frequentemente, a proeza é atribuída a Marte, que viu a jovem na margem do rio, apaixonou-se e acercou-se dela quando estava sozinha.
De Reia nasceriam os dois gêmeos que fundaram Roma: Rômulo e Remo. O destino de Reia permanece incerto. Por vezes, diz-se que Amúlio a fez desaparecer, ao mesmo tempo que ordenava que se expusessem os gémeos nas margens do Tibre. Outras vezes, que terá sobrevivido, cativa, como Antíope na lenda tebana, até ao dia em que o filho, imitando Anfíon e Zeto, a libertou e a devolveu ao seu verdadeiro lugar, depois de ter deposto o usurpador. Terá ela amado Marte? Foi apenas vítima da sua violência? Terá tentado reencontrar os filhos que lhe tinham sido tirados? Ninguém se preocupa com isso. Reia não tem mais realidade nem consistência que aquelas heroínas de comédia grega que Menandro nos apresentou e que Plauto e Terêncio, imitando-o, levaram à cena: seduzidas antes da cortina se abrir, dão à luz a criança para o final da peça, e se toda a intriga tem por tema o destino que as espera, elas mesmas não intervêm, deixando-se conduzir onde o destino quer.
Para a ideia que os Romanos têm do lugar do amor na cidade, é significativo que Rômulo e Remo, verdadeiramente, não tenham tido “mãe”. O seu nascimento é miraculoso. Isso coloca-os imediatamente fora do humano. Os poetas repetem naturalmente que apenas se alimentaram na “rude teta de uma loba”.
Fundar uma cidade é assunto de homens, como se a ternura feminina e o amor não pudessem ser senão um luxo da paz. Por isso, Eneias teria podido viver amorosamente (e aburguesadamente) junto de Dido, se não tivesse tido a responsabilidade de todo um povo e o encargo de realizar os desígnios da providência divina.
Intérpretes mal intencionados das lendas romanas afirmaram, desde a Antiguidade, que a celebrada loba que se teria apiedado dos gêmeos expostos e os teria alimentado com o seu leite não teria sido, na realidade, senão uma beldade rústica, um pouco selvagem, a quem os favores concedidos aos pastores da vizinhança tinham valido o nome de “loba”, que é uma designação vulgar das cortesãs. Esta interpretação “racionalista” de uma lenda maravilhosa foi imaginada em um tempo em que já não se queria acreditar em milagres e os autores cristãos adotaram-na com tanto entusiasmo como maldade. Todavia, os autores cristãos não são os inventores desta explicação maldosa. Desde a época clássica, os historiadores deixaram de se preocupar com a reputação de Aca Larência, a ama de leite de Rômulo e Remo, que se tinha tomado uma das inúmeras divindades menores da Cidade. A sua divinização não a protegeu da calúnia.
Temos de admiti-lo: de Dido a Lavínia, de Reia Sílvia a Larência, apenas encontramos megeras, figuras insignificantes ou prostitutas vulgares, nestas lendas das origens. O amor nobre, desinteressado, e a ternura serena estão delas ausentes. Somos levados a suspeitar que as mulheres são mencionadas apenas porque é necessário que os homens tenham mães ou amas-de-leite. Ou não têm qualquer importância, ou, quando intervêm, é para desencadear as intrigas e os dramas.
***
Tudo muda, de repente, com as narrativas, aparentemente mais verídicas, que reconstituem os inícios da cidade e se propõem, já não contar as proezas dos heróis, mas o nascimento da sociedade romana. Talvez seja por estas narrativas serem menos gratuitas, por terem sido concebidas para dar conta do estado dos costumes. Se é possível e fácil descobrir nas lendas gregas muitos modelos prováveis para os dramas de Lavínio e Alba, percorreríamos em vão os repertórios em busca de um mito análogo à estória das Sabinas. Com esta, penetramos mais fundo na alma romana, descobrimos um dos mitos vitais da Cidade.
Os companheiros de Rômulo, que se tinham reunido provindo de todas as regiões da Itália Central, povoaram rapidamente a cidade. Eram homens jovens, aventureiros, que até então não tinham encontrado o seu lugar em nenhuma pátria. Alguns estavam manchados por crimes, outros fugiam dos credores demasiado insistentes e todos desejavam ter as condições necessárias a uma existência livre e ativa. O asilo concedido por Rômulo no Capitólio prometia-lhes impunidade. O vigor dos seus braços e a fraternidade dos seus companheiros asseguravam-lhes a liberdade. Mas não tinham mulheres. Ora, o futuro da cidade dependia da posteridade dos primeiros colonos.
Na região vizinha, havia aldeias onde viviam moças, mas os seus pais não pensavam sequer em dá-las em casamento a estes recém-vindos, cujo passado era inquietante. Por conseguinte, Rómulo e os seus homens decidiram conseguir companheiras usando a violência. Convidaram os habitantes das aldeias próximas de Roma a assistir aos jogos que se iam celebrar em honra dos deuses e todos se aglomeraram no Grande Circo, no vale que formava uma espécie de teatro natural entre o Palatino e o Aventino e tinha uma pista maravilhosamente adaptada às corridas de cavalos. No momento em que todos os olhares estavam dirigidos para a arena, os companheiros de Rômulo apoderam-se de todas as jovens presentes e arrastam-nas à força. Desarmados, como convém a hóspedes, os seus pais não tiveram outro recurso senão invocar os deuses, tomando-os por testemunhas deste crime contra o direito das pessoas, e regressar a casa para preparar a vingança. As filhas ficaram em Roma, onde foram distribuídas entre os principais cidadãos.
Tito Lívio, que conta a lenda, concedendo-lhe praticamente todo o crédito, recorda o desespero e, sobretudo, o temor das jovens raptadas. Mas, acrescenta, Rômulo em pessoa interveio. Explicou a cada uma que os Romanos tinham sido forçados a este ato de violência devido ao orgulho dos seus vizinhos. O que mais desejavam era ter conseguido noivas que o fossem voluntariamente. Agora que estavam ali, seriam consideradas esposas legítimas, e não prisioneiras. Receberiam todas as honras e toda a consideração possíveis. Privadas da sua pátria e dos seus pais, teriam tudo isso em Roma e os seus maridos ainda seriam mais ternos com elas, por tudo terem perdido. Entretanto, cada homem repetia à companheira o argumento do rei, ao mesmo tempo que a acariciava, tentando desculpar o seu ato invocando a sua paixão e o ardor do seu amor. As Sabinas (é que a maior parte das jovens moças raptadas era originária de aldeias sabinas) não resistiram a esta conjugação de eloquência e ternura e a sua cólera acalmou.
Este idílio, embelezado no decurso do tempo pela imaginação dos historiadores e dos poetas (que, por vezes, o levaram à cena), contém talvez fatos exatos. Os assaltos em massa, de aldeia em aldeia, para conquistar mulheres não são desconhecidos nas sociedades primitivas e é possível que os primeiros habitantes de Roma tenham recorrido a estas práticas. É possível também que seja uma lenda em que apenas se perpetua a recordação quase extinta de um rito muito antigo. Mas a realidade última que recobre importa, no fundo, muito pouco: atribuindo-lhe um certo valor histórico, os Romanos consideravam-na sobretudo como um mito, uma estória exemplar que justificava toda uma ideologia do casamento. Era ela que fundava, de fato, a concepção que tinham das relações entre cônjuges e é assim que os Romanos pensarão sempre na estória das Sabinas: uma conquista violenta que termina em ternura.
Mas o relato não terminava assim e o seu epílogo não era menos edificante. Os pais das Sabinas, de volta às suas aldeias, puseram luto. Loucos de dor e de raiva, enviaram delegações ao rei Tito Tácio, que reinava sobre os Sabinos, e persuadiram-no a iniciar hostilidades contra os Romanos, vizinhos sem religião nem moral. Pouco depois, um poderoso exército sabino estendia-se pela planície do Fórum, entre o Capitólio e o Palatino. Por seu lado, os companheiros de Rômulo pegaram nas armas e iniciou-se o combate. A confusão foi terrível, a luta implacável. Umas vezes os Sabinos ganhavam vantagem, outras vezes eram os Romanos. Em alguns momentos, a própria existência de Roma esteve comprometida e Júpiter em pessoa teve de dar novo ímpeto ao combate. Houve, por fim, uma acalmia e viu-se avançar entre os dois exércitos, em um cortejo plangente, as jovens mulheres que eram a causa inocente da carnificina: cabelos desfeitos, vestidos rasgados como convém a suplicantes cujo destino se vai decidir, dirigem súplicas, alternadamente, aos pais e aos maridos. Perturbados com este aparecimento inesperado dos seres que mais amam no mundo, uns e outros compreendem que esta guerra não só é criminosa, mas já não tem objeto.
À trégua que imediatamente se estabeleceu, seguiu-se um tratado formal: os dois povos decidiam unir-se em um só, transferir a sede do poder para Roma, associando os dois reis como colegas (como serão depois os cônsules), e repartir a população do novo Estado em novos moldes, isto é, em trinta “cúrias”, que foram designadas com os nomes das principais mulheres sabinas.
Mais uma vez, é difícil dizer com precisão que realidade se dissimula por trás deste episódio: exprime, sem dúvida, de maneira dramática, a ruptura a que está destinada a recém-casada; talvez conserve também a lembrança da dupla origem do povo romano. Independentemente do sentido da lenda, reconhecemos a singularidade de os Romanos gostarem de atribuir às mulheres um lugar e um papel privilegiados na formação da cidade. Este aspecto, por si só, seria suficiente para evidenciar a diferença fundamental que separa a sociedade romana primitiva daquela que os poemas homéricos nos descrevem. Em Micenas, as mulheres podem ter desempenhado um papel importante, mas a sua influência era apenas pessoal. Em Roma, é a todo o sexo feminino que se reconhece, oficialmente, uma função essencial na sociedade e que não é apenas aquela a que a natureza o destina, que é a fecundidade. Tantas honras acumuladas não podem deixar de surpreender quem quiser tomar em consideração apenas a condição jurídica da mulher romana na época arcaica. Na realidade, a lenda ensina-nos que é necessário moderar as conclusões que se pensaria dever tirar dos textos jurídicos. O nascimento de Roma marcou, de fato, o advento da mulher e iniciou o reconhecimento de valores quase inteiramente estranhos à idade heróica do mundo grego.
Se os companheiros de Rômulo raptaram mulheres, foi porque quiseram assegurar a Roma uma duração maior do que a sua própria vida: a violência pode fundar cidades, a energia e a coragem guerreira tornam-nas prósperas, mas só o amor pode torná-las imortais. Por esta razão, o mito das Sabinas tem o valor de uma segunda fundação: Rômulo, sobre o Palatino, pôde traçar o perímetro de uma cidade, dar-lhe muralhas, acumular nela riquezas, mas a cidade como tal começa apenas com o consentimento das Sabinas ao seu rapto. Sem ele, a obra de Rômulo não teria podido durar; só ele tinha o poder de enraizar Roma para sempre no seu solo.
Como era seu hábito, o espírito romano propendeu a dar a este acontecimento consequências jurídicas. Conta-se que os Romanos, aquando do tratado com os Sabinos, garantiram às suas mulheres condições de vida honrosas. Seriam poupadas a qualquer trabalho servil; não teriam outra tarefa que não fosse a de criar os seus filhos e fiar a lã. Quanto ao resto, dele se encarregariam escravas e servas. Na base das relações entre maridos e mulheres haveria doravante um contrato, e é notável que os seus termos não tivessem sido ditados por um vencedor que usasse da força. Os próprios maridos, com espírito de reconhecimento e de respeito, comprometeram-se, diante dos deuses, a usar bons modos para com aquelas que, por seu lado, tinham aceito ser as suas companheiras.
A lenda das Sabinas, se era, para os Romanos, uma explicação da condição efetiva das esposas romanas, não é, evidentemente, aos olhos dos historiadores modernos, senão a imagem, projetada no passado, de um estado de fato que tentam explicar de modo diferente. Houve quem fizesse notar que a sociedade romana, no seu começo, se encontrava como que envolvida por um ambiente etrusco e que entre os Etruscos subsistiam muitos vestígios de costumes matriarcais. Na própria Roma, a história dos primeiros tempos não está deles isenta. Por exemplo, a sucessão do reino, aparentemente, foi assegurada por linha feminina. Numa, que se seguiu a Tito Tácio e a Rômulo, é genro de Tácio, e não seu filho, e, mais tarde, Anco Márcio seria, por via materna, neto de Numa. Se Tito Lívio - e toda a tradição - insiste no fato de estes reis terem sido eleitos, não deixa de ser verdade que a escolha dos Romanos, por duas vezes, se voltou para parentes, por via feminina, do rei precedente. Não se pode deixar de sublinhar também o papel desempenhado por Tanaquil, a mulher de Tarquínio, o Antigo, quer em levar o seu marido ao poder quer também, depois da morte deste, para impor aos cidadãos o jovem Sérvio, um escravo nascido na sua casa, que inúmeros prodígios designavam como favorito dos deuses. Tanaquil é, sem dúvida, de origem etrusca. Surge na casa real como uma verdadeira sacerdotisa, interpretando as vontades divinas, o que se deve, talvez, às tradições da sua raça, sempre preocupada com a adivinhação e atenta aos presságios. Mas não é menos notável que esta ciência seja possuída por uma mulher, que a utiliza com uma autoridade que ninguém ousa contestar. Na verdade, Tanaquil não está investida em um cargo oficial, as suas previsões são “caseiras”, mas os homens da sua casa não hesitam em aceitá-las e em conformar a sua conduta aos seus conselhos. Em última instância, por intermédio deles, a sua ação exerce-se sobre o conjunto do Estado, sem que os historiadores tivessem sequer pensado em indignar-se com a importância assumida por uma mulher.
No entanto, a influência do mundo etrusco não foi. seguramente, a única na imposição e divulgação do respeito religioso pela mulher na sociedade romana. Uma lenda muito velha menciona uma antiga profetiza de nome Carmenta entre os primeiros habitantes do sítio romano. Não tem, muito provavelmente, nada de etrusco. Algumas tradições fazem dela a mãe de Evandro, um herói arcádio exilado que tinha vindo até às margens do Tibre procurar asilo durante a guerra de Tróia. Fora ela, segundo diziam, que tinha escolhido o lugar da permanência de ambos, um lugar "feliz”, onde os deuses se mostrariam benévolos aos homens. Na sua juventude, acrescentavam ainda, não se chamava Carmenta, mas Nicóstrate, ou Témis, ou ainda Timandra, que são nomes gregos, mas, na velhice, chamavam-lhe Carmenta, após ter dado provas das suas faculdades de profetiza, porque o nome deriva (provavelmente) da palavra latina que designa as encantações (os “encantos”) e os cantos dos profetas inspirados. O que quer que possamos pensar da própria lenda e dos elementos gregos que nela se incluem, uma ideia essencial se pode retirar: os Romanos admitiam que fora uma mulher a primeira a proferir, junto do Capitólio, os oráculos dos deuses. O nome de Carmenta era tão venerado que foi dado a uma porta da muralha mais antiga de Roma e dois altares estavam consagrados ao seu culto, em plena época clássica.
Todas as lendas tendem a mostrar que as mulheres, na mais autêntica tradição romana, eram envolvidas em uma espécie de veneração religiosa. Longe de serem excluídas da religião, eram como que as suas depositárias inspiradas. Podemos pensar em muitos outros exemplos fora de Roma: no da Pítia de Delfos ou na de Yéleda, ou ainda no daquelas mulheres que, nos confins do Sara, foram as únicas a deter, durante muito tempo, o segredo da escrita sagrada e dos ritos. A influência etrusca, impossível de negar, encontrou um terreno já preparado. Nada obsta a que as sociedades latinas e sabinas anteriores à formação da cidade romana tivessem atribuído às mulheres uma situação privilegiada. Isso explicaria bastante bem a reverência com que foram tratadas desde o tempo mais remoto a que possamos aceder na história de Roma.
A intervenção de outros fatores toma frequentemente confusa, na verdade, a imagem que julgamos divisar. A religião romana é o produto de uma síntese bastante complexa e o culto oficial tendeu a reduzir a função sagrada da mulher. Além disso, o desenvolvimento e o endurecimento das formas jurídicas na cidade contribuíram para lançar na sombra o seu verdadeiro papel, a ponto de os historiadores modernos gostarem de repetir que, para um romano, a mulher dificilmente é uma pessoa e, de qualquer modo, é um ser inferior que é necessário tutelar. Se esta é, efetivamente, a impressão que se extrai do direito mais antigo, ela não é, bem pelo contrário, a conclusão que a mera análise das lendas sugere. A mulher romana é amada ternamente pelo marido e pelos filhos, é respeitada pelos servos e, em seu redor, subsistirá sempre como que uma aura de mistério. Terão fé nas suas “intuições” e nos presságios que se poderão retirar dos seus sonhos e das suas palavras mais inocentes. O amor conjugal romano por parte do marido será, muito frequentemente, cheio de veneração e como que de uma humildade receosa. Vemos tudo isto, na verdade, de maneira esporádica e difícil de captar: os indícios que poderemos descobrir serão frequentemente ambíguos e seríamos talvez levados a crer que, em cada caso, se trata de excepções pessoais... se não existissem as lendas. As lendas dão-nos a garantia do valor universal de certos sentimentos e de certas tendências que constituem o que poderíamos chamar o “subconsciente da raça". Ora, poderemos conceber domínio mais favorável ao exercício destes sentimentos obscuros e inconfessados do que o diálogo, bastante complexo de um marido com a sua mulher, de uma mãe com os seus filhos? Os costumes e as escolhas individuais introduziam, inevitavelmente, inúmeras atenuantes nas fórmulas rígidas e necessariamente abstratas dos jurisconsultos. A lenda é como que o antídoto destas. Ao colocarem em cena, em uma situação definida, as relações das pessoas entre si, conferem-lhes uma densidade, um carácter concreto, que o jurista, em busca de uma realidade que continuamente o precede e sempre lhe escapa, não poderia ambicionar.
***
Há ainda duas outras estórias de amor que as lendas dos primeiros tempos nos oferecem. São também dois mitos que completam a imagem que tentamos definir.
A primeira estória é a de Tarpeia. Quando os Sabinos de Tito Tácio atacavam os Romanos de Rômulo, culpados de ter raptado as suas jovens, a cidadela do Capitólio era defendida por um certo Tarpeio, que tinha uma filha chamada Tarpeia. Não nos é dito quem era a mãe, nem como os Romanos, que tiveram de ir procurar companheiras fora da sua cidade, puderam, apesar disso, fundar famílias. No entanto, semelhantes dificuldades não embaraçam os fazedores de lendas. É-nos dito apenas que Tarpeia se encontrava com seu pai na cidadela, no início da guerra, e que, quando vieram os Sabinos, ela olhava com curiosidade, da parte superior da colina, os soldados inimigos que acampavam na planície. Entre eles distinguia-se um cavaleiro, o rei Tácio. Era bonito, jovem e atraente com as suas armas coloridas e o capacete encimado por um penacho. Não tardou muito para Tarpeia se apaixonar. A partir desse momento, não pensou senão em satisfazer a sua paixão. Que importaria a sobrevivência da sua pátria, se pudesse tornar-se esposa de Tácio? Descendo em segredo para as linhas inimigas, entrou em conversações com o rei e ofereceu-se para lhe entregar a cidadela. Mostrar-lhe-ia um caminho desconhecido e abriria uma potema, se os Sabinos lhe entregassem, dizia ela, “o que levavam no braço esquerdo" (referia-se aos seus braceletes e anéis de ouro). Imaginava também que o rei reconhecido e porque não poderia deixar de ser sensível à beleza daquela que, por ele, aceitava trair a sua pátria e o seu pai, a tomaria por mulher. Dividida entre a cupidez coquete e o amor, já imaginava um futuro de felicidade ingênua, o de uma moça simples, que nada vê para além de um “belo casamento” onde irá figurar com belos adornos.
Tito Tácio finge aceitar a proposta. Dará à jovem aquilo que pede. Fiel à sua promessa, Tarpeia conduz, pelo caminho secreto, a guarda avançada para a cidadela. Os outros guerreiros seguem-nos. Em breve, um grupo numeroso está reunido na sombra, no planalto. Chegou o momento de desencadear o assalto. Então, Tácio cicia à jovem que lhe quer pagar o preço da traição. Os seus soldados, que tinha prevenido, lançam sobre ela os seus escudos, feitos de madeira e couro; em breve sucumbe sob o seu peso e morre asfixiada. Quem poderia ter pena dela? Não obteve “o que o Sabinos levavam no braço esquerdo”? Muitos séculos depois, um amontoado de armas meio apodrecidas assinalava o lugar onde Tacio punira Tarpeia e recusara o seu amor. Era a rocha maldita de onde eram precipitados os traidores à pátria.
Como a lemos em Propércio, a lenda de Tarpeia é o resultado de uma longa evolução, em que contributos relativamente recentes e embelezamentos literários enriqueceram um dado folclórico que ainda se pode determinar. Propércio fez de Tarpeia uma heroína de tragédia, uma Fedra que luta contra uma paixão que sabe culpada, a que cede no fim, ao mesmo tempo que se confessa “condenada”. São refinamentos estranhos à narrativa primitiva, mas que não encobrem o seu significado. Independentemente do pretexto que esteve na origem da lenda de Tarpeia - um amontoado de armas que apodrece, um trofeu consagrado a Vulcano ou a algum outro deus vingador, constituindo, sob a ferrugem das armas tintas de sangue, e, por isso mesmo, perigosas para a cidade, um mero lugar com um nome, a que se junta a lembrança de um demônio maléfico ou qualquer outra razão que a sutileza dos historiadores modernos não conseguiu descobrir com certeza -, esta estória soa como um aviso aos Romanos: só os homens são capazes de permanecer fiéis à pátria. O coração das mulheres deixa-se seduzir com demasiada facilidade. Tarpeia é irmã daquela Cila que, em outros tempos, na Grécia, em Mégara, traíra o seu próprio pai pelo amor do rei cretense Minos. Uma jovem que escolhe livremente o seu amor apenas ouve a sua paixão, o que causa à sua família, à sua pátria e, por fim, a ela mesma grandes catástrofes.
Qualquer que seja a sinceridade de Tarpeia, a sua “fé” amorosa não deveria prevalecer sobre esta outra “fé”, mais essencial, que é devida à ordem estabelecida e sobre o respeito pelas leis divinas, que colocam acima de qualquer outro valor a conservação da cidade. A estória de Tarpeia é apenas um exemplo particularmente dramático do carácter perigoso e criminoso da paixão amorosa “desregrada”. Tito Tácio, o menos romântico e, como Minos na história de Cila, o mais “justo” dos reis, não pode senão sentir-se horrorizado pela oferta de amor que Tarpeia lhe faz. Estranha moral, dir-se-á talvez, que permite ao rei sabino aceitar o benefício da traição e lhe ordena que puna brutalmente aquela que sacrificou tudo por ele! Acusar Tácio de hipocrisia seria desconhecer com gravidade um dos reflexos religiosos mais profundos do espírito romano. Tácio está em guerra contra Roma; pode utilizar todos os meios para abater o inimigo, porque o estado de guerra é, precisamente, a suspensão de qualquer “justiça”. Mas o ato de Tarpeia é um gesto monstruoso, que os Romanos chamavam portentum', é um desrespeito pela ordem do mundo, como o nascimento de um ser cujo corpo não está em conformidade com a lei da sua espécie. Como os parricidas, que eram cosidos em um saco e lançados no mais profundo das águas para os eliminar da superfície do mundo, ou como as vestais infiéis, que eram encerradas vivas, em uma cova abaixo do solo, Tarpeia também será submersa sob um montão de escudos que a afastarão da luz, dos olhos deste Júpiter fidius, patrono da boa-fé, que está no Capitólio.
Propércio, como advogado astuto, sugere à jovem argumentos sofisticados que a justificam aos seus próprios olhos. Imagina Tarpeia a dizer a si mesma que a sua união com o rei sabino porá termo à cólera deste contra Roma e que o seu casamento tornar-se-á, por isso mesmo, a melhor garantia da paz. Mas Propércio sabe efetivamente que o argumento dissimula um sofisma: o milagre que, no dia seguinte, as mulheres sabinas irão fazer no campo de batalha está interdito a Tarpeia. A própria paixão que a possui e a que exclusivamente obedece retira-lhe o direito de ser mediadora. Esta paixão, destrutiva nos seus efeitos, não poderá acabar por ter um resultado construtivo e feliz. Tudo se passa de maneira diferente com as esposas legítimas, cujo poder benéfico resulta da sua aceitação da lei do mundo. Aquilo que os modernos chamarão o "direito do amor” não é negado, certamente, pela consciência romana, mas este direito, segundo ela, não reside no desejo, antes começa com a plenitude da sua realização, porque o desejo é anárquico e destrutivo, enquanto o amor “feliz”, apenas com a força da sua "felicidade", é fértil e integra-se espontaneamente na ordem do mundo.
A lenda de Lucrécia, situada também nos primeiros tempos de Roma, comporta uma lição semelhante. É a estória, tomada célebre por Tito Lívio, de um atentado que provocou tal movimento de indignação que os Romanos expulsaram o seu rei, cujo filho era culpado.
Sexto Tarquínio, filho de Tarquínio, o Soberbo, encontrava-se no exército, diante da cidade de Árdea, que estava cercada. Com os outros jovens nobres, discutia, uma noite, acerca da virtude das esposas que tinham deixado em casa. Cada um elogiava, à compita, as virtudes da sua, de modo que, de comum acordo, montaram a cavalo, decididos a ir, de surpresa, ver o que se passava. Em Roma, encontraram as mulheres do palácio a divertir-se e a banquetear-se com as amigas. Passando daí a Colácia, onde residia um deles, Tarquínio Colatino, o espectáculo era muito diferente: Lucrécia, a jovem esposa de Colatino, estava sentada à lareira, fiando a lã entre as suas servas. A chegada dos senhores que acompanham o marido, esforça-se por dar-lhes bom acolhimento, improvisa uma refeição e a noite passa-se alegremente. Ora, Sexto Tarquínio, logo que vê Lucrécia, ganha por ela uma paixão culposa. Tanta virtude e inocência tentam a sua natureza perversa. Naquele momento, nada diz. No dia seguinte de manhã, regressa ao campo militar com os outros, mas, passados alguns dias, eis que volta a Colácia. Entra na casa da jovem mulher. Esta acolhe-o sem desconfiança, oferece-lhe hospitalidade e ordena que se lhe seja posta uma cama no quarto dos hóspedes. Mais tarde, uma vez a casa adormecida, Sexto Tarquínio insinua-se na câmara de Lucrécia, empunha a espada e, de pé, junto à cama, acorda-a, dizendo-lhe: “Silêncio! Sou Sexto Tarquínio. Estou armado; morrerás se disseres uma palavra.” A pobre mulher, aterrorizada, tenta despertar-lhe alguma piedade e suplica-lhe que a deixe em paz. Mas Sexto começa então a falar-lhe de amor, a tentar por todos os meios possíveis atingir os seus fins. Ela permanece inabalável. Então, usando uma artimanha infame, ameaça-a com uma morte desonrosa. Se resistir mais tempo, matá-la-á e, em seguida, cortará a garganta ao primeiro escravo que aparecer e estenderá o seu cadáver, despojado de todo o vestuário, ao lado do corpo dela. Assim, todos acreditarão que foi surpreendida em flagrante delito de adultério, em condições ignominiosas, e devidamente punida. Esta perspectiva atroz vence, por fim, a sua resistência. Consente. Triunfante. Sexto Tarquínio deixa a casa antes de amanhecer.
Logo que se vê sozinha. Lucrécia desperta as suas servas e envia um mensageiro ao marido e ao seu próprio pai. Ambos acorrem precipitadamente. Conta-lhes a estória da sua desonra e, enquanto tentam consolá-la, mostrando-lhe que de modo nenhum é culpada, crava uma faca no peito e penetra o coração.
Aqui ainda a paixão é destruidora da ordem: não só causa a morte da vítima do perverso, mas a do próprio perverso, pois o atentado teve consequências políticas. O povo romano, indignado com esta violência, depôs o rei, cujo filho cedera a uma paixão criminosa, e foi a partir deste dia que se iniciou a República. Que não se diga que a violação de Lucrécia foi a causa acidental da expulsão dos reis. Na verdade, os Romanos estavam convencidos de que o crime de Sexto Tarquínio fora o resultado inelutável da monarquia. Parecia-lhes inevitável que um regime que confiava o poder absoluto a um só homem fizesse nascer neste, bem como em todos os que se encontravam associados ao seu privilégio, o desrespeito por aquilo que cada um tem de mais sagrado: o amor da sua mulher, o respeito por si mesmo, a santidade do lar. Era fatal que a monarquia, degenerando em tirania, naufragasse nas violências insensatas da paixão, maldição que os deuses enviam aos mortais culpados de impiedade.
Mas a estória exemplar de Lucrécia comporta ainda outra significação: a jovem esposa, heroína da fidelidade conjugal, recusa ouvir a voz do pai e do marido, que desculpam, muito legitimamente, o que ela chama a “sua falta”. Não admite para si nenhuma circunstância atenuante: o seu corpo foi desonrado, o seu sangue foi manchado. Este corpo deve perecer, este sangue deve ser derramado, ainda que a alma seja pura.
O rigorismo demonstrado por esta esposa romana, e que pode parecer-nos excessivo, quase bárbaro, explica-se pela convicção profunda de que esta “falta” é uma mancha material, indelével, que a separa para sempre do marido e a torna indigna de retomar o seu lugar neste lar arruinado. Está convicta do valor absoluto do ato de amor, pelo menos para a mulher, porque envolve para sempre o corpo e a alma. Obrigando-a a sofrer as suas violências, Sexto Tarquínio tornou-lhe impossível manter a “fé” para com o marido, e pouco importa que não tenha aquiescido. Não podia admitir que a carne, quando falta a adesão da alma, não compromete um ser: nada está mais longe do seu espírito que este platonismo amoroso que se desenvolverá mais tarde em Roma e que, aqui como em qualquer outro lugar, ao subordinar complacentemente o corpo à alma, permitirá todos os sofismas e todos os compromissos.
Aliás, Lucrécia não é a única a pensar assim. Durante muito tempo o instinto da raça recusou admitir que uma mulher pudesse pertencer sucessivamente a vários homens, ainda que, legalmente, tivesse esse direito, por se ter tornado livre de uma primeira união pela morte ou pelo divórcio. A marca da carne é indelével, comprometendo para sempre.
Ora, isso tem importantes consequências. Conhecemos, depois de Roma, outras morais para as quais o ato de amor é um “pecado”. E claro que Lucrécia não considera que, entregando-se ao marido, tenha manchado o seu corpo e a sua alma: a sua união com ele realizou-se de acordo com as leis divinas e humanas, ela era “boa”. Mas este ato, em si mesmo, não era indiferente. Realizado em outras condições, contrariamente às mesmas leis, tornava-se monstruoso. Não é ainda a ideia de pecado, mas tomámos o caminho que aí conduz, na medida em que admitimos que um acontecimento material, da ordem do corpo, compromete e modifica para sempre a totalidade do ser.
No fundo da alma romana, este sentimento persistirá sempre, mesmo em tempos que julgaríamos mais livres dos velhos imperativos da raça. No entender dos Romanos, o casamento legítimo possuirá sempre um valor quase sacramental, inerente à natureza das coisas: inscreve-se na ordem do mundo e contra este fato as vontades individuais nada podem. É isso o que um Sexto Tarquínio não podia compreender, sendo filho de rei, estando colocado, pelo nascimento, acima das leis e sendo incapaz de disciplinar a sua paixão anárquica.
Lucrécia e Tarpeia situam-se em lados opostos: uma é o símbolo do pudicitia, a outra, o do impudor. Mas, para ambas, o amor foi causa de morte, porque o seu ser se encontrou arrastado pelo drama da paixão incontrolada. As suas lendas traduzem a inquietação fundamental dos Romanos perante o instinto amoroso. Tal inquietação é tanto mais profunda quanto este instinto não poderia, de maneira nenhuma, ser condenado em si mesmo, por ser a manifestação da própria vida. A história do sentimento amoroso em Roma irá refletir, até ao fim, esta ambiguidade: umas vezes, considerá-lo-á, indulgentemente, como o impulso alegre de uma raça vigorosa e jovem, a manifestação voluptuosa dos seres; outras vezes, abandonar-se-á a ele com um ardor quase religioso, ou com um sentimento de temor semelhante ao do crente iniciado em mistérios que pressente que comprometem o seu ser mais profundo, mas cujo sentido não lhe é revelado na totalidade.

Muitos de nós conseguem imaginar os brilhantes espaços cobertos de mármore da Roma antiga em um dia ensolarado, porque esta é a imagem exibida por filmes e séries, além dos livros de história. Mas o que acontecia ao anoitecer? Mais especificamente, o que acontecia com a grande maioria da população da cidade imperial que vivia em casas abarrotadas e não nas amplas mansões dos mais ricos? Lembre-se de que, no século 1 a.C., na época de Júlio César, a Roma antiga era uma cidade de 1 milhão de habitantes: ricos e pobres, escravos e ex-escravos, nativos e estrangeiros.
Foi a primeira métropole multicultural do mundo, com bairros marginais, residências de múltiplas ocupações e zonas de aterros sanitários - e tendemos a nos esquecer disso tudo quando nos concentramos em suas magníficas colunas e praças.
Então, como era a cidade de Roma, a verdadeira Roma, depois que se apagavam as luzes?
Caminhar pelas ruas podia ser fatal
O melhor ponto de partida é a sátira do poeta Juvenal, que evocou uma imagem desagradável da vida cotidiana em Roma ao redor de 100 d.C..
Juvenal alertou sobre os riscos de caminhar pelas ruas ao anoitecer sob janelas abertas. No melhor dos casos, podiam chover os excrementos armazenados durante o dia. No pior, uma pessoa podia ser acertada na cabeça pelos objetos lançados dos andares superiores.
"Penses nos diferentes e diversos perigos da noite. (...)
Se tu fores a um jantar sem um testamento, merecerás a pena de ser chamado de incauto e indiscreto, porque estarás sujeito a muitos perigos.
Há morte sob cada janela aberta em seu caminho.
Farás bem, portanto, se ao céu pedires que a maior desgraça que tentem te causar, seja que se contentem em banhar-te, jogando sobre ti o vaso pestilento."
Juvenal também fala do risco de topar com pessoas ricas que passeavam com seus mantos escarlates e comitivas de seguidores parasitas e empurravam para o lado quem estivesse em seu caminho.
Mas esta visão do poeta de Roma à noite é precisa? Foi realmente um lugar onde coisas caíam sobre as cabeças dos transeuntes, onde os ricos e poderosos te derrubavam no chão e passavam por cima e no qual, como Juvenal observa em outras passagens, uma pessoa corria o risco de ser assaltada e roubada por gangues de bandidos? Provavelmente, sim.
Não havia força policial
Fora do esplêndido centro cívico, Roma era um labirinto de ruelas estreitas e corredores. Não havia iluminação pública, nem locais adequados onde jogar fora excrementos ou, ainda, vigilância de uma força policial. Ao anoitecer, deve ter sido um lugar ameaçador.
A única proteção pública possível de esperar era a força paramilitar dos vigias urbanos. O que exatamente faziam e quão efetivos eram são pontos abertos para debate.
Estavam divididos em batalhões, e sua principal tarefa era vigiar o surgimento de incêndios, algo frequente nos blocos de casas mal construídas, com braseiros ardendo nos andares de cima.
Mas havia poucas ferramentas para lidar com eles, além de uma pequena quantidade de vinagre, algumas mantas para sufocar as chamas e hastes pesadas para derrubar as construções vizinhas e evitar que o incêndio se propagasse.
Às vezes, eles se tornavam heróis. De fato, há um memorial para um vigia em Ostia, perto de Roma, que tentou resgatar pessoas presas pelo fogo e morreu no processo - seu enterro foi pago pelo poder público.
Mas nem sempre eram tão altruístas. No grande incêndio de Roma do ano 64 d.C., a história conta que os vigias participaram dos saques à cidade e se aproveitaram de seu conhecimento sobre ela para encontrar grandes riquezas.
Proteção por conta própria
De qualquer forma, os vigias não eram uma força policial e tinham pouca autoridade quando ocorriam pequenos delitos noturnos.
Quem fosse vítima de um, tinha de se defender sozinho, como mostra um caso particularmente difícil discutido em um antigo manual sobre direito romano.
O caso se refere a um comerciante que mantinha seu negócio aberto à noite e deixou uma luminária no balcão que dava para a rua. Quando o objeto foi roubado, o dono da loja perseguiu o ladrão, e eles começaram a brigar.
O criminoso tinha uma arma - um pedaço de corda com um metal na ponta - e a usou contra o comerciante, que reagiu com um golpe tão forte que arrancou o olho do ladrão.
O dilema dos advogados romanos era se o comerciante era responsável pelo ferimento. Em um debate que ecoa alguns dos nossos próprios dilemas de até onde o dono de um negócio ou imóvel pode ir para se defender de um criminoso, os advogados disseram que o ladrão estava armado e havia dado o primeiro golpe, portanto, devia assumir a responsabilidade de ter pedido um olho.
O incidente é um bom exemplo do que poderia ocorrer nas ruas de Roma depois do anoitecer: pequenas brigas podiam ganhar grandes proporções e uma vasilha jogada de uma janela poderia ser fatal.
Bares e jogos de azar
Mas a noite romana não era apenas perigosa: era também divertida. Havia clubes, tabernas e bares abertos até altas horas.
Ainda que uma pessoa compartilhasse uma casa pequena com muita gente, se fosse um homem, poderia escapar do aperto por algumas horas para beber, fazer apostas ou se divertir com as garçonetes.
A elite romana desprezava estes locais. Ainda que o jogo fosse uma das atividades favoritas da sociedade romana - dizia-se que o imperador Claudio havia escrito um manual sobre o tema -, isso não impediam que as classes mais altas denunciassem os maus hábitos dos pobres e seu vício em jogos de azar.
Felizmente, temos algunas imagens da diversão em bares romanos do ponto de vista dos cidadãos comuns e não de seus críticos. Elas não estão em Roma, mas nas paredes dos bares de Pompeia, e mostram cenas típicas: grupos de homens sentados ao redor de mesas, pedindo outra rodada de bebidas, a interação entre clientes e garçonetes e uma grande quantidade de jogos. Há até indícios de violência.
Nesta pintura de um bar de Pompeia, que hoje está no Museu Arqueológico de Nápoles, vemos à esquerda uma dupla de jogadores que têm uma desavença sobre o jogo e, na direita, o proprietário ameaçando expulsá-los dali.
E os ricos?
Onde estavam os mais ricos durante essa agitada vida noturna nas ruas? A maioria estava cômodamente dormindo em suas camas, em casas luxuosas, com o auxílio de escravos e a proteção de cães de guarda.
Por trás das suas portas, reinava a paz - a menos, é claro, que houvesse um ataque -, e só ouviam os sons da vida dura nas ruas. Mas havia romanos na elite para quem a vida nas ruas era muito mais emocionante, e era ali que eles queriam estar.
Nas ruas de Roma, podia-se encontrar o imperador Nero em suas noites livres. Ao anoitecer, segundo conta seu biógrafo Suetônio, ele se disfarçava, visitava os bares da cidade e vagava pelas ruas, provocando confusão com seus companheiros.
Quando cruzava com homens a caminho de casa, os golpeava. Quando tinha vontade, invadia lojas fechadas e vendia no palácio o que roubava. Também se metia em brigas e, aparentemente, corria com frequêcia o risco de ser ferido ou morto.
E, ainda que muitos dos ricos evitasem sair de casa depois do anoitecer, outros faziam isso acompanhados por escravos que atuavam como seguranças privados ou um grande séquito de ajudantes, em busca de diversão.
Pelos relatos de Suetônio, talvez um dos maiores perigos de se andar à noite em Roma fosse encontrar o imperador.

Ao longo de toda a história romana, das origens da sua cidade até ao fim da dinastia júlio-claudiana, pareceu-nos que os Romanos tiveram em relação ao amor uma atitude ambígua: desconfiavam dele como de uma loucura, um desvario momentâneo, mas, ao mesmo tempo, estavam fascinados pela sua força, que lhes fazia pressentir o seu carácter divino. O amor está demasiado intimamente ligado ao drama e ao mistério da vida para que se possa pura e simplesmente negá-lo. Mas é também destruidor das cidades e das almas. Os homens temem menos as suas investidas, mas as mulheres podem tão facilmente deixar-se levar por ele e pôr em perigo, no seu desvario, a pureza da sua linhagem! Se os homens se podem permitir encarar o amor com ligeireza, este mesmo ato é, para uma mulher, uma iniciação perturbadora que transforma todo o seu ser. Toda a moral e toda a prática do amor se explicam em Roma por esta dupla convicção.
A sociologia das comunidades que estão na origem de Roma explica apenas certos aspectos da ética amorosa, mas não explica tudo. Explica, por exemplo, que haja, no entender dos Romanos, várias categorias de mulheres, as que devem ser protegidas, a qualquer preço, de si mesmas e contra as ações do deus e aquelas cuja pureza não tem qualquer importância. Mas não explica a aversão evidente que os Romanos sentiram sempre a respeito do amor “grego”, nem o sentimento de quase “pecado” que acompanha, para eles, a complacência carnal. Plutarco pergunta-se por que razão, no casamento romano, o costume exigia que, na noite de núpcias, o recém-casado se aproximasse da mulher apenas na obscuridade, sem nenhuma luz1. Responde ele mesmo à sua pergunta, recordando que os Romanos sentiam um profundo respeito pelas suas esposas e acrescenta que este costume sublinhava o carácter “vergonhoso” do ato de amor, mesmo se realizado entre esposos. “Vergonhoso” é sem dúvida dizer de mais. Este termo traduz o espanto e, de alguma forma, a desorientação de Plutarco perante um sentimento bastante estranho às pessoas do seu país. Tal como os Gregos, os Romanos não sentiam “vergonha” da nudez e o seu corpo nunca lhes pareceu “maldito”, mas tinham conservado, mais do que os Gregos, o significado do carácter sagrado desta nudez que revela o mais íntimo do ser. É um romano, Valério Máximo, que nos recorda que a moral proibia aos homens de uma mesma família tomar banho em conjunto, porque, diz ele, “sente-se tanto respeito pelas relações de sangue e de parentesco como pelos próprios deuses imortais... e que é proibido estar nu em um lugar sagrado”2. Assim como há regras para a celebração dos sacrifícios, também o amor, ato sagrado por excelência, exige o segredo e não deve ser profanado pelo olhar. O amor, como a morte, não é indiferente aos olhos da divindade, e vemos os “tabus” que atingiam as mulheres impuras, nomeadamente a situação da paelex dentro de casa3.
No entanto, este valor mágico era susceptível também de ser benéfico. As cortesãs dançavam nuas nas festas de Flora4 e os camponeses, nas Liberalia, perpetuavam, ainda no tempo de Virgílio, velhos ritos fálicos que se dirigiam ao deus Liber, divindade “de todas as sementes”5. Originalmente, o amor não se relacionava com a moral senão na medida em que esta, para os Romanos dos primeiros tempos, apenas incluía crenças de essência religiosa ou mágica. Este carácter originário iria persistir mesmo depois de se iniciar a reflexão “desinteressada” e a pessoa, separando-se dos imperativos coletivos, começar a fazer reconhecer os seus direitos: mesmo na época em que a relação amorosa se tornava, por excelência, no assunto das “pessoas”, os Romanos não esqueciam, na busca do seu prazer ou na manifestação da sua ternura, que no momento supremo era um deus que intervinha.
Este entendimento tem importantes consequências. Impede que a conquista amorosa seja orientada unicamente para a satisfação do prazer carnal e faça esquecer ao homem a dignidade da sua companheira. Verificámos várias vezes com que respeito, ou mesmo veneração, era rodeada a mulher na Roma arcaica e, depois, na Roma clássica. Não há dúvida de que este respeito se assemelha muito, por vezes, a uma precaução contra os excessos, sempre temidos, da sensibilidade feminina, mas enganar-nos-íamos se acreditássemos que os Romanos só pensaram em fechar as suas mulheres em uma prisão, por mais dourada que fosse. O respeito pela feminilidade é para eles um valor em si mesmo, que se afirma em muitas circunstâncias. É o caso dos privilégios extraordinários concedidos às Vestais e das proibições legais, como a isenção da manus iniectio às matronas quando eram apresentadas à justiça6. Uma mulher livre é, por essência, sagrada, tão “intocável” como o tribuno da plebe, e foi por ter ignorado este princípio essencial da moral romana que o decênviro Apio Cláudio provocou a revolução que se sabe7.
O argumento, dir-se-á, é talvez válido quando se trata das mulheres de nascimento livre, aquelas com que se casavam os romanos, muitas vezes sem as amar. Mas havia as outras, as que só existiam para o prazer, as cortesãs, as escravas. Eram estas respeitadas? O suposto “amor” que lhes tinham não seria apenas a satisfação brutal de um instinto que levava o homem a ter prazer com elas e a rejeitá-las em seguida?
É verdade que as cortesãs que conhecemos por intermédio do teatro de Plauto eram apenas consideradas instrumentos de prazer e que nelas a feminilidade era, se quisermos assim dizer, profanada. É verdade, também, que este estado de coisas se prolongou por muito tempo e não poderíamos pretender que todos os Romanos puderam chegar a conhecer o amor verdadeiro. Quem poderia afirmá-lo em relação a algum momento de qualquer sociedade que fosse? Mas do que se trata aqui é de saber se os costumes romanos continuaram, como um todo, a ignorar a espiritualidade amorosa e somos obrigados a reconhecer, nitidamente, que não foi esse o caso. Verificámos como, com Terêncio, a imagem da vida amorosa se torna muito diferente do que era no tempo de Plauto. Em meados do século II a.e.c., sob a influência do helenismo, mas também, por evolução natural dos costumes romanos, o sentimento amoroso ganha novos matizes e liberta-se dos tabus e dos imperativos tradicionais. Uma sua consequência inesperada não foi o amor conjugal degradar-se, mas o outro amor, o que está livre de todas as exigências, tornar-se mais íntimo, mais atento, mais respeitoso também. Tudo se passa como se se alargasse o respeito pela mulher a toda uma categoria destas para as quais parecia não ter sido concebido. Este respeito começa a aparecer não só nos homens, mas nas próprias mulheres. Estas, até então indiferentes ao sentimento que podiam fazer nascer no corações dos seus companheiros, começam a hesitar - pelo menos as melhores dentre elas - em oferecer apenas o seu corpo. Por seu lado, os homens e os jovens começam a esperar do casamento algo diferente de uma escravidão e austeros deveres e, também, que as ligações sejam mais do que passageiras. O sentimento amoroso torna-se para todos uma realidade espiritual, separa-se do instinto puro e simples, o que não se torna possível senão na medida em que a mulher conquista a sua dignidade. Qualquer amor verdadeiro supõe o respeito mútuo, mas, sobretudo, o respeito da mulher por si mesma e pelo outro. Ora, é porque estavam preparados, pela tradição e por uma espécie de instinto, a considerar as mulheres com respeito, ou até mesmo com um certo temor religioso, que os Romanos estavam predestinados, ainda mais, talvez, do que qualquer outro povo, para esta descoberta do amor.
É significativo que, entre todas as divindades que se encontram associadas, na religião romana, às relações amorosas, a primazia pertença a uma deusa, a Vênus, e não a um deus, como se os Romanos reconhecessem assim, de maneira implícita, que o amor é essencialmente “assunto da mulher” e que é a mulher que confere à união carnal o seu pleno valor sagrado. É significativo também verificar que o deus Amor é desconhecido no repertório das divindades romanas. Roma não possui nenhuma figura divina comparável ao Eros grego, que é princípio cósmico ou criança caprichosa, de acordo com os séculos. Quando Lucrécio quis dar um nome ao poder universal do amor, foi o de Vênus que ele escolheu, e não o de um demônio masculino. É fácil opor ao Eros grego - espírito de conquista e iniciativa, filho de Expediente e de Pobreza, como nos conta Platão - a Vênus romana, a “boa deusa”, sobre o peito da qual Marte vem adormecer, definitivamente vencido. Outras raças e outros tempos exigirão que o homem realize proezas pela amada. Em Roma, o amor desarma o herói. Neste combate, é a mulher que domina e alcança sempre a vitória. O Eros grego, nervoso e inquieto, é indiferente ao dia seguinte ao seu triunfo. Mas a Vênus romana aspira, de uma maneira mais ou menos confessada, à maternidade e tem horror às uniões estéreis.
Apesar de todos os gracejos, o amor conjugal permanece o ideal mais caro aos Romanos, aquele de que todos sentem a nostalgia. Na própria família de Augusto, onde as paixões causaram tantas devastações - embora mais as paixões pelo poder do que as do amor -, a história guardou a lembrança da ternura exclusiva que uniu Druso e a sua mulher Antônia8: por amor dela, segundo nos é dito, renunciou a qualquer outra união carnal. Assim, embora nos garantam que, nesta época, os costumes se iam corrompendo a cada dia, um nobre romano descobria a virtude, nova então, da fidelidade a uma mulher. Na mesma época, Propércio fazia uma descoberta muito semelhante: que um amor como o seu exige afides. Antigamente, os costumes impunham à mulher que permanecesse univira, que conhecesse um só marido. Com o início do Império, eis que uma exigência semelhante começa a ser feita ao homem, o que seria inconcebível duas ou três gerações atrás. São os próprios homens que renunciam, por amor, à liberdade que a moral tradicional lhes concedia: Catulo quer tornar-se “marido” de Clódia e Tibulo deseja viver no campo com Délia, em uma solidão partilhada. A amante tende a tornar-se domina, a que reina sobre o amante como a mãe de família reina em casa sobre os escravos. O amante já não tem outra vontade que não seja a da sua amiga: que esta submissão seja real, e não apenas um mito literário, é o que provaram os exemplos incríveis da influência política exercida pelas mulheres no fim da República e durante os primeiros anos do Império. Nessa época, Roma está em vias de “divinizar” a mulher e o amor, de assumir o carácter de uma adoração que o amante vota à companheira.
Desta adoração e do seu grande poder, as mulheres, durante o Império, estavam plenamente conscientes, e não deixavam de os usar. Os “velhos romanos” (ou os que utilizam as suas palavras) podiam muitas vezes murmurar, justificadamente, que os costumes estavam corrompidos, que tudo estava perdido, porque não se podia mais manter as mulheres no bom caminho: as que se desejavam “madonas” tornavam-se demônios. Este é o tema acerca do qual Juvenal fantasia bastante na sexta sátira: há na mulher um instinto perverso que a leva a procurar por toda a parte e a qualquer preço a satisfação dos sentidos. “Cometem os crimes mais graves, forçadas pela tirania do seu sexo, e a libertinagem é o menor dos seus pecados.”9 Este pessimismo, esta misoginia aparente, vai Juvenal procurá-los nas profundezas mais remotas dos séculos passados, mas já não são atuais. Aliás, não podemos dizer que não se trata de despeito, da decepção de um homem que “lançara as suas redes” demasiado alto. As declarações de Juvenal são um eco dos atrozes poemas de Catulo contra a infiel Clódia, das queixas de Tibulo desiludido com Délia e das censuras dirigidas por Propércio a Cíntia. Os romanos não se lamentariam tanto das mulheres, se não se obstinassem tanto a imaginá-las como elas não são.
***
Sob o céu italiano, seria muito surpreendente que a paixão amorosa não tivesse dominado a vida. A paz profunda assegurada pelo Império contribuía também para favorecer estes jogos que nada vinha perturbar. Os amores de que nos falam os historiadores são os da aristocracia e, se se assemelham, por certo, aos das pessoas comuns, não deixam de apresentar notáveis diferenças: os costumes aristocráticos estão mais sujeitos do que os outros à moral tradicional e quando se libertam fazem-no com mais estrépito. As leis de Augusto não exerciam a sua coação se não sobre as duas ordens principais, os senadores e os cavaleiros; não se preocupavam com as que estavam, praticamente, excluídas da vida pública. Além disso, uma grande parte destas classes populares não pertencia ao velho legado itálico, sendo estranha às tradições religiosas e familiares que dominavam a burguesia romana e a dos municípios italianos. Os elementos orientais tinham-se infiltrado nela há muito tempo e tinham trazido consigo costumes indiferentes aos velhos tabus que continuavam a assombrar as consciências realmente romanas. A Campânia foi, por excelência, a região onde se realizou esta mistura, esta síntese do Ocidente e do Oriente, que contribuiu tanto para “perverter” a moral romana, para fazer com que, aparentemente, abandonasse os velhos valores, mas tendo contribuído, de fato, para que os aprofundasse e lhes desse um sentido novo.
É na Campânia que se passa a ação do romance de Petrônio, ou, pelo menos, a das partes do Satiricon que conservamos. Ora, os episódios que o compõem são extremamente escabrosos e é evidente que o autor (sem dúvida, o senador de nome Petrônio que foi amigo de Nero e, depois, teve que se matar por ordem deste) se compraz em compor as cenas que designamos como imorais. Nele, vemos dois “estudantes”, fugidos da sua escola, que vagueiam sem problemas pela sociedade heterogênea das cidades da Campânia. Cometeram uma falta misteriosa que é, a um tempo, contra um deus, Priapo, e contra uma senhora da burguesia, que os persegue com a sua inimizade. A senhora encontra-os e perde-os várias vezes e, em cada uma, esforça-se por satisfazer com eles os seus desejos. As cenas francamente eróticas não faltam. Parece que o grande objetivo destes jovens e das mulheres que encontram é o prazer da carne. Esta imagem da vida da Campânia não é desmentida pelas pinturas eróticas e por um grande número de inscrições, de graffiti, encontradas nos muros da pequena cidade soterrada pelas cinzas do Vesúvio, em 79 e.c. Já nos tinha parecido que, no tempo de Plauto, os lugares públicos e as ruas de Roma estavam cheios de jovens e também de homens mais maduros que não tinham outra ocupação senão ver passar as mulheres e fazer toda a espécie de avanços às que pensavam acessíveis10. E a imagem que a poesia de Ovídio nos apresenta de Roma11. À medida que se abandona a alta sociedade para encontrar o povo miúdo, parece que a liberdade dos costumes se torna maior: as mulheres têm menos a perder, os homens têm menos contenção e não encontram, na sua própria casa, com quem satisfazer os sentidos. Então, procuram aventuras. Os muros de Pompeia guardaram a lembrança destes amores.
Algumas destas inscrições amorosas foram coligidas recentemente e encontramos, ao folheá-las, um quadro singularmente vivo dos costumes da Campânia12. O amor é considerado pelos Pompeianos como o senhor por excelência que dá às almas e aos seres a sua verdadeira beleza: Nemo est bellus nisi qui amavit, o que significa, aproximadamente, “É ser incompleto nunca não ter amado.” O deus é capaz de realizar milagres, sabe enternecer as pedras e fazê-las falar uma linguagem humana: Iam docui silices verba benigna loqui (“ensinei as pedras a dizer palavras de benevolência”). Mas é também um deus cruel e Vênus atormenta as almas: um amante desiludido declara que gostaria de “quebrar as costas à deusa a golpes de cacete” e um outro maldiz todos os amantes, os que possuem a felicidade que lhe é recusada. Vênus é a deusa protetora da cidade. É a ela que os apaixonados dirigem as suas orações, é a ela que insultam quando não lhes é propícia.
Os nomes que aparecem nestas inscrições mostram que foram feitas por pessoas comuns: escravos que ardem de amor por uma serva qualquer, artesãos, com frequência libertos cujo apelido revela a origem oriental, e habitantes das cidades vizinhas, que vêm fazer a festa em Pompeia, longe dos olhares indiscretos. Mas mesmo estes seres simples refletem acerca do amor que está presente no que podemos ainda captar da sua vida. Sabem que o prazer é efêmero, que “Vênus, logo que une os corpos dos amantes, imediatamente os separa”. Mas sabem também que o prazer é apenas o primeiro momento da união das almas: “A alma”, diz uma inscrição proveniente de uma coluna vizinha do anfiteatro, “está acostumada a tomar o que lhe é devido e a dá-lo, por sua vez. Se seguires esta moral, possa a Vênus recíproca, Vênus Syntrophos, permitir que os teus desejos se realizem”. Talvez fiquem a dever esta máxima singularmente “altruísta” a alguns fragmentos da filosofia vinda da Grécia, mas ela corresponde tão bem ao que dizem, por seu lado, os poetas romanos, que é difícil não pensarmos que até os mais humildes dos Campanianos incluíam alguma espiritualidade nos seus amores.
A última, em termos cronológicos, das grandes obras literárias que a literatura ancestral de língua latina nos legou, as Metamorfoses de Apuleio, resume em um quadro pitoresco os diferentes aspectos da vida amorosa como era vivida, no século II e.c., pelos romanos das cidades da província. O tema deste romance é retirado por Apuleio de uma “novela” grega, escrita, talvez, por um certo Lúcio de Patras. É a estória de um jovem, também chamado Lúcio, que, desejando iniciar-se nas práticas mágicas, usa por engano um unguento que pensava ser capaz de transformar em pássaro e que o metamorfoseia em burro. Eis Lúcio arrastado para mil aventuras algumas vezes trágicas, outras cômicas. É sobretudo, testemunha curiosa de muitas cenas que a intimidade das casas em geral dissimula, mas que nem se sonha esconder a este animal, que é, no entanto, tão diferente dos outros.
Lúcio, antes de transformar-se em burro, é um jovem de sentidos facilmente inflamáveis. Não é por certo um malandro parecido com os heróis de Petrônio. Pelo contrário, é de boa família, respeitoso da ordem estabelecida, extremamente cortês, também muito delicado e é discreto com os seus anfitriões. Se pensasse, indecorosamente, seduzir a pequena serva que assume por si só o encargo da casa onde é acolhido, em uma pequena cidade da Tessália, onde o conduziu o seu desejo de ver bruxas autênticas, abster-se-ia certamente. Mas a serva, Fótis, é jovem e nada selvagem e basta uma palavra, um elogio banal, para que lhe ceda. Aliás, o certo é que, se ele não tivesse falado em primeiro lugar, teria sido ela mesma a avançar. No início da aventura, Lúcio tem efetivamente uma segunda intenção: adivinha que a dona da casa é uma mágica e conta com a serva para o ajudar a entrar nos seus segredos. Mas, muito rapidamente, dá-se ao jogo e abandona-se sem reservas aos prazeres que ela lhe dá e aos que ele não lhe regateia.
Mas, uma vez passados os primeiros ardores, Lúcio retoma o seu propósito. Pede os segredos com que sonha e Fótis, apesar da sua repulsa, é forçada a abrir-lhe o “laboratório” da bruxa. Vai mesmo mais longe e rouba a pomada que deve transformá-lo em pássaro. No entanto, está tão perturbada que se engana e Lúcio, na sua presença, transforma-se em um burro. Então, antes que Fótis possa devolvê-lo à sua primeira forma, dando-lhe rosas a comer (esse é o filtro capaz de anular o sortilégio), chegam bandidos que pilham a casa e, para transportar o seu roubo, levam com eles todos os animais de carga que há na cavalariça e também Lúcio. Em breve, Lúcio chega com os bandidos à montanha onde se encontra o seu refúgio e aí encontra uma prisioneira, uma jovem que eles raptaram na véspera do seu casamento e que está desolada com a perda da sua felicidade. Enquanto os bandidos estão longe, em uma das suas expedições, uma velha, que faz as vezes de serva, tenta consolar a jovem e conta-lhe uma estória maravilhosa, o conto de Eros e Psique. Este conto é muito estranho. O essencial é idêntico a uma estória familiar a todos os folclores, “a Bela e o Monstro”, mas contém também outros elementos que nos levam a rejeitar a hipótese de que Apuleio, ao inseri-lo no seu romance “picaresco”, apenas pretendeu divertir os seus leitores. Psique é filha de um rei e tem duas irmãs que são muito belas, mas ela é de uma beleza maravilhosa, mais do que humana. As suas irmãs estão casadas com reis, mas ela permanece sozinha, no palácio de seu pai, sem que ninguém ouse pedir a sua mão. O rei, pesaroso, decide consultar o oráculo e o deus ordena-lhe que exponha a filha em uma montanha, vestida como que para o casamento, e a abandone lá. Um monstro virá procurá-la e ficará com ela em seu poder. Desesperado, o rei, no entanto, obedece e Psique é levada para o cimo da montanha. Mas, quando fica sozinha, surge uma brisa, transporta-a devagar nos ares e pousa-a com precaução sobre a relva de um jardim maravilhoso. Psique desmaia com medo e quando reabre os olhos descobre com alegria, à sua frente, um palácio muito brilhante todo de ouro. Entra nele. O palácio está deserto, mas o ar vibra de vozes e de música. As vozes dizem-lhe que é a dona do palácio e que elas mesmas estão ali para a servir. Psique toma banho, veste-se com requinte, janta tranquilamente e, quando desce a noite, retira-se para um quarto. Mas, antes de o sono chegar, sente junto dela uma presença. Na obscuridade total, tem medo, mas o ser que está com dela é persuasivo e é para Psique a primeira noite de amor.
Nos dias seguintes, recomeça tudo de novo: durante o dia, vozes atentas antecipam-se aos seus mais pequenos desejos e, em cada noite, regressa para ela o seu marido desconhecido. Este explica-lhe que não deve sequer sonhar em saber quem é. Se o tentasse, correria o risco das piores desgraças. Psique, durante algum tempo, domina a curiosidade, mas, com o passar dos dias, sente-se infeliz. A solidão, longe de qualquer presença humana, pesa-lhe terrivelmente. Suplica ao marido que a autorize a trazer as suas duas irmãs. Ele, de início, opõe-se. Previne-a que tais visitas são perigosas e ameaçam a sua felicidade. Mas Psique, com ternura e insistência, vence a sua obstinação. As irmãs são chamadas. Vêm uma primeira vez, depois regressam e a felicidade de Psique rói-as de inveja. Acham injusto o destino que põe à disposição da sua irmã mais nova tesouros que, é claro, saberiam aproveitar melhor do que ela e, por inveja, tentam semear a dúvida na alma de Psique: quem é o marido de que ela nada pode dizer-lhes? Não será um monstro terrível que engorda a jovem para a devorar? Psique, desorientada, ouve o seu pérfido conselho. Na noite seguinte, dissimula sob um alqueire uma lâmpada acesa, mune-se de uma navalha afiada e, quando o marido adormece, levanta o alqueire, toma a lâmpada em uma mão, a navalha na outra... e vai golpeá-lo quando os seus olhos descobrem um espectáculo perturbador. Não é um monstro terrível que está estendido na cama, mas o deus mais adorável, mais voluptuoso, um efebo com um corpo de mármore e que duas asas palpitantes semienvolvem. Psique compreende que, todas as noites, teve Eros por companheiro. Inclina-se para dar-lhe um beijo, mas tão desajeitadamente que a lâmpada deixa cair uma gota de óleo a ferver. Eros lança um grito, acorda e vê que o seu segredo foi descoberto. De imediato, levanta voo, escapa aos abraços de Psique e declara-lhe que nunca mais o voltará a ver.
Então começa para a pobre jovem uma longa série de provas. Não se resigna a abandonar o seu amor. Procura o deus por toda a parte, mas as próprias divindades a afastam. Vênus, a mãe de Eros, procura-a por todo o lado para a punir. Vênus sempre teve ciúmes dela e tinha pedido ao filho para atormentar a jovem e eis que esta tinha seduzido aquele que devia ser o seu algoz. Vênus está furiosa. Psique, rejeitada por todos, aproxima-se voluntariamente da sua inimiga com a esperança secreta de chegar assim junto daquele que ama. Vênus tortura-a de mil maneiras e impõe-lhe trabalhos que crê impossíveis, mas toda a natureza conspira para a ajudar. Porém, no último trabalho que lhe é ordenado e que consiste em ir aos Infernos, Psique teria morrido se o próprio Eros não tivesse tido piedade dela, de tanta constância e de tanta ternura, e não tivesse conseguido que Júpiter consagrasse solenemente a sua união. Vênus reconcilia-se, então, com a nora.
Esta é a história que a velha conta à prisioneira dos bandidos e que Lúcio, embora continue sob forma de burro, ouve avidamente. Em seguida, o próprio romance recomeça, após esta pausa, e os acontecimentos sucedem-se com rapidez. A cativa é salva, o grupo de bandidos, destruído, mas outros dramas se encadeiam: amantes unem-se, são separados por ciumentos, morre-se de amor, exercem-se vinganças atrozes, tudo isto sob o olhar do burro. Em outros lugares, em casa de aldeões e nas mais humildes casas, desenrolam-se aventuras dignas de contos satíricos ou morais: não são senão maridos enganados, mulheres pérfidas, por vezes, mesmo criminosas e madrastas que envenenam os filhos de um casamento anterior, ou que se apaixonam pelo enteado e, perante a sua resistência, arranjam maneira de os destruir. Temos no romance todo o repertório, quer das estórias “milésias”, quer das mais sombrias tragédias. Parece que Apuleio procurou compor uma espécie de inferno da paixão, onde se encontram, lado a lado, episódios burlescos e episódios trágicos, o que faz um vivo contraste com a lenda de Psique. Este inferno culmina com uma aventura bastante perversa em que o próprio burro é o herói. Desejado por uma grande senhora (que faz lembrar, com os seus ardores contra a natureza, quer os excessos dos personagens de Petrônio, quer os vícios denunciados por Juvenal), ele é, contra a sua vontade, instrumento de prazeres monstruosos. Mas eis que a graça divina vai alterar a triste vida de Lúcio. Em uma noite de lua cheia, a deusa Isis aparece-lhe na praia de Corinto e diz-lhe o que deve fazer para quebrar o encantamento. No dia seguinte, Lúcio encontra por fim as rosas que não pudera descobrir até então, e ei-lo que regressa à sua forma humana. Iniciado nos mistérios da deusa, convertido à sua religião, curado da sua curiosidade sacrílega pelas práticas mágicas, Lúcio vive doravante feliz e santificado.
Conhecemos muito mal, sem dúvida, o modelo seguido por Apuleio no seu romance, mas sabemos que lhe acrescentou os dois episódios principais, os que conferem às Metamorfoses o seu significado moral e religioso: a lenda de Eros e Psique, que ocupa o seu centro, e o “livro de Isis”, que é a conclusão mística.
Psique, como o seu nome claramente indica, é o símbolo da alma humana que se inflama de amor pelas coisas divinas e, penosamente, através de inúmeras e duras provas, conquista a felicidade. Para compor o seu mito, Apuleio transportou para o quadro fornecido por um tema folclórico uma doutrina do amor que encontramos já, com muitas semelhanças, no platonismo clássico e que a arte helenística e romana se comprouve a ilustrar e a popularizar pelo relevo e pela pintura. Psique é uma destas pequenas moças aladas que se vêem em quadrinhos, atormentadas ou, por vezes, consoladas por Eros, também alado, que as queima com as suas tochas, as fere com as suas flechas ou as conduz em triunfo atreladas ao seu carro, quando não é ele mesmo representado como vencido. Apuleio apoderou-se destas imagens e, com elas, construiu uma alegoria transparente, que encontrou o seu lugar no todo do romance. As Metamorfoses contêm, assim, uma verdadeira “doutrina” do amor: reconhecemos nelas a enumeração complacente das formas mais frustes do sentimento ou do instinto amoroso, as que são perigosas para a vida da alma. Por contraste, o romance exalta o poder e a virtude salvadora do amor. E pelo amor, quando purificado pelo conhecimento dos mistérios sagrados, que a alma atingirá a salvação. O amor, ensina Apuleio, está intimamente ligado à Alma do Mundo, que os filósofos deste tempo identificavam naturalmente com Afrodite; ele é o demônio que permite a cada um comungar com o princípio universal da vida. Não é ele que dá ao que é mortal o meio para triunfar sobre a sua própria morte e para se perpetuar na sua descendência e nas suas obras? Tal é a promessa que Isis faz aos seus iniciados. Ela é, no universo, o princípio “feminino”, a matéria que recebe a semente fecundante e faz emergir a floresta das formas.
Todos os hinos que celebram Isis atribuem-lhe a honra de ter ensinado o amor aos seres humanos. Ela é a protetora das mulheres, que participam muito em especial na sua divindade, garante a dignidade delas e confere aos seus amores todo o seu significado. Nas formas romanas da religião de ísis, verifica-se que a deusa já não está submetida a Osíris: é ela que estabelece lugares de culto para o seu esposo13. É notável que a religião de ísis triunfe em Roma exatamente no tempo em que os costumes aceitam definitivamente a emancipação, ou, mesmo, para alguns, a “divinização” da mulher. Não nos esquecemos de que o imperador Calígula, tão diligente a erigir altares às suas irmãs (a ponto de se suspeitar que tinha por uma delas uma paixão incestuosa, ao modo egípcio), era devoto de ísis. Muitas mulheres frequentavam com assiduidade os santuários da deusa, nomeadamente o Isaeum do Campo de Marte. Ísis orientava a sua conduta, impunha-lhes penitências e períodos de castidade ritual, mas também as consolava e, secretamente, revelava-lhes a sua dignidade de mulher e o seu poder. Os “velhos romanos” bem podiam resmungar, mas já ninguém os escutava. Roma estava preparada há várias gerações para ouvir o evangelho de ísis. Cleópatra tinha sido perdoada.
Na mesma época, a pintura decorativa multiplica, nas paredes das casas, as cenas mitológicas onde se vêem casamentos divinos: Afrodite e Adônis, Dioniso e Ariadne. Marte e Vênus encontram-se entre os temas mais frequentemente representados. Os decoradores correspondiam, assim, ao gosto de uma clientela que atribuía cada vez mais ao casamento um valor místico. Encontra-se também um grande número de himeneus nos sarcófagos da época romana: o casamento é considerado como uma “iniciação” às coisas divinas e uma imagem da imortalidade. O famoso fresco de Boscoreale pôde ser interpretado, não sem alguma razão, como um símbolo dionisíaco do casamento14. A tradição romana, em que Dioniso nunca deixou de ser um deus vivo, utiliza os motivos vindos do Oriente helenístico: este fresco de Boscoreale foi pintado, com certeza, no tempo em que Messalina e Sílio celebravam, eles também, as suas núpcias, mimando o mito de Ariadne15. A partir desta época, o amor é considerado como uma fonte de vida espiritual e os costumes correspondem com grande exatidão ao ensino de Apuleio, um século mais tarde.
Apesar dos excessos e desvarios individuais, de que os historiadores romanos se fizeram o eco complacente, apesar das brejeirices de Petrônio, recusamo-nos a pensar que Roma foi apenas a Babilônia impura, de amores monstruosos, que as pessoas gostam de evocar com demasiada frequência. Ela tentou conciliar as exigências morais e sociais com as quais o amor está tão frequentemente em conflito e as aspirações mais profundas da alma, que é perigoso mutilar. Terá conseguido resolver completamente este problema? Provavelmente não, mas, sem dúvida, porque é insolúvel. Terá existido alguma vez uma sociedade a que se pudesse reconhecer o mérito de o ter resolvido totalmente?

Por volta de 100 a.e.c., a complacência do senado romano estava começando a oscilar. Vinte anos antes, o poder do senado parecia indestrutível. O programa interno de reforma dos irmãos Graco fora rejeitado com um mínimo de concessões enquanto no exterior Roma não enfrentava nenhuma ameaça militar séria. Seus exércitos dominavam do Mar Negro ao Atlântico. Guerras mesquinhas continuavam contra os espanhóis e algumas tribos alpinas agitadas, mas a aristocracia guerreira de Roma considerava-as como oportunidades de glória em vez de problemas a superar.
Então, veio uma série de contratempos. Uma guerra relativamente pouco importante na África transformou-se em uma campanha estendida. Embora o enérgico e competente Metelo Numídio ajudasse a vencer essa guerra, a incompetência militar e a corrupção desavergonhada de seus “melhores” prejudicou gravemente a fé das pessoas comuns no sistema.
Elas se voltaram para o demagogo Caio Mário. Para o público romano, a principal qualificação de Mário para um cargo elevado era sua amarga desaprovação de tudo o que a classe governante romana representava. Mário assumiu o comando na África e logo acabou com a guerra. Para conseguir os recrutas extras de que necessitava, Mário tornou os capite censi - aqueles que eram pobres demais para ter o próprio equipamento militar - elegíveis para o serviço militar, usando dinheiro do estado para pagar por suas armas e armaduras.
Enquanto Mário ainda era cônsul, a migração de uma grande tribo alemã, os cimbros, ameaçava as fronteiras ao norte de Roma. Por causa da estupidez arrogante de seu comandante, o exército enviado para impedi-los foi arrasado totalmente, quase até o último homem. Roma foi salva pela sorte, pois os cimbros decidiram saquear a Espanha antes de se voltar para a Itália. Quando eles voltaram, Mário estava esperando com um exército cuidadosamente treinado e destruiu os invasores no norte da Itália. No entanto, Roma tinha problemas que não podiam ser resolvidos pelo poderio militar.
A aristocracia de Roma estava pagando pela teimosia da geração anterior. Os conservadores (os optimates, ou “melhores homens”, como chamavam a si mesmos) haviam derrotado os reformadores sociais com violência brutal em vez de pelo debate racional. Agora a reação estava se manifestando, e a eleição de Mário foi apenas um sintoma da insatisfação entre o eleitorado. Eles elegeram demagogos radicais para o tribunato, um cargo que tinha um apelo distinto para os reformadores. Os tribunos desfrutavam uma posição especial em Roma. Podiam proteger seus concidadãos, vetando leis opressivas e até mesmo prender o próprio cônsul. Acima de tudo, os tribunos podiam propor projetos de lei e usar sua considerável autoridade para transformá-los em leis.
Isso foi feito pelo infame Saturnino e novamente nos anos 90 a.e.c. pelo generoso Lívio Druso. Druso havia identificado uma importante falha na sociedade romana: a cidadania. Roma agora distribuía esparsamente o privilégio da cidadania, e àqueles que desfrutavam de suas consideráveis vantagens relutavam em compartilhar seus benefícios. Isso enraivecia os povos submetidos da Itália. Muitos deles haviam servido ao lado das legiões nas guerras de Roma e eram parte integral da máquina de guerra romana. Quando Druso foi assassinado, a frustração do povo italiano explodiu em uma rebelião que ameaçou a própria existência de Roma.
Essa rebelião foi chamada de Guerra Social a partir da palavra latina socii ou “aliados” . Nessa guerra, o exército de Roma, em grande medida, lutou contra si mesmo. Em vez dos bárbaros ou das hordas asiáticas, os romanos confrontaram um exército disciplinado e altamente motivado que lutava no mesmo nível, de manobra a manobra. Roma só “venceu” essa guerra ao dar a cidadania para todos os rebeldes que depusessem suas armas. Isso significou que o exército romano passou a incluir soldados que tinham lutado contra Roma alguns anos antes. Muitos eram das tribos das montanhas, com pouca experiência de democracia e ainda menor maldade para o senado. Eles marchavam sob a bandeira do SPQR (Senatus Populus Romanus - “o senado e o povo de Roma”), mas na verdade eram leais principalmente a si mesmos e a seu general, em especial porque as mudanças instituídas por Mário significavam que os capite censi dependiam de seu general para obter terras nas quais se instalariam depois de prestar serviço com as legiões.
A atmosfera política venenosa de Roma não ajudava. O estado estava polarizado entre conservadores obstinados e demagogos radicais que se revezavam no ataque contra qualquer um que tentasse assumir uma postura política intermediária. [68] Era apenas uma questão de tempo até que um dos perdedores dessa amarga batalha política buscasse apoio no exército.
O homem que fez isso foi Lúcio Sula. Roma caiu diante de seus próprios soldados, primeiro liderados por Sula, depois por seus adversários e, então, mais uma vez por Sula. Cada queda foi seguida por um massacre sangrento das famílias mais influentes de Roma. Marco Crasso, do aristocrático clã Licínio, foi obrigado a fugir para a Espanha. Júlio César, parente de Mário pelo casamento, foi retirado de seu esconderijo e salvo da execução no último minuto.
A guerra não se confinou à Itália. O domínio de Roma na Ásia Menor resultou na maior transferência de capital na história antiga quando os dominadores romanos extraíram cada grama de ouro dos infelizes provincianos para pagar por sua luta destrutiva.
O rei de Ponto, Mitrídates, era um monarca enérgico e ambicioso. Roma havia devorado lentamente os pequenos reinos que surgiram depois da queda do Império Selêucida, e Mitrídates estava determinado a impedir que Ponto se transformasse em outra vítima de Roma. Quase imediatamente depois que subiu ao trono, Mitrídates começou a expandir e fortalecer seu reino. Era difícil fazer isso sem antagonizar Roma, especialmente com os generais romanos ambiciosos pela glória e despojos que vinham com a conquista. De modo inevitável, Mitrídates provocou Roma várias vezes e a guerra irrompeu. Enquanto os romanos estavam distraídos pela guerra civil entre Mário e Sula, Mitrídates capturou as cidades gregas da Ásia Menor. Sua ordem para que os romanos e italianos nessas cidades fossem executados foi obedecida com entusiasmo. No entanto, mesmo com seus líderes envolvidos em uma guerra civil, os exércitos de Roma continuavam a ser temíveis. Em certo ponto, Mitrídates só escapou de ser feito prisioneiro porque o exército e a frota romana estavam em lados diferentes de um conflito civil e não se ajudavam mutuamente nem mesmo para capturar um de seus maiores inimigos.
Os romanos invadiram Ponto diversas vezes, mas uma das maiores forças de Mitrídates era a determinação de seu povo de não ser integrado ao Império Romano. Cada cidade e castelo resistiram aos romanos e o interior do país era hostil. Quando Mitrídates foi expulso de Ponto, seus súditos continuaram a lutar e o receberam entusiasmados quando retornou. Como na Espanha, do outro lado do Império, a reputação de Roma como um governo corrupto dificultou ainda mais o trabalho de seus exércitos.
Mesmo enquanto a guerra contra Mitrídates continuava, a Itália era abalada nos anos 70 a.e.c. pela revolta de Espártaco, o gladiador. O fato de que um obscuro bandido da Trácia pudesse aterrorizar a Itália de tal modo refletia o mal-estar que tomava conta do estado. Espártaco era um escravo sob uma sentença de morte, na camada inferior da hierarquia social romana. Em teoria, ele [70] deveria ter sido um homem do qual todos se afastavam com desdém e desprezo. No entanto, as pessoas comuns da Itália estavam tão marginalizadas que, em vez de resistir a Espártaco, elas aderiam aos milhares a ele. As gerações posteriores dos romanos consideraram a revolta de Espártaco como um episódio profundamente humilhante em sua história. Que tivessem de falar sobre uma turba de escravos fugidos e gladiadores como se fossem inimigos valorosos de Roma já bastava para ser constrangedor. Que tivessem sido derrotados por essa turba em uma batalha depois da outra era uma vergonha que os romanos sentiam profundamente. O modo como Espártaco conseguiu suas vitórias deixou os historiadores perplexos.
Não existe nenhuma dúvida de que ele era um líder e um general de primeira classe, e foi apenas quando os romanos relutantemente reconheceram esse fato que a maré se voltou contra Espártaco.
Os romanos deram o comando da campanha contra Espártaco a Marco Crasso, um plutocrata e general muito experiente. Ele era um político astuto, e seu agudo tino para os negócios tornou-o por algum tempo o homem mais rico de Roma.
Embora tivesse vencido Espártaco, Crasso foi suplantado em prestígio popular por Pompeu, que conseguiu uma enorme riqueza nas campanhas na Ásia Menor. O papel do dinheiro e sua influência na política romana deu tal poder a Pompeu que ele, às vezes, ofuscava as instituições do estado de um modo que se parecia ao dos últimos imperadores de Roma. No entanto, Pompeu tinha rivais pelo poder. O senado, liderado pelo jovem e idealista Cato, perseguia-o sempre que possível. E, nas ruas, o povo romano era liderado pelo impetuoso Clódio, um Claudiano da nata da aristocracia que defendeu a causa popular até ser morto em uma revolta.
Outro jovem aristocrata parecia pronto para assumir o lugar de Clódio: o ambicioso e inescrupuloso Júlio César. Acreditava-se que César estivera envolvido na trama do aristocrata decadente Catilina para assumir o poder em um golpe. A conspiração de Catilina foi frustrada pelo cônsul e orador Marco Cícero, e César conseguiu escapar à punição em parte por ser protegido pelo poderoso Marco Crasso.
Crasso e César uniram forças com Pompeu. Sua parceria, mais tarde chamada de Primeiro Triunvirato, dominou a cena política romana e permitiu que César obtivesse o governo no sul da Gália. César não tinha ordens do senado para expandir as fronteiras de Roma para o norte; de fato, a maior parte do senado lhe era tão hostil que não queriam ter lhe dado nenhum comando no estrangeiro. César, por outro lado, desejava uma guerra exatamente pela mesma razão que o senado não queria que ele a travasse; a vitória lhe traria riquezas e glória que poderiam ser convertidas em maior poder político.
Assim, as Guerras da Gália, que foram travadas por César e que levaram à morte e expropriação de milhões de pessoas, não foram lutadas nem por vantagem estratégicas nem para defender o estado romano. Elas aconteceram para que [71] um aristocrata ambicioso e cruel pudesse melhorar sua posição nas lutas políticas de Roma.
Um jovem nobre gaulês, Vercingetorix, liderou a resistência às legiões de César. A liderança inspirada de Vercingetorix e o medo de Roma conseguiram o feito sem precedentes de unir as tribos rivais da Gália contra o invasor. Mas essa rebelião heróica estava fadada ao fracasso. Vercingetorix era suplantado em quase todas as esferas da guerra e mesmo sua vantagem numérica era consideravelmente menor do que o relatado por César. Entretanto, Vercingetorix forçou César a apostar sua carreira e sua própria vida no resultado de um único cerco e, por algum tempo, César não tinha certeza de que venceria. Finalmente, porém, a Gália foi conquistada e incluída no crescente império de Roma, tornando-se tão completamente romanizada que hoje até mesmo a língua nativa da região é diretamente originária do latim e as leis se baseiam no código romano.
Durante o século II a.e.c., o império dos selêucidas, baseado nas conquistas de Alexandre, o Grande, havia desabado lentamente sob a pressão dos inimigos. Esses inimigos incluíam os romanos, que esmagaram o rei selêucida Antíoco III na batalha da Magnésia, em 190 a.e.c. No lugar do Império Selêucida surgiram numerosos pequenos reinos no oeste da Ásia Menor, mas no leste os povos do planalto iraniano uniram-se sob os reis arsácidas no Império Parto. Roma entrou em contato com os partos no início do século I, e o Rio Eufrates passou a marcar os limites respectivos das duas potências.
Esse acordo foi rompido por uma clara agressão romana em 53 a.e.c., quando Crasso tentou imitar os feitos de César na Gália, conquistando os partos. Porém, Crasso havia subestimado em muito seu inimigo. Suas legiões estavam mal-equipadas tanto para as condições em que tiveram de lutar quanto para o estilo de luta adotado pelos partos. Além disso, os romanos interpretaram o servilismo lisonjeiro do povo parto diante de seus governantes como um sinal de decadência abjeta e foram desagradavelmente surpresos pela determinação e bravura de seus inimigos quando confrontados em batalha.
O rei parto Orodes II era um general e diplomata habilidoso. Ele isolou Crasso de seus aliados, e seus soldados esmagaram a invasão romana em Carras, onde Crasso perdeu a vida.
Roma não conseguiu vingar essa derrota porque César, seguindo os passos de Sula, havia voltado seu exército contra a República. Pompeu liderou a causa republicana, que foi derrotada diante do exército de veteranos de César em Farsalos, na Grécia, em 48 a.e.c.
Pompeu fugiu para o Egito. Escolheu o Egito porque esse era o último poder do Mediterrâneo que permanecia fora do controle romano. O Egito também era uma parte que havia florescido a partir da dissolução do antigo império de [72] Alexandre, o Grande, e havia sido governado pela família de Ptolomeu, um dos antigos generais de Alexandre, desde sua morte. Embora governassem o Egito há séculos, os Ptolomeu ainda eram macedônios puros, pois haviam se casado entre si, incestuosamente, por gerações.
Na época da chegada de Pompeu, o casamento de Ptolomeu XIII com sua irmã Cleópatra estava sob alguma tensão. Na verdade, a tensão era tanta que Cleópatra fora obrigada a sair do palácio e, em certo momento, acreditou que sua vida estava ameaçada. O acréscimo de Pompeu a este difícil cenário político era uma complicação que os cortesãos de Ptolomeu achavam melhor remover o quanto antes. Isso foi feito assassinando-se Pompeu quando ele tentou desembarcar em Alexandria.
César chegou logo depois, em perseguição a Pompeu, mas ficou para ajudar Cleópatra em sua luta contra o irmão. De fato, Cleópatra aliou-se tão intimamente a seu protetor romano que deu à luz o filho de César, porém César teve de retornar a Roma como senhor da cidade e de seu império. Ele planejava estender o império com a conquista da Pártia quando foi assassinado pelos outros senadores nos Idos de março de 44 a.e.c.
Cleópatra apoiou o braço direito de César, Marco Antônio, na guerra civil que se seguiu. Novamente, se envolveu romanticamente com seu protetor. Embora autores teatrais e romancistas tenham falado muito sobre os encantos de Cleópatra, seu reino também tinha recursos valiosos a oferecer à causa de Marco Antônio. Marco Antônio estava envolvido com Otaviano, o herdeiro de César, que tinha o controle do Império Romano no ocidente. As relações entre os dois homens tornaram-se cada vez mais tensas e, por fim, chegaram à hostilidade aberta. Marco Antônio não conseguiu superar a habilidade política de Otaviano, nem a habilidade militar de seus generais, e ele e Cleópatra foram derrotados na batalha de Accio, em 31 a.e.c. O vitorioso Otaviano assumiu o nome de Augusto César e deu início à era imperial de Roma. Seus sucessores imediatos levaram o Império Romano a sua maior extensão.[73]
No fim da República romana, o casamento tinha-se transformado em um instrumento político: o poder, que algumas famílias partilhavam entre si, ciosas dos seus privilégios e fortemente decididas a protegê-los contra os intrusos, pertencia àqueles a quem o nascimento ou as alianças das suas gens destinavam às magistraturas. Aliás, as uniões eram realizadas apenas com conhecimento de causa e os caprichos do coração não eram de modo nenhum tidos em conta. Por estas mesmas razões, não hesitavam no divórcio quando os interesses o exigiam. No entanto, envolvendo uma contradição de graves consequências, não se deixava de considerar que estes mesmos casamentos, tão frágeis, eram essenciais à sobrevivência de uma sociedade que não chegava a esquecer totalmente as suas origens patriarcais. Uma das primeiras preocupações de Augusto quando começou a reorganizar o Estado foi forçar os principais cidadãos a assumir este dever, de que pretendiam dispensar-se1. Durante o Império, os senadores foram obrigados, a bem ou a mal, a tomar mulher - não uma esposa qualquer, mas uma mulher com o seu estatuto, a fim de ser mantida esta aristocracia que César tinha, de fato, enfraquecido, mas à qual Augusto e os seus sucessores se propunham confiar uma parte das responsabilidades tradicionais.
No entanto, o casamento era insuficiente só por si para garantir a intimidade dos cônjuges. Muitos foram, decerto, os homens e as mulheres que procuraram fora do casal a felicidade ou o prazer que nele não encontravam. Sêneca podia escrever à mãe: “O maior mal deste século, a imoralidade, não te levou a juntares-te à maioria”2. Parece realmente que, a acreditarmos nos autores romanos, entre os quais sobressai a voz de Juvenal, muitas esposas não foram fiéis ao seu juramento. Por seu lado, como sabemos, os maridos podiam exibir sem escândalo ligações que não os desonravam. Apesar de tudo, o casamento em si mesmo continuava a ser uma instituição a que até os mais dissolutos prestavam homenagem. Era no casamento, fosse ou não respeitado, que se afirmava o orgulho de uma casta: à medida que as mulheres conquistavam uma maior liberdade, tornavam-se conscientes do seu papel na cidade. As melhores delas aspiravam a compartilhar plenamente as preocupações do marido, a mostrarem-se dignas dos seus antepassados e, mais em geral, do nome romano. O amor ganhava, então, para elas, um outro aspecto. Já não era, como nos tempos antigos, obediência, respeito, apagamento, mas tornava-se estima, devoção, por vezes, camaradagem, ou mesmo cumplicidade. A perspectiva da vida conjugal transformava-se: as relações carnais e a procriação perdiam a sua tirânica importância e, em seu lugar, nascia a amizade.
Nesta evolução, é possível detectar a influência da filosofia grega. Já nos parecera que a aventura de Catão e Márcia evidenciava uma atitude comandada por imperativos e até por paradoxos estoicos, pois quer Crisipo quer Zenão advogaram, por vezes, a comunidade das mulheres3, pelo menos entre os sábios. Catão, na verdade, é o único homem do seu tempo a ter levado os princípios da seita até ao sublime e ao absurdo, mas houve à sua volta, bem como nas gerações que se seguiram, muitos espíritos seduzidos pelo pensamento estoico e cuja conduta nele se inspirou. Se é verdade que o estoicismo em muito contribuiu para formar a doutrina do Império, é certo também que dominou as almas e tanto mais quanto há longo tempo estavam preparadas para ouvir os seus ensinamentos. Durante todo o Império, os nobres romanos foram, na sua grande maioria, estoicos ou, pelo menos, iniciados nos princípios da moral estoica.
Ora, enquanto os epicuristas consideravam o amor como a satisfação de um mero prazer carnal, os estoicos atribuíam-lhe um lugar de eleição na vida interior. Independentemente da sua desconfiança em relação a todas as paixões, não se resignavam a condenar esta, de que diziam ser “uma tentativa para criar a amizade graças à beleza”4. Cícero, que retoma a fórmula, sublinha com justiça o seu carácter platônico5. Naturalmente, a beleza que desperta o amor é, por princípio, a beleza moral, a da alma, mas esta beleza ideal transparece na beleza do corpo, que se torna, de algum modo, mediadora entre o amante e amado. Em teoria, há uma grande distância entre esta “amizade” filosófica e o amor carnal e, na prática, os filósofos desviavam os seus discípulos dos atalhos demasiado fáceis e demasiado tentadores. A perfeição do amor “estóico” não pode ser realizada senão na alma do sábio. Só este é capaz de suplantar os perigos que o sentimento amoroso envolve. Crisipo e os seus sucessores estavam bem conscientes das dificuldades que uma alma insuficientemente firme encontraria para distinguir o amor verdadeiro da sua caricatura carnal. Não se consideravam, no entanto, no direito de formular uma condenação de princípio contra uma forma de relação humana que lhes parecia ser a única capaz de realizar plenamente a com preensão e a comunhão das consciências.
Quando falavam do amor, os primeiros estoicos, como também o próprio Platão, pensavam sobretudo nas relações do sábio com os seus discípulos, nos “amores filosóficos”, cujo objeto eram os jovens. Mas logo a sua doutrina foi aplicada aos amores mais normais, vindo a definir, de maneira muito geral, um “uso filosófico” do sentimento amoroso. Era costume citar a propósito um estoico chamado Trasônides, que respeitara a jovem que amava e que tinha em seu poder, com receio de fazer nascer nela um sentimento de aversão6.
Um amor baseado na estima e na participação nos mesmos valores morais, tal era o ideal que o estoicismo propunha aos seus adeptos romanos. Em uma sociedade onde a mulher gostava de afirmar a sua independência, o amor “estoico" oferecia-lhe a possibilidade de realizar plenamente esta liberdade, salvaguardando ao mesmo tempo as exigências do seu coração. Por isso, não surpreende que os meios estoicos, durante o Império, nos facultem vários exemplos de mulheres que praticaram esta moral.
A mais célebre dentre elas é, sem dúvida, Arria, mulher de Cecina Peto. Plínio, Em uma carta que lhe dedicou integralmente, preservou alguns traços heróicos de que a sua família guardava devotadamente a lembrança7. Durante uma doença que atingira o marido e o filho, este último acabou por falecer. Arria fez por esconder a verdade a Peto. Encarregou-se ela mesma do funeral, resolveu tudo e, quando estava na presença do marido, fingia que o seu filho ainda estava vivo. E mais, diz Plínio, inventava mil detalhes consoladores: “Dormiu bem - dizia ela -, comeu com bastante apetite.” Depois, saía do quarto e dava livre curso às suas lágrimas e só reentrava depois de ter os olhos secos e o rosto sereno, como se, diz ainda Plínio, “tivesse deixado o seu luto à porta”. Só revelou a verdade ao marido quando este ficou suficientemente forte para a suportar.
Cecina Peto tinha participado, na Ilíria, em uma revolta contra Cláudio e foi preso após o malogro dos insurrectos. Quando os soldados o embarcavam em um navio para o conduzir a Roma. Arria suplicou aos guardas que a levassem com eles. “Vejamos - dizia-lhes ela vão ter que destinar ao cônsul alguns escravos para o alimentar, vestir e calçar. Todos estes serviços, seria apenas eu a prestá-los.” Os soldados afastaram-na. Então, alugou um barco de pesca e, nesta frágil embarcação, seguiu o navio. Durante o processo, deu provas da mesma alma indomável. Como Víbia, a mulher de Escriboniano, o principal instigador da revolta, aceitava fazer revelações na sua presença, Arria gritou-lhe: “Que oiço eu? Escriboniano foi morto nos teus braços e tu estás viva?” Quando o marido foi condenado, foi a primeira a agarrar o punhal, espetou-o no peito e, em seguida, retirando a arma ensanguentada, estendeu-lha dizendo: “Peto, não é doloroso!”
Os seus filhos, no decurso do processo, tinham querido dissuadi-la de morrer. Ao seu genro, Trásea, que lhe perguntara: “Quererias, portanto, que a tua filha morresse comigo, se eu tivesse de morrer?”, respondeu: “Sim, se ela tivesse vivido contigo tanto tempo e em uma concórdia tão total como Peto viveu comigo.” Contudo, Arria teria podido viver feliz muitos anos. Era íntima amiga de Messalina e ninguém teria pensa do em incomodá-la, se não tivesse procurado ela mesma a morte8.
Seria ofender estas mulheres explicar a sua conduta por um acesso de paixão. Elas não são levadas pelo desespero, mas pelo sentimento da honra: seria desonroso para elas, inhonestum, sobreviver ao naufrágio daquilo que fora toda a sua vida. Colocam acima de qualquer outro valor esta “fidelidade” a um compromisso que livremente celebraram e que nem sequer a morte do seu companheiro poderá dissolver. A sua atitude, por um lado, está próxima da das matronas de outrora, cuja honra obrigava a permanecer univirae, a não contrair um segundo casamento, se o seu primeiro marido viesse a desaparecer, e, por outro lado, é totalmente diferente dela quanto ao espírito: sacrificando o resto da sua vida, não obedecem à opinião comum, aos imperativos de uma moral que é sobretudo negativa, mas têm a consciência de realizar elas mesmas uma escolha livre. A amizade que as une ao marido leva-as a compartilhar, total e espontaneamente, um ideal que não poderiam negar em face da morte. Este é, sem dúvida, o sentido da palavra “concórdia”, com que Arria explicava ao genro a sua vontade de morrer. Não pensava certamente no acordo burguês que poupa aos cônjuges as pequenas contrariedades da vida quotidiana, mas, pelo contrário, na identidade de espírito que é a própria definição da amizade estoica.
Acontece que o maior filósofo deste tempo, o estoico Sêneca, também teve a experiência de um tal amor, pelo menos na última fase da sua vida. Tendo casado, depois de regressar do exílio, com uma mulher muito jovem, Paulina, quando ele mesmo já tinha atingido os cinquenta anos, viveu em uma grande intimidade com ela. Paulina velava cuidadosamente pela sua saúde, que foi sempre delicada, e Sêneca até se lamentava de ser amado com demasiada complacência. Todavia, acrescentava: “Como não posso fazer com que ela me ame com menos indulgência, é ela que faz com que eu me ame com maior atenção.”9 São afirmações suspeitas, dir-se-á, e ditadas pela vaidade de um velho que o amor de uma jovem lisonjeia. No entanto, alguns meses mais tarde, um acontecimento iria provar de maneira dramática a sua verdade.
Foi Tácito que nos relatou os últimos momentos de Sêneca. Implicado na conspiração de Pisão e já totalmente caído em desgraça, Sêneca recebe de Nero a ordem de se matar. Então, Paulina declara que não lhe sobreviverá de modo nenhum e pede “uma mão que a fira”. Ao ouvir isto, Sêneca, para não se opor à sua glória e, para além disso, motivado pelo afeto, para não a deixar sem defesa perante a injustiça, disse-lhe - a ela que ele amara com tanta ternura:
“Mostrei-te o que podia tornar doce a tua vida, mas preferes a honra de morrer. Não recusarei de modo nenhum o direito de te tomares um exemplo. Ainda que a nossa morte revele neste momento que a coragem de ambos tem igual firmeza, será o teu fim o mais sublime”.
Após estas palavras, com um mesmo golpe, abrem as veias dos braços. Sêneca, cujo o corpo estava velho e emagrecido por um regime ascético, só lentamente deixava escoar o sangue, pelo que abre igual mente as veias das pernas e dos jarretes. Então, esgotado por dores violentas, temendo que o seu próprio sofrimento abalasse a vontade da sua mulher e que o espectáculo do suplício dela o enfraquecesse a si mesmo a ponto de não lhe permitir suportá-lo mais, persuade-a a que se retire para outra sala.
Mas Nero, que não tinha em relação a Paulina nenhuma animosidade pessoal e também desejando evitar chocar a opinião pública, passando por cruel, ordena que tragam a jovem de volta à vida. Por ordem dos soldados, os escravos e os libertos fazem um ligadura nos braços e estancam a hemorragia sem que se saiba se a paciente tem consciência do que lhe estão a fazer. Como a multidão está sempre pronta a dar uma interpretação maldosa, não foram poucas as pessoas que julgaram que, enquanto temera enfrentar um Nero implacável, quisera obter a glória de morrer com o seu marido, mas, depois, quando lhe surgiu uma esperança mais favorável, rendeu-se à atração pela vida10.
O estoicismo gostava de reconhecer às mulheres a possibilidade de atingir a “virtude” e pensava mesmo que isso era nelas um mérito maior do que nos homens, porque tinham de superar uma natureza mais dominada pela paixão e pelo instinto. Em um tratado sobre o casamento, de que só nos restam uns fragmentos mínimos, Sêneca afirmava que a primeira virtude de uma mulher era a sua pureza, virtude cardeal cuja perda arruinava todas as outras. Dava para isso várias razões, pertencendo algumas à moral tradicional (garantir a genuinidade da sua descendência e continuar digna dos seus antepassados e da sua gens), mas uma delas, pelo menos, a que era mais importante, exprime o imperativo absoluto da seita: o respeito por si mesma, o cuidado pela sua própria liberdade. Uma mulher que não respeite a sua honra torna-se escrava da paixão do seu amante, já não é livre.
Foi o respeito pela sua honra, escreve Sêneca, que elevou Lucrécia ao mesmo plano que Brutus e talvez a tenha colocado acima dele, porque foi com uma mulher que Brutus aprendeu que não podia ser escravo.11
Mas não era apenas o carácter ilegítimo do amor adúltero que o tornava imoral. Há casamentos, diz ainda Sêneca, que são verdadeiros adultérios: “É ser adúltero para com a sua própria mulher amá-la com um amor demasiado ardente.” A fórmula é retirada de um dos seus mestres, o estoico Sêxtio, e Sêneca retoma-a por sua conta, acrescentando: “O sábio deve amar a sua mulher por um ato de vontade deliberada, e não por um impulso de paixão”12.
Esta teoria coerente do casamento estoico, elaborada pelos moralistas na própria Roma. redescobre, justificando-os, os velhos preceitos da tradição ancestral: agora como antes, deparamos com a mesma desconfiança em relação à paixão e às forças cegas do instinto, com o mesmo ideal de castidade para os dois cônjuges. Mas os filósofos acrescentam uma nova exigência: é necessário que também o marido respeite a sua mulher e lhe seja fiel. Apenas assim será realizada aquela “amizade” que eleva o casamento acima das preocupações vulgares e lhe confere o seu verdadeiro valor. Que esta concepção do casamento não tenha sido pura teoria, mas que se tenha realizado pelo menos em alguns casais de elite, é o que os exemplos que citamos, aqueles que podemos apresentar, nos obrigam a acreditar. Por si só, a espiritualidade ancestral eleva-se a um ideal que anuncia, por certo, o do casamento cristão, mas permanece fiel à antiga moral, pelo menos na forma, com a diferença de que aquilo que era até então uma simples norma de conduta se tornar agora em uma atitude espiritual que encontra a sua justificação e a sua recompensa em si mesma.
Uma vez aceita esta exigência moral, compreenderemos melhor as críticas, por vezes muito acerbas, que Sêneca dirige às mulheres do seu tempo, quando as acusa de “contar os seus anos, não pelos cônsules, mas segundo os sucessivos maridos”13. Não é mais condescendente com os homens que se deixam arrastar por outras paixões igualmente perigosas para o seu aperfeiçoamento interior: a cupidez, a ambição e o gosto do luxo. Todos estes arrebatamentos são igualmente culpados, mas, para uma mulher, as faltas contra a castidade são o principal perigo. A primeira condição da “vida feliz” deve ser, para ela, aprender a dominar o que temos de designar como a maldição feminina, este apelo dos sentidos que a encontra geralmente sem defesa. Não falemos aqui de “desprezo” em relação à mulher14. Sêneca não despreza Márcia, nem Hélvia, nem Paulina, mas sabe que o ideal que lhes propõe é elevado, difícil de atingir e que necessitarão de uma força de alma pouco comum para superar nelas o irracional e, ultrapassando o amor, chegar ao mais alto da amizade.
***
Ao mesmo tempo que a aristocracia estoica elaborava assim, com a ajuda dos filósofos, uma moral do amor legítimo singularmente elevada e “moderna” nas suas ressonâncias, outras tendências viam a luz do dia, reforçadas pelas novas condições que o advento do poder monárquico criava. Do mesmo modo que o conjunto da civilização romana, a história do sentimento amoroso revela influências simultâneas e contraditórias, procedendo umas da mais autêntica tradição nacional e outras de um Oriente onde o helenismo realizou uma síntese de morais e místicas heterogêneas. Em Roma, estas influências ombreiam umas com as outras. Talvez nos surpreenda saber que uma mulher como Arria foi amiga e parente de Messalina. Todavia, é necessário pôr de parte as nossas indignações virtuosas e renunciar a aplicar, sem os devidos matizes, juízos tradicionais, mas anacrônicos. Por fim, a moral do Ocidente “inclinou-se” para o lado de Arria. Mas é necessário admitir, no entanto, que esta escolha só se pôde efetuar porque existia outra coisa pela qual se podia optar.
Ouvindo os poetas, nomeadamente Propércio, pareceu-nos que o amor carnal nem sempre foi objeto de uma condenação implícita, mas pôde ser considerado como uma exaltação quase divina do ser, ou mesmo um mediador entre o humano e sobre-humano. No próprio pensamento religioso romano existiu esta tendência, apesar dos esforços do “puritanismo” senatorial para o mascarar e para lhe reduzir as consequências15. Era natural que, após a derrota do Senado no campo de batalha de Farsália, se produzisse uma violenta reação e que alguns romanos acreditassem que chegara o momento de reabilitar formas de vida que a moral tradicional reprovava, reação tanto mais compreensível por ocorrer depois das angústias da guerra civil e que às grandes tensões nacionais sempre se seguiu um abrandamento geral dos costumes.
O herói desta moral (ou, se se preferir, desta imoralidade) nova foi Marco Antônio. Foi conduzido a ela pelo seu temperamento, que predispunha a todos os excessos, e também por uma tradição familiar que pretendia que a gens Antônia descendia de Hércules, o Hércules das proezas heroicas e grandiosas, “monstro sagrado” que escapa às normas da moral vulgar, capaz de estrangular um leão com as suas mãos e de dar, em uma noite, cinquenta filhos às filhas de Téspio. Plutarco conta-nos como, na sua maneira de vestir, no seu modo de andar, Antônio se esforçou sempre por imitar Hércules16. Enquanto César lutava ainda na Espanha para aniquilar os últimos restos do partido senatorial, Antônio percorria a Itália com mimos e dançarinas17, parando à beira das estradas para dar banquetes em que bebia mais do que era razoável e que degeneravam em orgias. Durante algum tempo, a influência de Fúlvia e talvez também as repreensões de César colocaram um travão a este exaltado desejo de gozo, que chocava profundamente a opinião pública, pelo menos a dos aristocratas, porque parece que a plebe se apaixonou por ele como sendo um herói.
Era difícil, em uma Itália instintivamente “burguesa”, dar à sua própria personagem dimensões míticas. César, que o tentava de modo mais sutil do que Antônio, não o conseguiu, tendo pago o seu fracasso com a vida. Mas este permanecia no Oriente e é aí que o Heraclida vai tentar viver o seu próprio mito.
Na partilha do mundo que se seguiu ao fim do segundo triunvirato, Antônio obteve o Oriente e com uma facilidade tanto maior quanto Otávio ficava bastante satisfeito por afastar este aliado incerto de uma Itália onde, realmente, se disputava o futuro do mundo. A partir de 41, eis Antônio na Ásia Menor. Apresenta-se não como Hércules, como se ria de esperar, mas como Dioniso. Com efeito, expressas na mística deste tempo, são várias as analogias entre Hércules e o deus das Ménades18: ambos são heróis triunfantes, desceram aos Infernos e penetraram nos segredos do além. Por outro lado, sabemos que os Ptolomeus atribuíram a si mesmos uma dupla ascendência que os relacionava com os dois. Estamos em um tempo em que os velhos mitos são objeto de uma exegese que umas vezes é sutil e outras complacente, prestando-se a todas as políticas. Ora, os reinos de Oriente tinham visto nascer e desenvolver-se confrarias de admiradores de Dioniso, que exerciam um grande poder sobre os espíritos. Estas confrarias recrutavam os seus elementos sobre tudo entre os “dionisiastas” - músicos, cantores, dançarinos -, cujo ofício era precisamente colaborar, nas cidades, nas festas do deus. Logo que chega à Ásia Menor, vemos Antônio rodeado de artistas desta espécie, impondo-se junto dele, o que indigna fortemente Plutarco19: Quando fez a sua entrada em Éfeso, foi como um triunfador dionisíaco. Mulheres disfarçadas de bacantes, homens e jovens vestidos de sátiros e deuses Pã precediam o seu cortejo. A cidade estava cheia de hera e tirsos, liras, siringes e flautas, enquanto o povo o aclamava, chamando-lhe Dioniso, o benevolente, e Dioniso, o jubiloso20.
Por trás desta aparente loucura ocultava-se uma intenção política. Pretendia atrair a si a simpatia popular e nada podia servir melhor as intenções de Antônio do que o apoio dos sectários do deus que pretendia encarnar. Herdeiro dos projetos de César, Antônio esperava empreender uma expedição à índia, para além do reino dos Partos. Quem não se recordava do triunfal passeio “militar” até às margens Ganges de que Dioniso fora o herói? Em Roma, tudo isto seria uma loucura, uma mascarada sem dignidade. Em Éfeso, ao som de flautas e tamborins, era talvez sabedoria.
Este foi o momento escolhido por Cleópatra para se apresentar ao futuro conquistador do mundo. Durante a guerra contra os assassinos de César, Cleópatra tinha apoiado o partido de Cássio, e Antônio, após a sua vitória, pretendia pedir-lhe contas. Enviou-lhe um mensageiro ordenando-lhe que se apresentasse na Cilicia para apresentar desculpas, se o pudesse fazer. Cleópatra, que conhecia bem Antônio, por tê-lo encontrado em Roma - talvez por já ter sido aí sua amante21-, decidiu ir a Tarso e ter com ele uma conversa decisiva. Estava informada pelos seus agentes sobre a sua conduta desde a chegada à Ásia. Sabia quais eram as suas esperanças e os meios que usava e julgou que podia batê-lo no seu próprio terreno. Quando subiu o Cidno, fê-lo em uma embarcação real de popa dourada e com velas de púrpura. Os ramos estavam incrustados de dinheiro. O ritmo era marcado aos remadores por flautas acompanhadas de liras e siringes. Ela mesma permanecia sob um dossel bordado a ouro, semelhante à deusa Afrodite, enquanto alguns Amores, como se via nas pinturas, estavam de pé, de ambos os lados da sua cama, refrescando-a com os seus leques. Dispersas entre a tripulação, servas jovens e belas representavam as Graças e as Nereides. Defumadores espalhavam os seus fumos aromáticos pelas margens22. A multidão acorreu de todo lado para gozar o espectáculo, pelo que, em pouco tempo, Antônio ficou só, no seu tribunal, no meio da ágora! Por toda a parte se espalhou o rumor de que a deusa Afrodite em pessoa viera alegrar-se com Dioniso para benefício da Ásia.
Nessa mesma noite, no rio, houve uma festa extraordinária. Antônio, esquecendo que era ele o senhor e que a rainha vinha por sua ordem, aceitou a hospitalidade de Cleópatra na seu galera divina. Nesse momento, começou uma aventura “inimitável” (foi essa a designação que os dois amantes deram à vida que levaram a partir daí) entre o novo Dioniso e a nova ísis. Voltaram ambos para Alexandria e, enquanto Fúlvia desencadeava a guerra civil na Itália, o marido entregava-se a mil facécias indignas de um romano, mas que encantavam a populaça egípcia. Ele e Cleópatra, à noite, corriam disfarçados pelas ruas, molestando os transeuntes, que lhes retribuíam as ofensas e, por vezes, lhes ganhavam. No resto do tempo, Cleópatra jogava aos dados ou bebia com ele, caçava ou olhava-o a fazer armas. Foi uma época magnífica. Cleópatra sabia maravilhosamente importuná-lo e adulá-lo, ao mesmo tempo. Antônio fora um dia à pesca e a sorte não o estava a favorecer nada, deixando-o extremamente irritado, porque, como Cleópatra estava presente, sentia-se humilhado. Pediu então, secretamente, a alguns pescadores que lá se encontravam para mergulharem e prenderem na sua linha peixes que já tinham. Antônio pensava ter salvo a sua honra e Cleópatra, aparentando acreditar, não lhe regateou elogios. Mas, para consigo, pensava na vingança. Organizou para o dia seguinte outra pescaria para a qual convidou um grande número de cortesãos. Depois, chegando antes de Antônio, encarregou um nadador de prender à linha deste um arenque salgado. Quando Antônio levantou a linha, todos se puseram a rir e Cleópatra gritou-lhe: “Imperator, deixa-nos a nós, gente de Faros e de Canopo, a preocupação com a pesca. A tua caça são as cidades, os reinos e os continentes”21.
Enganar-nos-íamos, no entanto, se acreditássemos que Antônio estava completamente subjugado pela rainha. Não se tinha tomado, nas suas mãos, o instrumento dócil com que ela sonhava. Quando as notícias da Itália tornaram conhecidas as dificuldades em que Fúlvia o comprometera sem o seu conhecimento, não hesitou em abandonar Alexandria e regressar à Grécia, indo depois a Brindes, onde acordou a paz com Otávio. Como a situação exigia um acordo duradouro e Fúlvia morrera entretanto, aceitou realizar um novo casamento, desta vez com Otávia, a irmã de Otávio. Provavelmente, não sentia realmente que era o “marido” da rainha: não era para ele senão uma concubina e apenas um pouco mais do que uma cortesã. Talvez a considerasse mesmo um instrumento para conseguir a anexação total do Oriente: afinal, os reis do Egito eram frequentemente feitos por casamento com a soberana do país. Contudo, de momento, era necessário esperar. O sonho de ser o soberano do Oriente não estava abandonado. Para realizá-lo, convinha, em primeiro lugar, ter as mãos livres na Itália, garantia que obteve com o casamento com Otávia. Durante três anos, sem mais se preocupar com Cleópatra, Antônio vai ser para a sua nova mulher um marido fiel. Mesmo quando tem de ir à Síria para chefiar as operações contra os Partas, na Primavera de 38, não aproveita a ocasião para se reencontrar com a rainha. Como é evidente, o seu amor por ela e a recordação do Inverno maravilhoso e da vida inimitável não ocupam de modo nenhum o seu espírito, o que não deixa de embaraçar um tanto os historiadores que querem explicar toda a história desta época com os encantos de Cleópatra.
Há outros autores que, pelo contrário, reduzem o papel desempenhado pela rainha e asseguram que a política de Antônio a seu respeito, as concessões de territórios que lhe fez, não excedem, de maneira nenhuma, os limites das honras concedidas a reis vassalos que se desejava vincular à causa de Roma. Antônio não ignorava que estas transferências de soberania não podiam ser senão temporárias e que mais cedo ou mais tarde Roma recuperaria as suas províncias. Além disso, os mesmos historiadores fazem notar, de acordo com testemunhos antigos, que Cleópatra, nesta altura, já não seria muito jovem e que Otávia era infinitamente mais sedutora do que ela. De fato, a questão não é talvez assim tão simples nem se situa apenas no plano da paixão. Otávia e Cleópatra simbolizam duas “tentações” de Antônio, tentações políticas ainda mais do que carnais, duas vias entre as quais era necessário escolher. Ora, se nos recordarmos de Pródico, é aplicar uma moral algo limitada pensar, que, destas duas vias, uma era a da virtude e outra a da indolência. Do lado de Otávia, estava Roma, com a tradição dos casamentos políticos e das alianças sabiamente doseadas, e a partilha do poder com Otávio, uma partilha que, como Antônio bem sabe, só podia ser provisória. Do outro lado, estava Cleópatra, cujo apoio podia transformar o general romano em um soberano helenístico, velha tentação a que os imperatores que tinham tido a experiência do Oriente vinham resistindo com cada vez maior dificuldade. Junto da rainha, já mais de metade do caminho fora percorrido: em 40, nasceram os dois gêmeos que são fruto dos seus amores, Alexandre-Hélio e Cleópatra-Selênia, cujos nomes astrais (o Sol e a Lua) dizem bem em que ambiente religioso eram educados. Antônio, em 37, encontrava-se realmente em uma encruzilhada. É necessário confessar, de fato, que a situação política na Itália, onde Otávio se esforçava, notoriamente, por eliminar os seus colegas do triunvirato, associados e cúmplices nos dias difíceis e agora rivais odiados, não o encorajava a permanecer inativo. A única possibilidade de Marco Antônio residia em uma vitória total no Oriente, no sucesso de uma aventura grandiosa que reduzisse a nada os cálculos ardilosos de Otávio. Ora, este prestígio acrescido, de que tinha uma tão grande necessidade e na ausência do qual seria infalivelmente eliminado da cena política, só o estreitamento da aliança com Cleópatra poderia dar-lhe.
Cleópatra, por seu lado, também não estava inativa, e não era apenas, nem sobretudo, o amor que podia sentir em relação a Antônio que a motivava. Durante a ausência de Antônio, envolve-se em inúmeras intrigas no Oriente. O seu objetivo é evidente: recuperar o “Grande Egito”, que englobava, anteriormente, sob a coroa dos Ptolomeus, uma parte da Síria. Para o atingir, tem necessidade de se sentir segura perante Roma. O seu jogo consiste, em primeiro lugar, em manter o melhor que pode a divisão deste império, que, no tempo César, fracassou em devorar o seu reino, mas, melhor ainda, não perde a esperança de, graças a Antônio, fazer com que a potência romana sirva os seus desígnios. Nesta diplomacia, o amor é apenas um elemento, um meio entre outros, não é tudo. A propaganda otaviana popularizou a figura, tomada lendária, de um Antônio escravo dos sentidos e traidor da pátria, por complacência com a rainha, ou seja, um novo Hércules fiando aos pés de Ônfale. Era um excelente pretexto para justificar a ruptura definitiva com o senhor do Oriente, à volta do qual se reunia cada vez mais a oposição “republicana” que renascia. A propaganda otaviana não era decerto verdadeira, pelo menos, não era toda a verdade.
Após o encontro de Tarento, na Primavera de 37, entre Otávio e Antônio, este regressou ao Oriente: a sua escolha estava feita. Retornava, após um interregno de três anos, os seus projetos de guerra contra o reino parto e a sua primeira decisão foi juntar-se a Cleópatra. Otávia continuava no Ocidente, confiada ao seu irmão. O Inverno de 37-36 passou-o na Síria. Enquanto os preparativos de guerra prosseguiam, renasceu a intimidade entre Antônio e a rainha. As duas crianças de 40, Alexandre e Selênia, foram reconhecidas oficialmente, o que fazia de Antônio, do ponto de vista moral, o protetor do reino do Egito e o ligava mais estreitamente à dinastia legítima. Era uma solução muito hábil para o problema político colocado pelo Egito, cujo governo não era fácil. Antônio e Cleópatra opunham-se radicalmente um ao outro, devido a tudo o que representavam. A rainha tentava desesperadamente manter um reino anacrônico no mundo romano. Antônio esforçava-se por ligar mais estreitamente do que nunca este mesmo reino à sorte de Roma e por mobilizar as suas forças sem correr os riscos de uma anexação declarada. Para realizar as suas intenções estes dois rivais, estas duas políticas, não tinham outro meio senão amar-se. Ora, e aí reside o milagre, nem a um nem ao outro isso desagradava.
Parece que Antônio tinha perfeita consciência desta situação. Julgava-se chamado a um destino quase sobrenatural e gostava repetir que não confiava a sua linhagem a um ventre feminino apenas, que não era condicionado pelas leis de Sólon sobre a legitimidade da sua descendência, mas deixava à natureza o cuidado de começar e fundar muitas dinastias.24
O deus que tinha em si e o que o levava a amar, a prodigalizar-se em abraços sempre renovados, era o seu guia e a sua força. Não tinha sido Dioniso tanto o conquistador como o deus da orgia, da sexualidade desenfreada? Quanto a Cleópatra, era a Ísis-Mãe, personificação da feminilidade e da fecundidade, de que são prova as suas sucessivas maternidades, figura mística da esposa, que, com as suas carícias, devolvia a vida ao marido, que as potências do mal se obstinavam, em vão, por arrancar. No Egito, os Ptolomeus tinham inventado um deus novo, Serápis, em que se fundiam o antigo Osíris e o Dioniso grego, e este deus tinha-se tornado rapidamente popular em todo o mundo mediterrânico, a ponto de, na própria Roma, os poetas fazerem o seu elogio '’. Tudo estava pronto para a aventura “inimitável” dos dois amantes, unidos, quisessem-no ou não, por uma situação política que não tinha outra saída senão o seu amor e também pelos mitos que se tinham formado antes deles e os envolviam como a rede mágica em que Hefestos, em tempos muito antigos, tinha surpreendido os amores de Afrodite e Ares.
Esta extraordinária situação prolongou-se durante seis anos. Otávia, que tinha compreendido Antônio e lhe era tão fiel como o tinha sido anteriormente Fúlvia, esforçou-se por dar-lhe o que ele pretendia de Cleópatra: armas e dinheiro. Veio até ao Oriente com estes presentes arrancados ao irmão. Ele teve a coragem de não sucumbir a esta tentação e de prosseguir no seu desígnio. O que eram dois ou três mil homens ao lado dos recursos de um reino? E depois, Cleópatra, face ao perigo, tornou-se insistente e entrou mais do que nunca na comédia do amor. Em breve, a ruptura estava consumada e Antônio, que se tornara de fato, como tencionara, rei helenístico, encontrou-se na obrigação de aceitar a guerra contra Roma. Assim terminou, nas águas de Áccio, este drama, que, se a fortuna tivesse dado a vitória à frota antoniana, teria alterado certamente a face do mundo. Porém, os encantos envelhecidos de Cleópatra não teriam tido nisso nenhuma responsabilidade.
No entanto, a derrota de Antônio e o fim da “vida inimitável”, que se tornou em uma união na morte, não aboliram a experiência nem suprimiram a mística da realeza "dionisíaca”, que encontrará outros meios para sobreviver na própria Roma.
Na noite que precedeu a morte de Antônio, cerca da meia-noite, enquanto a cidade de Alexandria permanecia silenciosa, dominada pela angústia, eis que o ar se enche de uma música sobrenatural. Dir-se-ia os sons de uma infinidade de instrumentos diversos, acompanhando os cantos e os gritos de uma multidão de bacantes. Este tumulto encheu as ruas em um instante sem que ninguém fosse visto. Em seguida, deslocou-se e chegou à porta que se abria em direção ao inimigo. Aí, redobrou de intensidade e, abruptamente, terminou, como se a multidão invisível tivesse deixado a cidade. Todos os Alexandrinos entenderam e compreenderam: era Dioniso que abandonava Antônio26.
De fato, era também o fim de uma era: a lei de Roma ia substituir a mística orgiástica de que Antônio e Cleópatra foram os últimos adeptos no trono dos Ptolomeus. Otávio, o novo senhor, era um conquistador triste. Arrastava atrás de si o puritanismo romano, cuja austeridade imitava sem dele ter as virtudes. Durante muito tempo, tinha tentado revoltar a opinião romana contra Antônio, revelando o que chamava as suas “torpezas”, e Antônio, em cartas destinadas ao público, respondia-lhe com desenvoltura e sem qualquer pudor:
"Por que te modificaste a meu respeito? É porque durmo com a rainha? Ela é a minha mulher. É por ter começado agora, ou porque dura há nove anos? E tu, será que dormes apenas com Drusila? Desejo-te uma imensa felicidade, se, quando tiveres lido esta carta, não te tiveres deitado já com Tertula ou Terentila ou Rufila ou Sálvia Titisénia ou qualquer uma das outras! Julgas que me incomodo em saber onde e com que mulher fazes amor?"27
É certo que a conduta privada de Otávio não estava isenta de crítica: as que dirigia a Antônio soavam a falso na sua boca.
A história dos seus amores assemelha-se bastante, aliás, à dos jovens nobres. Para começar, ficou noivo da filha de P. Servílio Isáurico, que pertencia ao clã de Servília, pois era neta desta28. A união, evidentemente, tinha sido projetada por César, entrando nos seus planos para reforçar o regime. Todavia, quando terminou o segundo triunvirato, depois da guerra de Módena, os soldados de Antônio e os de Otávio exigiram que a aliança dos seus generais fosse selada por um casamento. Por conseguinte, Otávio pôs termo ao seu noivado com Servília, a Jovem, e aceitou a mão de Cláudia, uma filha de Fúlvia e P. Clódio, ou seja, nessa época, a enteada de Antônio, Cláudia era ainda uma criança: “mal tinha entrado na idade núbil”, diz Suetônio29. O casamento não foi consumado. Otávio usou o pretextou do seu diferendo com Fúlvia para repudiar a jovem aquando da guerra de Perúsia.
No mesmo ano, no decurso da crise gravíssima que parecia poder abalar definitivamente a sorte de Otávio, este tentou uma aproximação com Sexto Pompeu, que parecia ser o árbitro da situação, e, como prova dos seus bons sentimentos, ofereceu-se para casar com Escribônia, que era tia de Sexto por afinidade. O assunto foi negociado por intermédio de Mecenas e a família de Escribônia apressou-se de aceitar o acordo. Mas não foi um casamento feliz. Escribônia já tinha sido casada duas vezes. Tinha filhos de pelo menos um destes casamentos (nomeadamente a jovem Cornélia, a quem Propércio, em 16 a.e.c., iria cantar as virtudes e lamentar o fim prematuro31) e tomou rapidamente uma atitude autoritária em relação ao marido, mais jovem do que ela (Otávio tinha então 23 anos), o que desagradou fortemente a este. No entanto, a sua união talvez tivesse durado, se, de súbito, Otávio não se tivesse apaixonado por outra mulher e não tivesse resolvido, apesar das dificuldades, efetuar, por fim, um casamento de amor.
Escribônia, tendo casado com Otávio nos últimos meses de 40, tal vez mesmo no início de 3932, esperava um filho. Será Júlia, tão amada pelo pai e a quem ela recompensou bem mal um tal afeto. Após a paz de Miseno, celebrada no fim do Verão, acabaram as hostilidades entre os triúnviros e Sexto Pompeu. Escribônia já não era politicamente “útil”. Mas a paz teve ainda outra consequência que iria precipitar o seu repúdio: os exilados foram amnistiados e entre eles encontravam-se Lívia Drusila e o seu marido Tibério Cláudio Nero. Ambos tinham tomado o partido de Lúcio Antônio, em Perúsia, e, após a derrota, tinham-se refugiado junto de Sexto Pompeu, com quem, de resto, se entenderam bastante mal. Lívia tinha já um filho, que será, mais tarde, o imperador Tibério, mas era extremamente jovem: nascida a 30 de Janeiro de 58, não tinha ainda 19 anos no Outono de 39. Os seus retratos mostram-nos uma beleza calma, o rosto arredondado, a boca voluntariosa. Por isso, despertou no coração de Otávio uma viva paixão. Mas, à primeira vista, dois obstáculos opunham-se a este amor: Lívia era casada e esperava um segundo filho e, na sua família, havia razões sérias para odiar Otávio, dado que M. Lívio Druso Claudiano, o próprio pai de Lívia, tinha sido proscrito e havia-se suicidado depois da batalha de Filipos, onde tinha combatido ao lado de Brutus e de Cássio. Mas Otávio era o senhor e tudo vergou à sua frente. Logo que Escribônia deu à luz a sua filha, Otávio repudiou-a. Depois, conseguiu, não sabemos bem com que argumentos ou pressões, que Lívia lhe fosse entregue pelo próprio marido, um pouco como, anteriormente, Catão, pela sua própria mão, tinha dado Márcia a Hortênsio33. Mas as circunstâncias eram bem diferentes! Antônio, em uma das cartas insultuosas que escreveu de Alexandria ao seu rival, assegura que Nero teve de ser testemunha da sua própria desonra, no dia em que, durante um banquete a que assistia com Lívia e Otávio, este, incapaz de resistir à paixão, deixou abruptamente a sala de jantar, levando Lívia para um quarto vizinho e trazendo-a depois com as orelhas vermelhas e o cabelo em desalinho.34 Nero, nestas condições, tinha que renunciar à mulher que o senhor desejava e Lívia, por seu lado, não podia fazer mais do que obedecer. Fê-lo com bastante relutância, parece jovem esposa, prestes a ser mãe segunda vez, repugnava-lhe abandonar o marido com quem partilhara os perigos da guerra e as dificuldades do exílio. Teve, no entanto, de deixar a casa do marido e instalou-se na de Otávio, onde, a 14 de Janeiro de 38, dava ao mundo um segundo filho, Druso. Três dias mais tarde, casava solenemente com Otávio, não sem que, antes, os sacerdotes tivessem assegurado que os deuses não levantavam qualquer obstáculo a este casamento35. É claro que Antônio, por seu lado, não se comportava melhor, mas, a seus olhos, pelo menos, tinha a justificação de sentir-se um deus e comportar-se como tal. Quanto a Otávio, deixava-se arrastar simplesmente para uma imoralidade burguesa.
Se, para casar com Lívia, Otávio não tivesse, então, de afrontar a opinião pública (que não se coibiu da maledicência), poderíamos pensar que não era apenas o amor que estava em causa nesta história: uma aliança com os Claudii, a gens muito aristocrática a que Lívia pertencia, consagrava, de alguma forma, a reconciliação entre o herdeiro de César e os proscritos de 43. Mas por que teriam de ser necessariamente insensatos todos os casamentos de amor? O de Otávio, em todo o caso, foi-lhe extremamente vantajoso.
No fim da vida, Augusto manifestava ainda a Lívia a sua ternura. No último momento, disse-lhe: “Lívia, recorda a nossa união, enquanto viveres. Adeus!” Foram as suas últimas palavras36. Não há dúvida de que, segundo o testemunho do próprio Augusto, este casamento, celebrado à pressa, com violência e escândalo, foi uma união feliz. No entanto, se não quisermos julgar apenas pelas aparências, como podemos chamar feliz um casamento que ficou estéril, ou quase (só nasceu um filho, mas não sobreviveu), e quando a ausência de herdeiro direto constituiu para Augusto um drama que carregou a vida inteira? Seria feliz, ainda, um casamento durante o qual Lívia permaneceu fiel, mas que teve muitas aventuras conduzidas por Augusto com toda a liberdade, às vezes mesmo com a cumplicidade da mulher? Se Augusto o avalia diferentemente de como somos tentados a fazê-lo, é porque não se sentia sujeito aos imperativos comuns e porque, à semelhança dos Romanos do seu tempo, punha acima dos “acidentes” da carne esta concordia, esta identidade de vontades, que nos pareceu ser a grande conquista do amor romano.
Os próprios amigos de Augusto não negavam os seus adultérios, como nos diz Suetônio. Desculpavam-no, assegurando que não os cometia por gostar do deboche, mas por cálculo, a fim de melhor se informar sobre os segredos dos maridos a que seduzia as mulheres37, um argumento que não é talvez muito convincente e que, a ser verdadeiro, não é lá muito abonatório do príncipe. Pouco faltou, aliás, para que uma destas aventuras se virasse contra ele. Teve uma longa ligação com Terência, a mulher do seu mais antigo partidário, Mecenas. Seria para vigiar este, em geral silencioso e secreto? Tal não é, por certo, impossível, pois dizia-se que Terência era caprichosa, altiva e, seguramente, não tratava melhor o seu amante “habitual” do que o marido. Ora, esta mesma Terência não soube guardar um segredo de Estado e revelou ao seu irmão. Terêncio Murena, que a conjura formada por este tinha sido descoberta38, o que impediu Augusto de desvendar, como desejava, todas as ramificações da conspiração.
Lívia, por seu lado, nunca traía um segredo e o marido pedia-lhe frequentemente conselhos. À medida que passavam os anos. parece que a sua influência cresceu. É-nos difícil saber hoje com rigor o papel que desempenhou na formação e no estabelecimento do regime imperial. Os indícios que se invocam nem sempre permitem uma interpretação segura, mas é certo que sem Lívia o Império não se teria tornado naquilo que vemos quando Augusto morre.
Como as “matronas” da geração precedente, Lívia trabalha para ele para sua gens. Pertence à tradição de uma Servília e de uma Clódia e a sua gens, a dos Claudii, não tem sempre os mesmos interesses que os Julii. Toda a habilidade de Lívia vai consistir em pôr ao serviço dos primeiros o poder que César e depois Augusto deram aos segundos, e esta habilidade era grande. Conhecemos o juízo do seu bisneto Caligula (Caio César) acerca dela: “um Ulisses de saias”39. Caligula conheceu-a apenas na velhice, mas começa-se a detectar a sua influência muitos anos mais cedo. O grande problema de Augusto não era o de governar, mas o de assegurar a sua sucessão, fazer com que o sistema político que construíra e que se fundava na sua pessoa pudesse um dia funcionar sem ele. O seu poder pessoal dependia, em parte, do carácter semidivino que a opinião dos Romanos lhe reconhecia: era divifilius, filho do deus César. A quem transmitir este carisma senão a um filho? Ora, Lívia, de fato, não se revelava uma esposa fértil. Mas tinha dois filhos do seu primeiro casamento. Tibério e Druso. Não poderia conseguir que Augusto os adotasse, como ele mesmo tinha sido adotado por César e de quem não era realmente filho?
Lívia levou longos anos para arrancar o Império das mãos dos Julii e dá-lo a um Cláudio, a este Tibério por quem Augusto não sentia nenhuma simpatia e que, no seu íntimo, era mesmo republicano. É possível que o acaso tenha favorecido as intenções de Lívia, fazendo desaparecer um a um todos os herdeiros que o príncipe sucessivamente escolheu: o jovem Marcelo, a partir de 23 a.e.c., e depois os dois netos de Augusto, Caio e Lúcio, os “príncipes da juventude”, que morreram respectivamente em 4 e 2 d.e.c. Não se tem hoje coragem de supor que Lívia ajudou a sua sorte, mas estas mortes sucessivas serviram-lhe tão bem que todas as suspeitas permanecem legítimas. Por fim, triunfou e foi a sua vontade que impôs Tibério, que Augusto se resignou a adotar, porque não dispunha de mais escolhas.
Para além destes dramas secretos, a casa de Augusto conheceu outro, que teve também por origem as intrigas de uma mulher. Antes do seu repúdio, Escribônia tinha dado ao príncipe uma filha, Júlia, que este conservou junto de si e que criou na tradição de austeridade das antigas casas nobres. Júlia, na sua juventude, fiava a lã e tecia as túnicas do pai, o que não impedia que recebesse a educação refinada e a cultura das mulheres do seu tempo. Augusto sentia, certamente, pela filha uma grande afeição, mas esperava sobretudo, graças a ela, resolver o difícil problema da sua sucessão. Como Lívia não era capaz de lhe dar um filho, Júlia podia trazer para a casa imperial um genro capaz de assumir um dia o encargo do poder. Sabia-se que, muitos séculos antes, os reis de Roma transmitiam assim a sua dignidade. Não foi por acaso que Propércio e Virgílio recordaram, cada um a seu modo, este antigo costume40. No tempo de Virgílio, contava-se como o velho Latino, o rei dos Laurentes, tinha concedido a Eneias a mão de Lavínia e o seu próprio reino. Augusto escolheu para genro o jovem Marcelo, ele mesmo filho de Otávia, a irmã do príncipe. Menos de um ano mais tarde, Marcelo morria. Júlia tinha apenas 16 anos. Augusto apressou-se a casá-la uma segunda vez. O novo marido de Júlia foi Agripa, fiel companheiro de Augusto. Agripa teve de dissolver o seu casamento, que, no entanto, era feliz, com a filha mais velha de Otávia, Marcela. Tinha quarenta e um anos. Esta escolha, bastante surpreendente, foi, sem dúvida, ditada a Augusto pela lembrança da crise que, em 23, quase conduziu o regime à destruição. Estando muito doente, teve de pensar, em determinada altura, em assegurar a sua sucessão em um futuro que podia estar muito próximo. O homem que designou foi precisamente Agripa. É natural que tenha querido tornar definitiva a solução que, em 23, fora apenas uma improvisação arriscada.
O casamento de Júlia e Agripa revelou-se imediatamente fecundo: Caio César e depois Lúcio nasceram em 21 e 17, separados por uma moça, Júlia, a Jovem. A partir de agora, podia pensar-se que a sucessão estava assegurada. Augusto apressa-se, em 17, a celebrar os jogos seculares, que simbolizam o início de uma era de prosperidade e de paz, a época que os filhos de Júlia auguram para Roma. Mas, cinco anos depois, Agripa morre subitamente e eis Augusto à procura de um terceiro marido para a sua filha. Desta vez, não pode furtar-se às instâncias de Lívia e escolhe Tibério. Durante alguns anos, os dois esposos entendem-se bem, mas, mais tarde, o desentendimento surge no casal. Recentemente, foram evidenciadas as suas razões profundas41: Tibério foi escolhido apenas como "protetor" dos jovens príncipes. Augusto apenas o destinava a um papel secundário e temporário e isso Júlia não podia aceitar, embora a modéstia de Tibério se acomodasse muito bem a esse papel. Júlia, depois de ter esperado ser um dia a companheira do senhor, abomina regressar ao segundo lugar. Diz isso a Tibério e acusa-o de covardia. Tibério, por fim, decide deixar Roma e retirar-se para Rodes para viver como simples cidadão.
Este exílio de Tibério, esta partida a que Augusto tentou por todos os meios opor-se, continua ainda hoje bastante envolto em mistério. Tibério, provavelmente, sentia-se em uma posição falsa. Já se começava a murmurar em Roma que conspirava para afastar Caio e Lúcio. Era uma calúnia, mas esta tinha tudo para que nela se acreditasse. Não é natural desejar o poder, sobretudo quando se tem junto de si uma mulher cuja ambição insaciável é conhecida de todos? Tibério não desejava, com certeza, o poder. É, pelo menos, o que sabemos, ou julgamos saber. Mas Tibério era considerado, no seu tempo, um mestre na arte de dissimular, uma arte que lhe vinha da mãe, e as suas recusas e a atitude apagada não convenciam ninguém.
Tibério, ao retirar-se para Rodes, fugiria apenas dos riscos de uma situação ambígua? Uma tradição persistente sustenta que Júlia não lhe foi fiel e que ele fugiu também à desonra. Os historiadores antigos contam muitas histórias escandalosas acerca da filha de Augusto, repetidas à saciedade ao longo dos tempos. Falam-nos da sua coquetaria, que a levava a vestir-se, por vezes, com muito pouca decência, a ponto de provocar os comentários irritados do pai. Falam-nos também das palavras que lhe são atribuídas em resposta à surpresa de alguns amigos ao verificarem a que ponto as crianças que dera a Agripa se assemelhavam ao seu pai: "Só aceito passageiro quando o porão está cheio”42. Em suma, Júlia tornou-se o símbolo das torpezas que as pessoas gostam de imaginar nas sombras do palácio imperial e como que uma Messalina avant la lettre. Em tais assuntos, é tão difícil aceitar como contradizer os juízos da tradição, e podem ser alegados argumentos equivalentes tanto a favor da acusação como da defesa. Podemos dizer que é pouco verosímil que Júlia pudesse levar, durante muito tempo, uma vida de deboche, em uma cidade tão ávida de escândalos como Roma, quando todos os olhos estavam voltados para ela e quando a polícia imperial e, talvez, a clarividência de Lívia tornavam tal licenciosidade impossível. Mas também podemos salientar que Júlia, esposa dissimulada enquanto esperou chegar ao poder, se entregou abertamente ao deboche, para o qual a sua verdadeira natureza a dotou, uma vez perdidas as esperanças depositadas em Tibério, e que talvez tenha começado as suas traições antes da partida do marido para Rodes. É possível, também, que se tenha feito, durante anos, como que uma conspiração de silêncio sobre os seus desregramentos, ninguém se incomodando em informar o imperador, e com Lívia a esperar, pacientemente, a sua hora. Aliás, Júlia não foi a única grande dama a aceitar, por vezes, encontros clandestinos. O próprio Augusto, já o recordámos, não respeitava a honra das “matronas” e houve quem assegurasse que as leis sobre o adultério não lhe foram impostas senão por senadores que pretendiam embaraçá-lo43.
Não se pode negar, contudo, que Júlia, depois da partida de Tibério para Rodes, teve várias ligações. Tinha trinta e três anos, estava no auge da sua beleza e a sua natureza violenta levava-a a exceder todos os limites nos seus prazeres. No entanto, não era apenas a busca do prazer que a levava a rodear-se de amantes. A lista dos seus “amigos” foi feita pelo historiador Veleio Patérculo. Um nome sobretudo chama a atenção, o de Julo Antônio, filho de Antônio e de Fúlvia e um dos genros de Otávia. Julo parece ter sido o preferido, mas partilhava os favores de Júlia com um certo Apio Cláudio Pulcro e talvez, embora isso não seja uma certeza, com um dos filhos de P. Clódio. Havia também um Semprônio Graco e um Cornélio Cipião. Em suma, encontramos em redor desta mulher os nomes mais famosos da aristocracia e não deveríamos surpreender-nos se se admitisse, como tudo convida a fazer, que Júlia, atraindo a si estes jovens, procurava menos satisfazer os seus sentidos do que formar uma conspiração contra o seu próprio pai44. Ela queria reinar. Ora, Augusto destinava o poder a Caio e a Lúcio César, que adotara, retirando-os assim à sua mãe, que não podia sequer exercer a mais pequena influência sobre eles. Aliás, Júlia não tinha nenhuma apetência para a posição de imperatriz-mãe. Queria ser a companheira de um príncipe, a “primeira dama de Roma”, e substituir Lívia. Para isso, não via outro meio se não destronar Augusto, ou seja, assassiná-lo. Para o fazer, iria servir-se do seu ascendente sobre os jovens nobres a que dispensava os seus favores. Compreendemos, assim, por que tinha feito de Antônio seu favorito. Pensava, com ou sem razão, que a lembrança dos dias anteriores a Áccio não desaparecera e que podia existir um “partido antoniano” disposto a empunhar armas pelo filho do vencido. Era uma opinião compartilhada, evidentemente, pelo próprio Antônio, que, além disso, desejava vingar o pai.
Podemos facilmente imaginar a cólera, quase o desespero, de Augusto quando soube que a sua própria filha planejava um parricídio e que renascia contra si, e do seu próprio sangue, a velha coligação de uma mulher e de um Antônio! Os outros amigos de Júlia também tinham muitas acusações contra o novo regime. Estavam saudosos do tempo da “liberdade”, quando os nobres detinham o poder sem o partilhar. Era uma nova conspiração, formada por um círculo de jovens irresponsáveis, provavelmente sem grande influência real, mas perigosos devido à sua própria loucura, em que se pensava recomeçar os idos de Março.
Sêneca deixou desta conspiração um quadro que se suspeita ser exagerado, mas que se baseia, certamente, em alguma verdade, porque outros testemunhos confirmam vários dos seus detalhes:
"Amantes introduzidos aos bandos em casa dela, passeios vagabundos durante a noite, em turbas alegres e avinhadas, através da cidade. O próprio fórum e o rostro onde seu pai tinha promulgado as leis sobre o adultério, escolhidos pela filha para os seus excessos. Reuniões diárias no Mársias, ao mesmo tempo que, passando de adultera a prostituta profissional, se arrogava o direito de tudo experimentar no abraço de um amante desconhecido".45
Júlia tinha cúmplices na sua própria casa, designadamente uma liberta chamada Febe, que se suicidou logo que Augusto foi informado destas escapadelas noturnas46.
Não deixa de ser um pouco surpreendente que os conjurados tenham escolhido o fórum, ainda que em plena noite, para seus conciliábulos. Tal vez julgassem que a sua melhor salvaguarda era precisamente a publicidade. Mas, sobretudo, estavam a desafiar a opinião pública. Júlia, tendo decidido cortar com a austeridade e mesmo com a decência, quis afirmar o seu direito soberano, que o seu estatuto parecia garantir-lhe, quis afrontar todas as conveniências. É possível também que tenha sido impelida para estas loucuras por Antônio, que se recordava das insolências do seu pai. Mas Antônio podia permitir-se transformar em lugar de deboche a casa de Pompeu e escandalizar a aristocracia no início da sua convalescência da guerra civil. Ele era Antônio, o vencedor, o companheiro do ditador. Antônio, o seu filho, era apenas o herdeiro de um nome perigoso. Só poderia sobreviver aderindo ao novo regime. Não tinha sido em vão que Roma vivera durante vinte e cinco anos sob a autoridade moralizadora de Augusto. O tempo da “vida inimitável” tinha passado.
Augusto acaba por saber tudo. Foi, diz-nos Dião Cássio, o último a ser informado. Só o alertaram quando as intenções reais dos conjurados foram descobertas e a sua cólera não poupou ninguém. O escândalo tinha durado uns três anos. Foi em 2 a.e.c. que se deu a punição. Julo Antônio foi condenado à morte. Júlia foi enviada para o exílio na ilha de Pandatária (atual Ventotene), ao largo da costa da Campânia, e viveu aí como prisioneira, não tendo por companhia senão a sua mãe, Escribônia, que pediu e obteve o direito de compartilhar a sua pena. Depois da morte de Augusto, o primeiro cuidado de Tibério foi agravar ainda mais o seu destino (entretanto, tinha sido transferida para Reggio di Calabria), a ponto de morrer de privações e de miséria, ao fim de alguns meses. Os outros amantes de Júlia foram apenas afastados: menos culpados, talvez simples comparsas que os dois protagonistas não julgaram conveniente introduzir no seu segredo, tiveram a vida poupada e puderam viver à sua vontade na residência que lhes foi designada.
Alguns anos mais tarde, em 8 d. C., um novo drama, aparentemente bastante semelhante ao primeiro, veio ainda perturbar a casa imperial. Desta vez, a culpada era Júlia, a Jovem, a filha de Júlia e Agripa. As circunstâncias em que se deu o escândalo são ainda mais obscuras do que as que envolveram a condenação da primeira Júlia. Oficialmente, as acusações eram as mesmas: seguindo o exemplo da mãe, a segunda Júlia, que era mulher de um certo Emílio Paulo, teria tido uma ligação ilícita com um jovem nobre, D. Júnio Silano47. Mas certos indícios permitem pensar que isso foi apenas um pretexto: o seu marido (como sabemos por Suetônio) foi executado por ter conspirado contra Augusto48. Por outro lado, o exílio de Júlia, a Jovem, parece ter coincidido com o afastamento do seu irmão Agripa Póstumo, que foi acusado de ser um Brutus vigoroso e cruel49. É bastante inquietante ver assim deportar, um após outro, os dois últimos filhos de Júlia e Agripa, os únicos em que ainda corria o sangue de Augusto e que não se encontravam ligados aos Claudii. A outra filha, Agripina, a mais velha, ficou provavelmente a dever a sua salvação ao casamento com Germânico, o neto de Lívia. Finalmente, no mesmo ano, o poeta Ovídio foi exilado, o que pode bem ter acontecido em relação com alguma tentativa para retirar a herança de Augusto à “ninhada” de Lívia. Tibério fora, por fim, adotado por Augusto, ao mesmo tempo que Agripa Póstumo. O velho príncipe hesitava em deserdar completamente os que descendiam do seu sangue: nesta data, em 6 d.e.c., Agripa Póstumo tinha atingido os 18 anos e o que se designou mais tarde como sendo a sua “loucura”50 não seria, por certo, ainda evidente. É duvidoso que esta se tenha declarado abertamente em poucos meses, a ponto de impor o seu afastamento. Não podemos, na verdade, impedir-nos de suspeitar que o drama que atingiu sucessivamente os últimos descendentes de Augusto e de Escribônia pode ser o epílogo da política pacientemente conduzida por Lívia. Tibério, apesar do desagrado de Augusto, devia ficar como o único herdeiro. Era necessário evitar a todo o custo que, quando chegasse o momento, emergisse um partido “legitimista”, capaz de arrancar aos Claudii a herança tão cobiçada do senhor defunto. Por isso, Tácito, ao relatar a morte de Júlia, a Jovem, um dos acontecimentos de 28 d.e.c., podia escrever:
"Nessa mesma época morreu Júlia, acusada de adultério e condenada por Augusto, embora fosse sua neta, e exilada para as ilhas Tremiti, não distantes das costas da Apúlia. Aí viveu exilada durante vinte anos, graças aos recursos que Lívia lhe enviava, a qual, depois de ter derrubado, com as suas intrigas secretas, os filhos do primeiro casamento quando estavam no cume da sua ventura, aparentava piedade para com eles na sua ruína".51
Eis como decorreu o bom e frutuoso casamento com que Augusto se enternecia no seu leito de morte.
Os dramas que dilaceraram a casa de Augusto e colocaram o Império nas mãos do “republicano” Tibério têm a sua origem na paixão de Otávio, ao tirar Lívia ao seu primeiro marido. Foi uma união que, justamente, se poderia dizer maldita, porque foi estéril e porque teve por efeito fazer passar o principado para as mãos dos Claudii, privando dele os representantes legítimos da gens Julia. O desejo de prazer e, se assim o pensarmos, a própria imoralidade desempenharam o seu papel nesta série de tragédias, mas este papel foi menor do que o da ambição. Uma mulher, Lívia, recorria a tudo para garantir o seu poder sobre o homem que tinha nas suas mãos o destino de Roma. Para isso, estava disposta a suportar - e, mesmo, a favorecer as infidelidades e, depois, os gostos senis de Augusto52.
Pagando este preço, foi um “boa esposa” e conseguiu que Augusto, definitivamente subjugado, renegasse o seu próprio sangue. Não foi por se ter passado na casa imperial que este drama é diferente daqueles a que os romancistas de todos os tempos nos habituaram, esteja em causa a posse de um campo, de uma quinta ou do Império Romano. Um homem que se opõe durante muito tempo às intrigas insidiosas da mulher que ama, mas de quem desconfia, e depois, à medida que vai envelhecendo, a quem cede gradualmente e por quem se deixa manipular, abdica de ser ele mesmo e consente todas as traições e todos as abdicações, alimentando-se da ilusão de que a sua companheira, já idosa, partilha sentimentos e intenções que, na realidade, foi ela a ditar. Esta foi, sem dúvida alguma, a história deste casamento, que algumas cortesãs e alguns poetas celebravam como a própria imagem da perfeição conjugal.
A história das duas Júlia, a mãe e a filha, não é menos cruel nem menos dica de ensinamentos. A primeira Júlia não hesitou em organizar uma conspiração criminosa para retomar uma situação que lhe escapava e, com esse fim, concedeu os seus favores aos homens de quem esperava algum apoio. A sua filha, seguindo-lhe o exemplo (e apesar do terrível malogro de uma aventura que terminou em sangue), também acreditou poder contrariar as intrigas da toda-poderosa Lívia, recorrendo aos mesmos meios. Que ideia do amor teriam estas duas mulheres? Somos tentados a pensar que, para elas, era apenas um instrumento. A pior das censuras que se poderia fazer-lhes seria, talvez, terem reduzido o amor a ser apenas isso. Se tivessem procurado, clandestinamente, apenas o prazer do deboche, como tantas outras do seu tempo ou em outros séculos, teriam envelhecido calmamente, honradas e, sem dúvida, felizes. Mas a tradição das mulheres romanas dizia-lhes que o amor em si mesmo é uma fraqueza, que só a grandeza e o poder merecem ser tentados. Era natural que, depois de terem chegado até ao despeito, inerente a todas as mulheres da sua raça e da sua classe, pela ligações carnais e sentimentais, tivessem terminado nesta mutilação do seu ser, que fora já realizada, em espírito, pelas matronas mais virtuosas do passado, em cuja feminidade se tinha tomado costume ver apenas o meio para assegurar a sobrevivência da cidade e a grandeza da sua gens. Reside aí, talvez, a origem profunda desta “imoralidade” de que é acusada a sociedade imperial, uma perversão puritana dos valores naturais, que priva o amor do seu verdadeiro significado, que lhe retira o carácter essencial, que é o compromisso total de dois seres, e tenta sujeitá-lo a disciplinas arbitrárias. Os poetas, como vimos, tinham sabido, sem dúvida, reencontrar o sentido do amor, mas ninguém os escutava, ou, como aconteceu ao infeliz Ovídio, acusavam-nos de imoralidade e enviavam-nos para o exílio. E, no entanto, existiu marido mais terno que Ovídio e casal mais fundamentalmente pervertido do que Augusto e Lívia?
***
Durante os reinados que se seguiram ao de Augusto, numerosas intrigas se urdiram muito semelhantes às conduzidas por Lívia e pelas mulheres da casa imperial, intrigas fatais, motivadas pela conquista do poder e, naturalmente, utilizando os mesmos meios. Nem todas as que os historiadores nos relatam serão, talvez, verdadeiras, mas algumas, pelo menos, comprovadas com segurança, provam que a corte do Palatino não ficava nada atrás das monarquias helenísticas, continuando, ao mesmo tempo, as tradições da vida política do fim da República. Não temos a certeza absoluta de que Caligula, para obter os serviços de Macrão, prefeito do pretório, tenha procurado os favores de Énia, a mulher deste53, e é menos verosímil ainda que se tenha comprometido por escrito a casar-se com ela quando se tornasse imperador. Apareceram demasiado lendas sobre os imperadores júlio-claudianos para que possamos acreditar inteiramente em todas as histórias que se contam. Mas podemos salientar, apesar de tudo, o papel desempenhado por certas mulheres da “casa divina” (domus divina), que tendem a ter uma importância crescente, como disso dão testemunho as honras com que as cumulam.
Augusto sempre se recusou a unir oficialmente Lívia ao seu carácter divino e foi apenas por sua morte que recebeu o título de Augusta, mas Tibério opôs-se sempre a que recebesse outras honras e aparentava evitar todas as conversas com ela que pudessem levar a supor que exercia sobre ele alguma influência política54. Mas Caligula, desde o começo do seu reinado, está longe de observar tão cuidadosa reserva. Aceita (e sem dúvida sugere) que as suas três irmãs sejam incluídas nos votos oficiais pronunciados pelo Senado em sua honra e, ao mesmo tempo, faz cunhar moedas que as identificam com três divindades simbólicas com os nomes de Securitas, Concordia e Fortuna55. Quando morreu a mais amada de todas, Júlia Drusila, ordenou que fosse considerada uma deusa, com o nome de Panthea, o que era tornar oficial o culto que algumas cidades orientais lhe dedicaram, ainda em vida, e para as quais ela era a “Nova Afrodite”56. Assim, as mulheres da casa imperial foram incluídas nesta lenta ascensão para a divindade, que transforma progressivamente o principado em monarquia de direito divino. Mas não deixam também de ser “matronas”, movidas pelas mesmas paixões, prontas, para satisfazer a sua sede de honras e poder, aos mesmos comprometimentos que as suas mães, talvez ainda mais infimamente persuadidas do que elas de estarem acima das leis e da moral humanas, por pertencerem à família do deus reinante.
Dois nomes simbolizam, hoje, para nós, estas “mulheres dos Césares”, o de Messalina e o de Agripina. São dois nomes carregados de vergonha e que parecem por si só justificar a reprovação dos “amores romanos” pela história.
O editor da Galeria Universal, no momento de inserir na sua recolha uma nota sobre Messalina, julga dever tomar as suas precauções numa advertência:
"Que os nossos leitores, escreve ele, não se alarmem de modo nenhum com o nome de Messalina. O nosso respeito pelos costumes e a sábia vigilância do censor que preside à publicação dos números da Galeria Universal devem ser garantes de que o quadro assustador que apresentamos dos excessos vergonhosos desta infame imperatriz, vergonha do trono e do seu sexo, não tem por objetivo senão inspirar o horror pelo vício e fazer admirar com mais esplendor a virtude, onde quer que ela brilhe".57
Estes virtuosos protestos dissimulam mal o verdadeiro fascínio exercido por Messalina, em quem encarna o que se pode considerar um “amoralismo” total, uma liberdade com que se sonha secretamente, mas sem o querer confessar. Os versos de Juvenal que descrevem as proezas amorosas da imperatriz maldita estavam, há um século ou dois, na memória de todos - eram ditos em voz baixa nos bancos do colégio:
"Olha então para os rivais dos deuses, ouve o que Cláudio suportou. Logo que a sua mulher pressentisse que dormia, a imperatriz cortesã, ousando preferir uma esteira à cama do Palatino, pegava uma capa para a noite e escapava-se, apenas com uma serva por companheira. Depois, com uma peruca ruiva, que lhe ocultava os seus cabelos pretos, muitas vezes passou pela velha cortina, entrando em um tépido bordel e em um compartimento vazio, que era o seu. Então, nua, com os seios apoiados em uma rede de ouro, oferecia- -se, sob o nome falso de Licisca, dando como visão o ventre que te transportou, nobre Britânico. Acolhia, sedutora, os visitantes e solicitava umas moedas. Depois, à hora em que já o dono mandava sair as suas pensionistas, ia-se embora triste e tão tarde quanto podia, sendo a última a fechar o quarto, ardendo ainda em um espasmo que feria os seus sentidos. Esgotada com o homem, mas não cansada, saía e, com a tez pálida e baça, manchada pelo fumo da lâmpada, trazia para a cama sagrada o fedor do bordel".58
Os historiadores Dião Cássio e Plínio (que, por certo, se refere a si mesmo na sua História Natural) estão de acordo quando nos mostram uma Messalina freneticamente ávida de prazer carnal59. Juvenal não quis traçar, seguramente, senão um quadro simbólico, uma variação “brilhante” sobre o tema da imperatriz cortesã, em que se encontram e opõem a majestade divina do principado e as realidades sórdidas dos lupanares romanos. Não acreditemos de forma alguma que a imperatriz ocupou realmente um quarto cheio de fumo, por cima do qual uma inscrição a designava com o nome de Licisca (ou seja, com o equivalente grego do termo lupa, que, na linguagem do povo, não significava outra coisa se não cortesã). Que atraiu a sua casa, no próprio Palatino, amantes capazes de satisfazê-la, não podemos de modo nenhum duvidar. Que também organizou orgias no palácio para as quais convidava mulheres nobres acompanhadas dos maridos60, também é possível. Ninguém se teria incomodado, se Messalina não fosse a imperatriz. O que pode haver de patológico na sua conduta não deveria suscitar um juízo de condenação sobre o conjunto de uma sociedade e mesmo de uma civilização que não são certamente as únicas a ter conhecido excessos deste gênero. Mas o que todos os censores esqueceram é que no momento em que Messalina se abandonava assim aos demônios da sua carne não tinha ainda vinte anos e talvez tivesse mesmo muito menos.
Messalina casou com Cláudio um ou dois anos antes deste se tornar imperador. O seu casamento data provavelmente de 39 ou 4061, altura em que Cláudio, tio do imperador reinante (Caligula), era considerado, na corte, um palhaço de quem todos podiam troçar. Ninguém pensava que, em breve, iria ser senhor do Império. Cláudio já tinha sido casado duas vezes. Divorciara-se a primeira vez por acusações que se dizem bastante leves e a segunda porque a mulher se desonrara com o seu mau comportamento e houve mesmo suspeitas de ter morto um homem62. Já não era jovem, porque, nascido em 10 a.e.c., aproximava-se então dos 50. Para Messalina, era o seu primeiro marido, e sabe-se que o costume era casar as mulheres muito jovens. Não nos enganaremos se pensarmos que em 39 Messalina mal tinha entrado na adolescência. No mês de Fevereiro de 41, dava ao mundo um rapaz, o pequeno Britânico. Talvez Britânico tivesse sido precedido por uma filha, Otávia, ou, talvez, pelo contrário, esta fosse mais nova do que ele. Os primeiros tempos deste casamento foram felizes. Cláudio gostava muito da sua mulher-criança e estava feliz por ter sido pai. Parece que tudo começou a deteriorar-se depois da morte de Caligula e da ascensão de Cláudio a imperador.
O novo imperador era extremamente influenciável e os libertos da sua casa não demoraram a exercer o poder em seu nome. Um deles, sobretudo, o famoso Narciso, parece ter feito da jovem imperatriz o instrumento da sua ambição. Messalina, treinada nas intermináveis intrigas da corte e cansada de um marido libidinoso, que perseguia as servas, e tão novas quanto era possível descobrir63, encontrando, para todas as fantasias, cumplicidades interesseiras e servis, teria tido o grande mérito de não abusar da sua total liberdade. Faltou-lhe uma alma de uma força excepcional e, na infância, não leve exemplos melhores do que os que lhe deu sua mãe, Domícia Lépida.
Os historiadores antigos acusam-na, não apenas de se ter entregue ao prazer de inúmeros vícios, mas também de ter provocado a morte de vários grandes personagens, de que queria vingar-se ou, simplesmente, cujos bens desejava. Debochada, cruel e cúpida, descrevem-na como um monstro quando tinha a idade em que muitas jovens pensam ainda em bonecas. Mas é muito provável que, após a sua queda, lhe tenham atribuído todos os crimes cometidos por outros em seu redor. Narciso, nomeadamente, que após ter sido o seu aliado foi responsável pela sua morte, tinha todo o interesse em inverter os papéis, pretendendo que apenas obedecera a Messalina, quando era ele mesmo que dirigia o jogo. No tempo de Nero, o delator Suílio, que foi um dos seu familiares, teve de prestar contas. Uma das vítimas de Cláudio, Sêneca, detinha então algum poder e abriu-se o processo. Suílio quis, em primeiro lugar, proteger-se com a memória de Cláudio, pretendendo que não fizera mais do que obedecer ao imperador, defesa que Nero reduziu a nada, afirmando que nunca Cláudio provocara a menor acusação contra quem quer que fosse e que as suas memórias eram disso a prova. Então Suílio alegou que, se Cláudio estava inocente, a responsabilidade de todos os crimes era de Messalina, sabendo que ninguém tomaria a defesa da imperatriz maldita64. Devemos aceitar cegamente as afirmações de Suílio?
De fato, em redor de Messalina entrevemos como que um círculo, que não está ligado a ela apenas devido ao gosto comum pelo deboche, mas que se serve, para fins políticos, do inegável ascendente que ela exerce sobre o príncipe. Neste grupo figura, nomeadamente, Vitélio, o pai do futuro imperador, que finge um grande amor respeitoso65, mas, por outro lado, coloca no seu lararium estátuas de ouro dos libertos imperiais. Este círculo vinga-se de todos os que se opõem às suas manobras. Messalina está “do lado de Antônio”, a quem a ligam as suas duas linhas de ascendentes, a materna e a paterna. Desde o reinado de Augusto, uma surda rivalidade opõe este ramo da família aos “herdeiros legítimos”, representados pelos descendentes de Germânico. Não é nada surpreendente, por conseguinte, que uma das primeiras vítimas tenha sido Júlia Livila, uma das filhas de Germânico, que, no reinado de Caligula, conspirara com Agripina contra o seu próprio irmão. Enquanto esta, que se tornara cuidadosa, devido ao seu precedente malogro, permanecia na sombra e esperava a sua hora, Júlia tentava seduzir Cláudio e eliminar Messalina. Entrava em longas conversas a sós com o velho imperador, que nunca não soubera resistir à atração de uma mulher. Por outro lado. Messalina acusou-a de se ter deixado seduzir por Sêneca e ter sido sua amante. Júlia foi enviada para o exílio e, dentro de pouco tempo, assassinada. Sêneca, contra quem não havia acusações demasiado graves, que, no partido das filhas de Germânico, era apenas um comparsa e de quem a eloquência e influência no Senado eram apreciadas, foi objeto de uma medida de clemência. Contentaram-se em relegá-lo para a Córsega, sem o privar dos seus bens.
O processo e a morte de Valério Asiático incluem-se no número dos crimes mais terríveis de que Messalina é acusada. É por este relato que começa, hoje, para nós, o livro XI dos Anais de Tácito:
"Vemos aí como a imperatriz, com ciúmes de Popeia Sabina, se irrita com Asiático, do qual esperava, sem dúvida, tornar-se a amante. Como se este motivo não bastasse, ao despeito amoroso acrescentou a cupidez. Não se contenta em desejar o homem, deseja também os seus jardins, o maravilhoso parque anteriormente desenhado por Lúculo e que se tornara uma das propriedades mais magníficas de Roma. Vitélio, Suílio e alguns outros encarregaram-se de apresentar a acusação. Cláudio, segundo é relatado, ter-se-ia inclinado para a absolvição, mas Vitélio soube manobrá-lo, fingiu defender o acusado e, por fim, pediu, como medida de clemência, que se lhe permitisse escolher o tipo de morte. Cláudio concordou, estupidamente, e Messalina, que não pudera reter as lágrimas quando Asiático apresentava a sua defesa, obteve finalmente o que desejava, a morte do acusado".66
Este é o relato de Tácito, que não deixa de ser algo improvável. Asiático não era, com certeza, o personagem inofensivo que nos tenta apresentar. Tinha tomado parte ativa no assassinato de Caligula e era o chefe dos conjurados que tinham por objetivo confesso restaurar a República. Cláudio, longe de ser indulgente, persegue-o com ódio e, muito tempo após a condenação, explode em insultos à sua memória no discurso que as tábuas claudianas nos deixaram67. Deveremos nós pensar que, deste modo, o imperador não faz mais do que seguir, cega e ridiculamente, uma atitude que é ditada por Messalina? A desgraça de Asiático não pode ter tido causas mais graves do que o despeito e a avidez de uma mulher impudica? Não será antes um episódio da luta constante em que se envolveram, nos reinados de todos os imperadores da dinastia júlio-claudiana, o “partido” dos libertos, as “gentes” do príncipe e os campeões do Senado, que desejavam arrancar o poder à influência dos “gabinetes”? Asiático, muito bem na corte, no início do império de Cláudio, companheiro do imperador durante a expedição na Britânia, investido segunda vez como cônsul, em 46, podia passar pelo representante mais autorizado dos que, no fundo de si mesmos, estavam saudosos do bom tempo da oligarquia “republicana” e agiam para restaurar os privilégios da sua ordem. Asiático foi vítima deste duelo de morte, começado antes dele e que continuará, com peripécias diversas, no reinado de Nero e ainda depois dele. É provável que haja responsabilidade de Messalina. Confessemos, pelo menos, que ela partilha tal responsabilidade com os que, considerando que é um instrumento demasiado pouco dócil nas suas mãos, dentro em breve vão maquinar a sua perda.
Durante o Verão do ano 48, provavelmente a 15 de Agosto68, Cláudio, que estava a terminar o “lustro” como censor, teve no Senado este discurso genial e revolucionário, conservado pelas tábuas claudianas, tratava-se de abrir mais amplamente o Senado aos originários das províncias e, muito especialmente, aos notáveis da Gália “cabeluda”. Ao mesmo tempo, Cláudio mostrava-se de uma particular benevolência em relação aos senadores: em vez de usar brutalmente os seus poderes de censor para excluir da ordem os membros do Senado que o tivessem desmerecido, deixou-lhes o cuidado de pedirem eles mesmos o direito de se retirar66. Podia parecer que se estava em um momento decisivo do Império, que o equilíbrio entre a influência dos “gabinetes” e a do Senado estivesse prestes a ser rompida. Esta consciência inspirou uma moção lisonjeira do cônsul Vipstano, que propôs que se nomeasse Cláudio “pai do Senado”70. Cláudio recusou esta honra, o que confirmou a opinião que se podia ter da sua moderação e dos seus sentimentos “republicanos”, ou, em todo o caso, favoráveis ao Senado. Tal é também a impressão que se retira da leitura das próprias tábuas claudianas, pela bonomia do seu estilo, sem dúvida propositada. Havia em tudo isto com que preocupar os “libertos” do palácio, que ripostaram de imediato com uma audácia inacreditável, conseguindo reverter a situação.
Os libertos aproveitaram uma nova imprudência de Messalina e, com uma hábil manobra, conseguiram tornar suspeita ao olhos do príncipe pelo menos uma parte dos senadores, eliminando ao mesmo tempo a imperatriz, que se tornava uma ameaça para eles.
Há já algum tempo, Messalina estava apaixonada por um jovem, “o mais belo dos Romanos”71, diz Tácito. Era um senador chamado C. Sílio, que concordou, para a comprazer, em quebrar o seu casamento com uma grande senhora. Júnia Silana, porque Messalina, com a intransigência da sua juventude e o seu orgulho de princesa mimada, não tolerava nenhuma partilha. Entregou-se a este amor sem qualquer prudência. Cláudio fechava os olhos. Talvez ignorasse a aventura, ou, o que é mais provável, tenha decidido deixar a Messalina uma liberdade de que queria ignorar até onde poderia ir. O escândalo, de qualquer forma, tinha-se tornado público: Messalina vinha a casa de Sílio com um séquito numeroso e sem se ocultar. Os seus escravos e os seus libertos estavam à vontade na casa do amante e utilizavam a louça e os tesouros do mobiliário imperial para as festas e as reuniões que ela aí dava. Sílio pressentia, de fato, o perigo, mas que podia ele fazer? Como contrariar uma amante imperiosa, feliz com a sua existência e por satisfazer aquele que amava? Era, para a descendente de Antônio, o recomeço da “vida inimitável”, que ela revivia fazendo ao mesmo tempo de Cleópatra e de Antônio. Aliás, Sílio pensou que o próprio excesso de perigo da situação e a temeridade de Messalina tornavam possível uma solução audaciosa: uma vez que se apoderara da mulher do imperador, por que não se assenhorear também do poder? E foi ele que começou a pressionar Messalina: Cláudio estava velho, porquê esperar o fim natural dos seus dias? Não era Sílio o cônsul designado e, durante algum tempo, pelo menos, um dos principais personagens do Estado? Tinha partidários que ficariam felizes se apoiassem a sua investidura quando Cláudio desaparecesse. Desde a morte de Caligula que se sabia como se faziam os imperadores. Já ninguém acreditava no seu direito divino. Aliás, indo mais longe, Sílio fez notar a Messalina que não tinham nenhuma relação familiar e que nada o impedia de casar com ela, logo que ficasse livre pela morte de Cláudio. Prometia-lhe adotar os seus filhos. A linhagem de Britânico garantiria aos olhos dos Romanos (daqueles, pelo menos, que se preocupavam com isso) que o poder não excluía completamente a descendência de Augusto.
Messalina não tinha pensado neste projeto e acolheu-o com frieza. Tácito assegura-nos que pensava apenas em satisfazer a sua paixão e também (o que não deixa de ser surpreendente, se aceitarmos o retrato tradicional de uma Messalina debochada, voando de prazer em prazer, incapaz de se prender a alguém e escrava apenas dos seus sentidos) que estes propósitos de Sílio lhe causaram preocupação quanto ao futuro da sua ligação: teve medo, diz-nos ele, que, uma vez chegado ao poder, Sílio a rejeitasse como um instrumento que se tornara inútil e acabasse, talvez, por a acusar do seu crime comum. Podemos também pensar, e Tácito não nos oferece aqui senão conjecturas, que Messalina ficou chocada com o espírito prático de Sílio e que não foi sem resistência que aceitou a ideia de mandar assassinar o marido. Era natural também que estivesse inquieta quanto ao amor dele, ao descobrir que Sílio podia considerá-la como o meio de satisfazer a sua ambição, em vez de simplesmente a amar. Do que o amante lhe disse, só quis saber de uma coisa: que desejava casar com ela. Decidiram celebrar o seu casamento na ausência de Cláudio, que tinha de se deslocar a Óstia para uma cerimônia oficial. E o casamento teve lugar. Foram cumpridos todos os ritos: observaram-se os auspícios, ofereceram-se os sacrifícios, testemunhas assistiram à assinatura do contrato e os esposos retiraram-se em seguida para passar a noite juntos. Tudo isto nos parece incrível. Os historiadores antigos hostis a Cláudio e a Messalina sublinharam o carácter escandaloso deste casamento para evidenciar o que chamam de imbecilidade do imperador e perversidade da sua mulher. Mas alguns testemunhos dispersos permitem-nos compreender o significado da aventura e explicar-nos, mais ou menos, como foi ela possível. Em primeiro lugar, é Suetônio quem nos diz que Cláudio não ignorava a celebração do casamento com Sílio. Teria mesmo aposto a sua assinatura no contrato. Mas tinham-lhe feito crer que se tratava apenas de um “casamento a fingir”, que havia presságios que ameaçavam o marido de Messalina e que, para desviar a cólera dos deuses, Sílio oferecia-se para desempenhar este papel72. Cláudio tinha aceito e partira para Óstia de espírito tranquilo.
Todavia, as suas ilusões não duraram muito. Narciso, um dos seus libertos, encarregou-se de as dissipar e fazer-lhe compreender a verdadeira situação. Nos nossos dias, o casamento com Sílio pode parecer uma comédia escandalosa sem alcance real. Não acontecia o mesmo no tempo de Cláudio: a mulher possuía então o direito absoluto de repudiar o marido73. Cláudio devia considerar-se “repudiado”, ainda que nem todas as formas legais tivessem sido estritamente observadas, e foi realmente assim que Narciso apresentou a coisa. “Mas estarás, porventura - disse ele a Cláudio -, a par do teu divórcio? O casamento de Sílio teve por testemunhas o povo, o Senado e o exército. Se não ages prontamente, o marido de Messalina será senhor de Roma.”74 Teria falado assim, se o casamento não tivesse nenhum valor legal? O próprio Cláudio compreende o perigo. A imperatriz não terá entregado ao seu novo marido o Império como dote? Ela pode fazê-lo. Também ela pertence à família de Augusto. Basta que os pretorianos, o povo ou o Senado pronunciem a queda de Cláudio para que a revolução se torne um fato consumado. Teria, sem dúvida, acontecido assim se Messalina o tivesse desejado e tivesse consentido em tomar as medidas necessárias, ou deixado que Sílio as tomasse. Sílio, cônsul designado, tinha-se distinguido no ano transacto ao atacar violentamente Suílio e fazendo-se porta-voz dos “conservadores”: os senadores tê-lo-iam apoiado, se tivesse recorrido a eles, e Narciso sabia-o, com certeza, pois, sem perder tempo, trouxe Cláudio ao acampamento dos pretorianos, estes mesmos pretorianos que tinham impedido os senadores de restabelecer a “República” e que respeitavam no príncipe o irmão de Germânico, cuja memória lhes era cara. Messalina, enquanto Narciso conspirava contra ela, preocupava-se pouco com a política: feliz por ter casado com Sílio e sem querer preocupar-se com o dia seguinte, celebrava uma bacanal, porque era 23 de Agosto, dia em que começavam as festas das vindimas75. Na casa imperial, preparara-se uma encenação sagrada. Viam-se prensas cheias de uva, o mosto enchia as cubas e, um pouco por toda a parte, mulheres disfarçadas de bacantes, mal cobertas com peles de pantera, entregavam-se às danças desenfreadas que prazem a Dioniso. A própria Messalina, com os cabelos soltos, brandia um tirso. Ela era Ariadne, ao lado de Sílio disfarçado de Baco, com as suas grinaldas de hera e os seus coturnos. Quando Vétio Valente, um dos seus amigos, subiu a uma árvore e fingia perscrutar o horizonte, ao perguntarem-lhe o que via lá de cima, respondeu que via “uma trovoada violenta para os lados de Óstia”76. Não se enganava nada, porque, nesse mesmo momento, Cláudio, oculto por Narciso, estava instalado em uma liteira, onde ninguém o podia abordar, e regressava, mais inquieto e infeliz do que furioso, para enfrentar, contra a sua vontade, o golpe de Estado que, segundo a lógica, Sílio teria devido pelo menos tentar e que tinha algumas possibilidades de sucesso.
Enquanto Messalina fora um instrumento nas mãos dos libertos, poderia ter-se criado a ilusão de que a imperatriz sabia conduzir uma intriga com habilidade e assegurar o seu sucesso. De fato, logo que, cedendo à sua paixão por Sílio, já não pôde contar com os conselhos de Narciso e dos outros, reduzida apenas às suas forças, entrou em derrocada. Demasiado segura de si mesma, acreditou durante tempo de mais no seu poder sobre Cláudio, no que não se enganava nada, mas não imaginou a habilidade diabólica de Narciso, que a impediu de chegar junto daquele que não teria resistido a alguns momentos a sós com ela. Nem por um momento pensou que o liberto, arriscando tudo por tudo, daria ordem de a executar sem sequer consultar Cláudio.
Tinha-se retirado para os jardins de que tanto gostava, os que pertenceram antes a Valério Asiático, e dispunha-se a redigir uma suplica quando chegou um grupo de soldados, conduzidos por um empregado de Narciso. Junto dela, estava sua mãe, Lépida, durante muito tempo zangada com ela, mas que acorrera ao saber da desgraça da filha. Compreendendo melhor do que esta que a situação era desesperada, aconselhava-lhe a que não esperasse os carrascos. Messalina, contudo, não tinha coragem para morrer: afinal, tinha apenas vinte anos e, algumas horas mais cedo, estava ainda no momento mais sublime de um amor feliz, possuída por aquele espírito dionisíaco que anteriormente, em circunstâncias semelhantes, tinha arrebatado Antônio e que era para si a justificação dos seus arroubos carnais. O severo Tácito condena-a em poucas palavras: “A sua alma, corrompida pelas paixões, já não conservava nenhum sentido da honra.” No entanto, esboçou o gesto de se matar quando se apercebeu dos soldados, mas estes anteciparam-se-lhe e o tribuno trespassou-a com a espada77.
O que se considerou ser a conspiração de Messalina, e que havia sido, sobretudo, a conspiração de Sílio, foi reprimida, como era hábito, com uma série de execuções. A severidade das condenações mostra que se pretendeu destruir os representantes mais ativos do “partido senatorial”. Narciso levava a melhor. Já não estava em questão a aproximação entre o imperador e os senadores. Por uma última vez, os libertos tinham-se servido de Messalina para conduzir o seu jogo e os senadores rebaixaram-se até ao ponto de oferecer a Narciso as insígnias de questor, consagrando assim a sua própria derrota.
É nestas condições que Agripina chega ao poder. Era necessário substituir Messalina a qualquer preço. Cláudio não podia passar sem mulher e, oferecendo-lhe uma a seu jeito, cada grupo procurava assegurar este modo de o influenciar. Acerca do quarto do príncipe, houve inúmeras intrigas, cujos ecos enfraquecidos Tácito registrou. Finalmente, chegou-se a acordo sobre o nome de Agripina, que dava garantias a todos. Agripina foi escolhida porque tinha sangue de Augusto: era filha de Germânico. Os libertos sabiam que era permeável à corrupção. Em suma, cada um esperava ser recompensado por este casamento, casamento escandaloso, pois Cláudio era o tio de Agripina, mas que se conseguiu impor à opinião pública com uma lei especialmente promulgada para autorizar estas uniões até então consideradas incestuosas.
No entanto, os que esperavam que Agripina fosse tão dócil como havia sido Messalina cedo se desenganaram. De fato, foi uma segunda Lívia que chegou ao poder e não tinha, para se lhe opor, a vontade de um homem semelhante a Augusto. Muito rapidamente, dispôs-se a seguir uma política pessoal. Abandonando os libertos, começa a seduzir o partido senatorial. Chama Sêneca, confia-lhe o encargo de criar o jovem Nero e deixa entender que, quando chegasse o dia, saberia dar ao Império um príncipe mais respeitoso dos privilégios do Senado. Levou cinco anos para arruinar completamente a autoridade de Cláudio e ter do seu lado um partido. De qualquer modo, não teve, no fim de contas, nenhuma dificuldade em impor Nero quando a morte de Cláudio - de que, não sem plausibilidade, a acusam de ter provocado - abriu as portas à sucessão. A sua previdência e a sua habilidade tinham afastado todas as dificuldades: pretorianos, senadores e plebe, todos aprovaram a ascensão de Nero à chefia do Império. Tinha sabido realizar o que os três reinados precedentes não tinham conseguido senão muito raramente: a unanimidade política em Roma.
Após o sucesso obtido contra o marido, tem de manter a sua influência, desta vez sobre o filho e, antes de mais, sobre o próprio círculo que a ajudara na primeira parte da sua tarefa. Os homens com que rodeou o jovem Nero vão, pela primeira vez, pô-la em xeque. Tinha querido apoiar-se nos “conservadores” e Sêneca fora-lhe para isso muito útil. Mas tinha suscitado assim, sem o saber, um obstáculo insuperável. Nunca um “velho romano” permitiria a uma mulher exercer uma influência ostensiva sobre a vida política e os negócios do Estado. Ora, ela recusa permanecer na sombra. Tem a ambição de todas as mulheres da sua estirpe, o sangue de Lívia corre-lhe nas veias, mas já não tem a sua prudência. Sabe que é capaz de levar a bom termo os mais importantes assuntos tão bem ou melhor do que um homem. Quer ser mais do que a mãe do príncipe, quer ser uma verdadeira rainha. Ora, se a tradição romana permite às mulheres, há muito tempo, ter peso nas decisões dos homens, esta tradição, que os homens em que Agripina se apoia representam, proíbe-lhes que apareçam em cena.
O drama desencadeia-se desde os primeiros tempos do reinado de Nero: um dia em que embaixadores vindos da Armênia eram recebidos em audiência oficiai pelo imperador, Agripina dispunha-se a subir para o estrado e a sentar-se junto dele. Todos os presentes ficaram estupefados. Agripina aproximava-se da tribuna e ninguém ousava fazer um gesto para a impedir. Eis que Sêneca teve a presença de espírito de sugerir a Nero que o seu dever lhe impunha que fosse à frente da sua mãe. A sessão foi suspensa, o escândalo evitado, mas o incidente foi o prelúdio de uma longa crise78. Agripina compreendeu que estava longe de ter definitivamente ganho e que tinha de continuar a luta. Agora, era um filho que era necessário dominar, não um velho que se vence com uma carícia.
Agripina vai continuar, durante quatro anos, este combate desigual, onde se usam, de ambos os lados, todas as armas. Nero ousa apaixonar-se por uma liberta de nome Acte. É, em si mesmo, um assunto sem consequências, mas Sêneca vê nele um meio para afastar da sua mãe o jovem príncipe. Favorece esta ligação. Um dos seus amigos, Sereno, o prefeito dos vigias noturnos, esforça-se, desde logo, por dissimular o escândalo, tomando a seu cargo os presentes que o jovem oferece à sua amante e exibindo-se com ela. Mas Agripina não é tola e enfurece-se. Então, privam-na de um dos seus aliados, o liberto Palas, um dos “grandes funcionários” sobreviventes do reinado precedente, que favorecera a sua fortuna. Então ameaça. Britânico, o filho de Cláudio e Messalina, continua ali, como um remorso. Agripina sabe que pode sublevar os pretorianos a seu favor, diz ela. Britânico morre tão a propósito que ninguém duvida de que Nero o mandara assassinar (o que de modo algum é certo). Em seguida, a própria Agripina é afastada do Palatino. Mas nem assim ela desarma. Há mesmo quem assegure que ela pensa tornar-se amante do seu próprio filho, crime que foi evitado, diz-se, por intervenção de Sêneca79. Nero foi protegido também pelo seu amor por Popeia, que arrebatara a um dos seus amigos, Sálvio Otão, e com quem acabou por casar. Por fim, foi a influência de Popeia que o levou a cometer outro crime: o assassinato da sua própria mãe.
Com Agripina e Nero termina uma linhagem. A família imperial procedente de Augusto tinha levado ao paroxismo estes dramas da paixão e da política, que não eram, certamente, novos em Roma, mas não tinham conhecido ainda uma tal intensidade nem uma tal continuidade.
Os historiadores transmitiram-nos muitos detalhes sobre a perversidade sexual do último dos júlio-claudianos, que nos permitem supor que cedia com demasiada boa vontade aos arrebatamentos da sua imaginação e às curiosidades dos seus sentidos. Os mesmos historiadores relatam-nos também com que ternura gostou de Popeia, com que alegria acolheu o nascimento da sua filha, o único descendente que teve. Acrescentam que Popeia morreu por culpa do imperador, que ele lhe deu um dia um tal pontapé no ventre que a jovem, que estava grávida, não demorou a morrer. O que retira muito peso a esta versão é o rumor que correu entre o povo que Popeia morreu envenenada por Nero. O que é certo é que este continuou a amar a memória da sua mulher, a ponto de a “substituir” por um rapaz cujos traços recordavam os da morta. Também não devemos esquecer, para concluir o esboço do que foi, talvez, o verdadeiro perfil de Nero, o imperador que começou reinar aos dezessete anos, que a sua primeira amante, Acte, lhe permaneceu sempre fiel e que foi ela que o enterrou, quando todos o tinham abandonado, tendo morrido proscrito, declarado inimigo público pelo Senado, arrastando consigo a sorte de toda uma dinastia.

Durante a República, são os homens que têm o protagonismo, são eles que, ostensivamente, têm nas mãos a vida da cidade. As combinações políticas, no Senado e nas assembleias, a escolha dos magistrados, a condução das guerras, a administração das províncias e os grandes processos, tudo isso é tratado na praça pública ou na cúria, em todo caso, fora da casa, e os velhos romanos ter-se-iam julgado desonrados se alguém os tivesse acusado seriamente de orientar a sua conduta pela opinião das suas mulheres.
Ocasionalmente, na verdade, um orador podia dizer como graça: “Todos os homens, em toda a parte, governam as mulheres; nós, nós governamos todos os homens, mas, por nossa vez, obedecemos às mulheres”1. Todavia, isto era apenas um gracejo de letrado misógino, que parafraseava um dito tomado a Temístocles. O próprio Catão (porque é a ele que se atribui a honra desta tirada) gostava de contar que só se arrependera três vezes durante a sua vida, de uma ação que cometera: a primeira, quando fez por mar uma viagem que teria podido fazer por terra, a segunda, quando, durante um dia inteiro, negligenciou redigir um testamento e a terceira e última quando confiou um dia um segredo à sua mulher2. No entanto, Catão era o melhor dos maridos e o melhor dos pais. Depois de terminadas as suas tarefas, ajudava ao banho e ao enfaixar do seu filho, que a sua própria mulher alimentava e criava. Pensava que um marido que batesse na mulher ou um pai que maltratasse o filho cometia um verdadeiro sacrilégio3. Todavia, isso não o impedia de separar completamente a sua vida pública da sua vida familiar: o romano “ideal”, de que Catão queria ser a encarnação, devia ter duas faces, como o deus Jano. Uma face ficava voltada para o exterior: era a do homem, a face virada ao público; a outra, completamente diferente, devia ser conhecida apenas dos familiares. Este dualismo das existências era um dever. Seria “imoral” não lhe obedecer.
Todavia, o próprio Catão, como o seu dito irônico prova, reconhecia que, na prática, os seus contemporâneos não se conformavam de modo nenhum a tal dever. Seria inconcebível, certamente, que a vida familiar, os afetos privados ou mesmo os amores tidos fora do casamento (e já dissemos que não eram condenados de maneira absoluta) não desempenhassem nenhum papel, não exercessem absolutamente nenhuma influência na personalidade, nas escolhas e na conduta diária dos cidadãos. As “matronas” imperiosas não se resignavam facilmente a ignorar toda a vida pública dos maridos e uma pequena história permite-nos entender que a sua curiosidade era, por vezes, punida4. Não é menos verdade que os costumes, na medida em que se revelavam complacentes com esta influência política das mulheres, estavam em contradição com um ideal repetidamente afirmado.
É difícil saber, depois de tantos séculos, qual é a parte que se deve atribuir à ternura, ou mesmo ao amor, na vida pública. Escasseiam demasiados elementos para que possamos pronunciar-nos com total segurança. Os exemplos que podemos invocar constituem exceções e essa foi a razão por que pareceram merecedores de ser conservados e chegaram até nós. Contudo, não estamos completamente desarmados para tentar esta análise. Temos, em primeiro lugar, um mito, o de Coriolano, que pode ajudar-nos a compreender, a tal respeito, a atitude ambígua dos Romanos.
Contava-se que, outrora, pouco tempo depois do estabelecimento da República, quando Roma estava em guerra com os Volscos, um certo Gneu Márcio alcançara uma vitória retumbante sobre o inimigo. Tinha, nomeadamente, tomado de assalto a cidade volsca de Coríolos, o que lhe valera o apelido “triunfal” de Coriolano. Independentemente dos seus méritos, Coriolano era o mais obstinado dos conservadores, o que exasperou o povo contra si e, por fim, provocou o seu exílio. Coriolano refugiou-se junto dos Volscos, aos quais ofereceu os seus préstimos contra a sua própria pátria. Pouco depois, à frente de um exército, acampou diante de Roma e o povo inteiro tremeu. O Senado enviou-lhe uma embaixada para pedir a paz, Coriolano recusou. Uma segunda embaixada não teve melhor sucesso. Recorreram aos sacerdotes, cobertos com as suas vestes cultuais. Foram também mandados para trás. Em última instância, a mulher e a mãe de Coriolano foram encarregadas de implorar ao vencedor e a sua cólera aplacou-se desta vez:
"Os abraços da sua mulher e dos seus filhos, os gritos de desespero soltados pelo cortejo das mulheres, os seus lamentos por ele mesmo e pela a pátria venceram, finalmente, este coração selvagem. Abraçou os seus, em seguida disse-lhes para se retirarem e ele mesmo mandou levantar o campo, afastando-se da cidade." 5
Na história semilendária da República, este é o primeiro exemplo de um drama onde a ternura de um marido e pai e a vontade de um chefe se confrontam. Tito Lívio, no relato que nos faz deste encontro dramático entre Coriolano e os seus, põe a falar a velha mãe, a corajosa, a imperiosa Vetúria, mas são os abraços de Volúmnia, a esposa de quem está separado pelo exílio, que quebram a sua determinação selvagem. E Tito Lívio acrescenta ingenuamente: Os homens, em Roma, não tiveram inveja nenhuma destas mulheres por causa da proeza que realizaram - como a vida estava então isenta de malquerença pela glória dos outros.
Tito Lívio sente, confusamente, que a diligência das mulheres e, mais ainda, o seu sucesso eram “indecentes”, contrários à ordem moral e revelavam um carácter quase monstruoso, como, outrora, as censuras dirigidas pela demasiado famosa Camila ao seu irmão Horácio, que trazia para Roma os despojos sangrentos dos três Curiácios. Não surpreende que a aventura de Coriolano, a sua fraqueza perante as “suas mulheres”, tenha sido, de algum modo, “expiada” (como se tivesse sido um prodígio enviado pelos deuses) pela consagração de uma capela à Fortuna das Mulheres, Fortuna Muliebris, no próprio lugar onde se tinha desenrolado o encontro. Só uma intervenção divina podia explicar e legitimar tal incumprimento da etiqueta social e moral.
O costume antigo de fazer dos casamentos instrumentos de formação ou consolidação das alianças políticas só podia contribuir para refutar, no plano dos fatos, o princípio que excluía as mulheres da vida civil. A jovem noiva, destinada por uma gens a servir de penhor de uma aliança, e os filhos que dava ao marido, em que se unia o sangue de duas famílias, recordavam diariamente ao homem, quisesse-o ou não, os seus compromissos de cidadão, senador e magistrado. Enquanto não houvesse, ou não devesse haver, ternura e amor entre um marido e a sua mulher, o princípio da separação entre as duas vidas de cada homem podia permanecer a salvo. Mas isso exigia qualidades de força, ou, se se preferir, uma dureza de alma. difíceis de manter. Recordemos como o Anfitrião de Plauto, verdadeiro imperator romano, se introduz furtivamente na casa de Alcmena para grande alegria do público, que considera isso uma fraqueza indigna de um magistrado e se diverte a ver um grande da cidade demonstrar sentimentos que um simples burguês não ousaria confessar!
Sabemos como os sentimentos naturais, durante muito tempo reprimidos, foram obtendo finalmente a sua vingança, à medida que a alma romana se humanizou. Esta transformação, acontece no início do século II a.e.c. e está quase concluída ao tempo de Terêncio. Esta é a razão por que Catão, que a ela assistiu na sua idade madura, é uma testemunha privilegiada a seu respeito. As suas admoestações, os escândalos em que interferiu são outros tantos documentos preciosos sobre esta evolução. Catão tinha inevitavelmente de criticar quando os seus contemporâneos demonstravam demasiada complacência para com as suas esposas e agia ainda mais severamente quando o culpado usava o poder que o povo romano lhe outorgava para fazer a corte a uma favorita ou, pior ainda, a um favorito. O caso tinha-se passado alguns anos antes da censura de Catão: L. Quinto Flaminino, o próprio irmão do homem que “deu a liberdade aos Gregos”, no decurso do seu proconsulado, mandou executar um condenado à morte à frente de um jovem de quem gostava. Um dia, o jovem tinha ficado junto de Flaminino e confessara-lhe que, para isso, renunciara a assistir a um combate de gladiadores, apesar de, acrescentara, “ter um grande desejo de o fazer, porque nunca lhe acontecera ver morrer um homem! - Não será isso que te vai impedir”, respondeu o procônsul. Em seguida ordenou que trouxessem um desertor que esperava pela execução e que o decapitassem de imediato6. O fato foi público. De início, com a censura do seu irmão, Flaminino escapou à degradação. Catão, porém, não quis que ficasse sem castigo: este ato de paixão, pensou ele, desonrava quer o homem quer o magistrado e afrontava a majestade do imperium7. Uma vez no cargo de censor, apressou-se a excluir o culpado do Senado.
A influência das mulheres na vida política no tempo dos Cipiões e dos Gracos foi estudada muitas vezes8. Constitui um aspecto daquela “emancipação da mulher” cuja importância já salientámos e que se foi acentuando até ao Império, terminando por dar à sociedade romana a deplorável reputação que se conhece. Mas a primeira mulher que sabemos ter desempenhado realmente um papel importante na história do seu tempo está longe de ser uma debochada. É mesmo considerada uma das mais virtuosas romanas e o seu nome, associado ao do seu filho, ficou célebre. “Cornélia, filha do Africano, mãe dos Gracos” foi a inscrição gravada no pedestal da estátua que lhe foi dedicada9, após a sua morte, no pórtico de Metelo. A história da sua vida tem a auréola da lenda e a sua figura, apesar das calúnias que não a pouparam, é, indubitavelmente, uma das mais nobres e humanas que Roma conheceu.
Comrnélia era a segunda filha de Cipião, o vencedor de Zama. Não sabemos ao certo quando nasceu. Cícero diz-nos que era ainda jovem (adulescens) quando perdeu o marido. T. Semprónio Graco, acontecimento que tem sido datado, por vezes, no ano 154 a.e.c. nesse caso, Caio Graco, o último dos seus filhos, teria nascido após a morte do pai) e, outras vezes, em 148 ou 147. Seja como for. Cornélia era muito mais nova do que o marido. O testemunho de Cícero não deve ser de modo nenhum recusado, independentemente das suas imprecisões10 . Semprónio tinha por ela uma imensa ternura e a lenda conta que ele aceitou a morte para que ela conservasse a vida. De fato, um dia Semprónio viu duas serpentes que se tinham introduzido em casa. Impressionado com este prodígio, consultou os arúspices e estes responderam-lhe que, na realidade, se tratava de um presságio. Se Semprónio matasse a que era fêmea, a sua mulher morreria, se matasse o macho, seria ele a perecer. Semprónio refletiu, pensou que já era idoso, que a sua mulher era jovem e matou a serpente a que estava associada a sua vida. Morreu alguns dias depois. Essa é a história que Cícero nos conta e cuja autenticidade era garantida pela sua fonte, pois o próprio Caio Graco, o mais novo dos filhos de Cornélia, relatara a aventura. As razões que levaram Semprónio a aceitar este sacrifício são dignas de um romano: em primeiro lugar, a sua idade, que tornava a sua morte mais conforme com a ordem da natureza, depois, o respeito que tinha pela memória do Africano, mas tivera certamente outra, que o seu pudor de romano lhe impedia de invocar, e que foi determinante: Semprónio amava Cornélia.
Uma vez viúva, Cornélia quis dedicar toda a sua vida à educação dos seus filhos e à sua volta gerou-se, em breve, um círculo de parentes ilustres. Do casamento, tinha tido doze filhos, mas a maior parte morreu com pouca idade. Não lhe restavam, nesse momento, mais do que dois filhos, Tibério, sem dúvida o mais velho de todos (uma vez que tinha o nome do pai) e Caio, o mais jovem, e uma filha, Semprónia. Esta casou, talvez cerca do ano 152, com R Cornélio Cipião Emiliano, o "segundo Africano”, que era, por adoção, o seu primo coirmão e, pelo sangue, o próprio primo coirmão de Cornélia11. Deste modo, Cornélia tornava-se ilustre, não apenas devido à memória do pai, que continuava a dominar o pensamento político de Roma e cuja herança espiritual iria continuar ativa para além do seu próprio século, mas pelo fato de ter por genro o homem que a destruição Cartago, alguns anos mais tarde, iria tornar famoso, a ponto de ser comparado com o vencedor de Aníbal. Para além disso, a gens dos Sempronii, uma das mais representativas da plebe, perdurava e mantinha o seu vigor por seu intermédio. Os Sempronii e os Cornelii nem sempre tinham sido aliados políticos no passado, mas a influência pessoal que Cornélia podia exercer quer sobre o seu genro quer sobre os seus filhos, que se tinham tornado praticamente chefes das duas casas, era suficiente para garantir uma colaboração fecunda e, ao que parece, durante longo tempo ainda. Assim, não surpreende que, pouco depois a sua viuvez (desde 154, ou apenas mais tarde, em 143, não o sabemos ao certo), tenha recebido um pedido de casamento do rei do Egito, Ptolomeu Evérgeta. Ptolomeu, que estava em guerra com o seu próprio irmão, esperava assegurar a benevolência ativa dos homens de quem a atitude de Roma dependia, graças a Cornélia e às alianças familiares que este casamento lhe iria proporcionar. O rei não tinha contado com o instinto de uma dama romana, a quem a própria palavra realeza era odiosa. É necessário acrescentar que tal união com um “simples rei” teria parecido desonrosa a qualquer patrícia, mesmo que não fosse filha do Africano. Para além disso, Ptolomeu não era um homem sedutor. O cognome de Physcon (Barrigudo) que os Egípcios lhe tinham dado diz-mos o suficiente sobre a sua aparência. Cornélia não acolheu o seu pedido e permaneceu entre os seus.
Bastante culta, tinha presenciado à sua volta as discussões em que participavam os seus filhos, o seu genro e os seus amigos, todos os que formavam o que designamos hoje como o “círculo dos Cipiões” e que contava com os maiores nomes da literatura, da filosofia e da política. Soube rodear os seus filhos dos homens mais brilhantes, os que o seu pensamento corajoso ia, finalmente, comprometer em vias contrárias aos interesses da sua própria classe. Tibério e Caio tiveram por ela, até ao fim, uma grande afeição, ainda que possamos suspeitar que ela nem sempre aprovou os seus projetos.
No entanto, acerca dos últimos anos de Cornélia paira uma grave suspeita e certos autores antigos acusam-na de ter mandado envenenar o seu genro, Cipião Emiliano, com a cumplicidade da filha, Semprónia. Cipião morreu subitamente, em 129, quando todos esperavam que usasse a sua autoridade, que era imensa, para desmantelar a legislação agrária de Tibério Graco. Durante o dia, tinha tomado a palavra diante do povo e do Senado. À noite, acompanhado pela multidão dos seu admiradores, retirou-se para o seu quarto para preparar um discurso que contava pronunciar no dia seguinte. De manhã, encontraram-no morto na cama. O desaparecimento de Emiliano ocorria, aparentemente, tão a propósito para o partido popular, que apoiava Caio Graco, que se falou imediatamente de assassinato sem, no entanto, se ousar desde logo apontar culpados. Mas, pouco a pouco, começaram a ser segredados alguns nomes. Recordaram que Cipião tinha tomado ostensivamente partido pelos assassinos de Tibério e que, ao saber a notícia da sua morte, tinha citado um verso da Odisseia que dizia: Morra como ele quem quer que pretenda fazer o mesmo!
Os laços de família contavam menos para ele, nesta circunstância, do que a fé política. Também não caíra no esquecimento que, no Capitólio, o golpe de misericórdia tinha sido dado a Tibério pelo seu primo coirmão Cipião Nasica, filho da outra Cornélia, a filha mais velha do Africano12. Havia agora, nesta família, suficiente ódio acumulado para que se acreditasse que tudo era possível, tendo-se instalado a convicção de que Semprónia, a filha do homem que sacrificara a sua própria vida para salvar a da mulher, teria tido a horrível coragem de dar o veneno ao seu próprio marido. Teria agido assim, segundo se dizia, não apenas para satisfazer a vingança de Cornélia, bem como a sua, assegurando, ao mesmo tempo (pensava ela), a posição política de Caio, mas também, por razões mais íntimas, a fim de evitar um divórcio inevitável, porque a sua própria esterilidade a tornava odiosa aos olhos do marido13.
É quase certo que estas acusações atrozes, que não parecem ter sido feitas pelos próprios contemporâneos, surgiram apenas na geração seguinte, durante o período em que a lembrança dos Gracos era alvo dos ataques odientos dos aristocratas. Era preciso desonrar para sempre até o nome da sua mãe e da sua irmã, as duas mulheres que os tinham visto crescer e os amaram. Mas todas estas calúnias, que, sem dúvida, não chegou a conhecer, não impediram Cornélia de envelhecer com honra. Após a morte de Caio, retirou-se para a sua casa de campo de Miseno. Até a vista de Roma, cujo solo bebera o sangue dos seus filhos, lhe era odiosa. No seu refúgio, não ficou abandonada. Os melhores espíritos de Roma, os filósofos gregos que começavam então a vir em grande número para Itália, visitavam-na com prazer e ela recebia-os cortesmente14. Mantinha fielmente a memória dos seus filhos e era fiel também à memória do marido, que a tinha amado tanto que preferira a morte a uma vida que ela não pudesse compartilhar.
Envolvida em todas as correntes de pensamento que agitaram o seu século, responsável, em parte, pelos sentimentos e pelo ideal que inspiraram Tibério e Caio e, deste modo, pela crise violenta que marcou o declínio da velha república aristocrática, Cornélia, como mulher respeitosa dos seus deveres de mãe romana, orgulhosa, lúcida e terna, contribuiu para a humanização da cidade. É muito significativo que a sua estátua, erguida no velho pórtico de Metelo, o Macedônico, seu contemporâneo, tenha sido conservada por Otávio no que foi construído em 33 a.e.c. em honra de Otávia e que estava rodeado por um templo de Juno, a protetora das matronas15. É significativa também a comparação com Otávia, que foi, no seu tempo, uma das mulheres cuja influência teve um grande peso na vida política e que tentou, igualmente sem sucesso, assegurar, pela via do afeto e da dignidade, a concórdia entre dois homens cujas ambições os levaram a opor-se em uma luta sem tréguas, sendo um o seu irmão e o outro o seu marido. Cornélia foi considerada, por isso, no início do Império, um exemplo e um modelo. Esta estátua conservada por Otávio era o reconhecimento oficial do papel que se desejava que as mulheres doravante desempenhassem nas lutas da cidade e que já desempenhavam de fato, embora com menos reserva que a mãe dos Gracos.
***
As matronas romanas, sedentas de autoridade, orgulhosas do seu nascimento, usavam todos os meios para influenciar os maridos. Frequentemente, recorriam à religião: tinham tido um sonho, ou assistido a algum presságio, a divindade tinha-lhes falado. Se o seu marido parecia preocupado, logo se dirigiam a alguma vidente e, de regresso a casa, convictas das revelações que acabavam de lhes ser feitas, permitiam-se dar conselhos. Uma palavra, uma observação no momento oportuno, e a sua conjectura, por um feliz acaso, assegurava-lhes a vitória.
Nos primeiros dias de Dezembro de 63 a.e.c., Terência, a mulher de Cícero, presidia, na sua própria casa, como esposa do cônsul, às cerimônias em honra da Boa Deusa. Era o momento em que o cônsul e todo o Senado, que acabavam de ter a prova tão aguardada de que os conjurados reunidos em torno de Catilina eram culpados de alta traição, deliberavam para saber qual seria o destino dos homens que tinham prendido. Deveriam dar-lhes a morte, ou, como propunha César, dispersá-los, com uma boa guarda, pelos municípios, aguardando que os espíritos estivessem calmos e os tribunais mais serenos para os julgar? Mas eis que Terência corre para junto do marido: os deuses falaram, a chama subiu, devoradora, sobre o altar do sacrifício, durante os mistérios da deusa. As Vestais interpretaram o presságio. É necessário agir com energia: que os conjurados sejam executados sem piedade16. É possível que, ao dar este conselho, Terência tenha agido de boa fé e por devoção religiosa. Mas é possível também que, de acordo com as Vestais, tenha querido vingar-se de Catilina, que anteriormente tinha comprometido a vestal Fábia, a própria irmã de Terência. A hipótese é tanto mais provável quanto Terência, como sabemos pelo próprio Cícero, era mais levada a ocupar-se com os negócios públicos do que com os da sua casa e que, no passado, já tinha recorrido a semelhante estratagema. Era no tempo em que Cícero se apresentava às eleições consulares e parece que não o fazia sem hesitações, tão grande lhe parecia o risco. Terência contou-lhe que uma chama milagrosa se tinha elevado sobre o altar onde efetuava o sacrifício. Longe de se envergonhar com a estória, Cícero tinha-a contado no poema que compusera sobre a história do seu consulado. Menos acessível a persuasão, César, na manhã dos idos de Março, não acreditou nas advertências da sua mulher, que tivera, à noite, sonhos funestos, e caiu sob os punhais dos conjurados.
Terência nem sempre tinha inspirações felizes. Se foi realmente responsável pela severidade de que o marido fez prova com os conjurados, também foi um fator na oposição à sua "crueldade”, a qual acabou, finalmente, por provocar o seu exílio, cinco anos mais tarde. Mas há outra circunstância, não menos importante na carreira do marido, em que Terência parece ter desempenhado, de fato, um papel decisivo, para desgraça da própria Roma.
Durante o caso de Catilina, Cícero só tinha de se congratular com a atitude do jovem R Clódio Pulcro, o irmão da Clódia de que recordámos os amores com o poeta Catulo. Ora, dois anos depois, aconteceu que Clódio se enamorou de Pompeia, a mulher de César, e esta retribuía-lhe o afeto. Durante a noite em que se celebravam, na casa de César, os mistérios da Boa Deusa, Clódio pensou introduzir-se entre as mulheres disfarçado de tocadora de lira. Era ainda suficientemente jovem para passar por moça e não tinha barba no queixo. A serva que o introduziu na casa deixou-o por algum tempo em uma sala, pedindo-lhe que a esperasse, que viria em breve buscá-lo. Mas, como se demorava, Clódio quis ir ele mesmo ao encontro de Pompeia. A casa era grande e perdeu-se. Enquanto vagueava nos corredores, outra serva encontrou-o e perguntou-lhe o que queria. Tomava-o por uma das mulheres que deviam assistir aos mistérios, mas Clódio, ao responder, foi traído pela voz. A serva deu o alarme, fecharam-se as saídas, revistaram a casa e Clódio foi descoberto no quarto de uma serva19. Segundo outra versão da estória, pôde fugir a tempo por uma janela, mas foi reconhecido. No dia seguinte, o escândalo rebentou: Aurélia, a mãe de César, apressou-se a divulgá-lo. Um homem tinha assistido aos mistérios, o que era um sacrilégio, e todos sabiam por que razão tinha vindo, à noite, a casa de César. Este fingiu que não compreendera nada do episódio e contentou-se em divorciar-se, mas sem explicar o motivo para tal. Como os mal-educados insistiam, respondeu-lhes que “não se devia sequer suspeitar da mulher de César”. César, devido à sua discrição, ganhou para sempre a afeição de Clódio. Cícero, pelo contrário, iria perdê-la para sempre.
De fato, na sequência do escândalo, Clódio foi citado em tribunal para responder pelo seu sacrilégio. Na sua defesa, Clódio negou tudo; assegurou que, na noite do crime, estava longe de Roma e apresentou testemunhas. Entre estes estava Cícero. Mas, em vez confirmar o álibi, Cícero assegurou que o acusado, nessa noite, estava realmente em Roma, porque ele mesmo tinha tido a sua visita, a respeito de certos assuntos - o que era verdade. Mas o que também era verdade é que Cícero teria podido abster-se de testemunhar. Se o fizera, fora para contentar Terência, extremamente ciumenta em relação a Clódia, que acusava de querer tirar-lhe o marido. Clódia, era jovem, bela e alegre. Era imprudente, também. Via muito um certo Tulo, amigo de Cícero, de quem Terência suspeitava que servia de intermediário. Terência, por conseguinte, teria exigido, segundo se diz, que o seu marido conseguisse a condenação de Clódio com o seu testemunho. Esperava tornar Cícero odioso à jovem, que gostava ternamente do seu irmão (até demasiado ternamente, como relatámos, a crer em Cícero).
A expectativa de Terência revelou-se apenas parcialmente exata. Cícero tornou-se, de fato, odioso a Clódia, bem como a Clódio, mas este não foi condenado. Sob a pressão popular, mas também graças a liberalidades oportunas de que se encarregaram os amigos de Clódio e, acrescentaram as más-línguas, às complacências que Clódia teve para com certos juízes, o tribunal não teve em conta o testemunho de Cícero. Clódio foi absolvido. Daí em diante, Cícero teve de contar com um inimigo temível, cujo ódio lhe foi imprudentemente causado pela inveja de Terência. Mais tarde, quando Clódio conseguiu o exílio de Cícero, com o apoio das tropas de César, que esperavam concentradas no Campo de Marte que se votasse a lei, o rancor de Clódia exerceu-se sobre Terência, que tratou com crueldade20.
Os últimos tempos da República, em que se assistiu à emancipação quase total da mulher, foram aqueles em que as paixões amorosas, as intrigas muitas vezes culpadas, e já não a ternura conjugal, começaram a desempenhar um papel importante na vida política. Passou o século das matronas, que, uma vez viúvas (a grande diferença de idade que existia geralmente entre os cônjuges, aquando de um primeiro casamento, multiplicava as viúvas), recusavam, como Cornélia e as grandes senhoras do passado, voltar a casar. Tendo casado na adolescência para realizar algum acordo político que o seu pai julgava útil, vingam-se depois, escolhendo elas mesmas o seu novo marido, de acordo com os desígnios da sua ambição ou, mais frequentemente talvez, as preferências do seu coração. Em geral, estas grandes senhoras são excelentes mulheres de negócios. Já não estando casadas, são totalmente livres para gerir a sua fortuna a seu modo, liberdade de que nunca gozaram desde o início da sua vida conjugal. Os homens procuram-nas de preferência às mulheres jovens, porque são mais ricas e também porque conseguiram, em geral, atingir uma situação de destaque na sociedade, estando em condições de contribuir para a carreira política do seu novo marido - talvez também as prefiram, por vezes, porque a sua personalidade se desenvolveu e os homens apreciam nelas as companheiras que sentem ser suas iguais.
Em geral, as questões de dinheiro têm uma especial importância nas relações conjugais desta época. O amor, o dinheiro e a ambição são três forças cuja ação concorre para complicar muito as relações entre homens e mulheres, o que explica a fragilidade de casamentos que era fácil romper, bem como a complexidade das intrigas que se emaranham inextricavelmente.
A história do casamento de Cícero e Terência, uma das que podemos acompanhar menos mal, graças à Correspondência (ou, pelo menos, o que dela nos foi transmitido), ilustra bastante bem estes dramas em que se enfrentam lamentavelmente os sentimentos mais profundos com os interesses mais sórdidos.
Terência, apesar dos seus defeitos evidentes, do humor difícil, do gosto de mandar, da independência de comportamento, parece ter sido muito amada, e durante muito tempo, pelo marido, cuja natureza mais sensível e falta de autoconfiança (que está na origem, sem dúvida, daquela vaidade embaraçosa que o leva a afirmar o seu mérito mais por temor do que por arrogância) se contentava com o caráter da sua companheira. Atentemos nesta confissão, em uma carta escrita do exílio: "Eis-te agora infeliz, perseguida..., tu, Terência, junto de quem todos vinham procurar auxílio!”21 E esta não é uma afirmação falsa. Todos os que esperavam uma ajuda de Cícero sabiam bem que não havia melhor intermediária nem mais poderosa que Terência22. Perante a catástrofe que os atinge a ambos, ela não faz recriminações. “É tudo culpa do destino”, diz ela, enquanto o marido faz o seu mea culpa e lamenta não ter sido mais prudente23. Parece até que a energia dela foi estimulada pela desgraça. Toma em mão os interesses de Cícero com a maior determinação, o que não acontece sem alguns conflitos com o seu cunhado24. Resolve não recorrer à ajuda material dos amigos de Cícero. Vende uma casa alugada para fazer face às dificuldades financeiras criadas pela confiscação dos bens do exilado. Ou seja, movimenta-se bastante e com utilidade, enquanto, de longe, ele lhe escreve com ternura: “Terência, tu, a mais devotada, a mais excelente das mulheres”25. Aparentemente a harmonia é total. Contudo, em uma carta que dirige a Ático, o seu confidente mais secreto, escapam algumas palavras a Cícero. Escreve-lhe ele, no início do mês de Outubro de 57: “As minhas outras preocupações são mais confidenciais. Tenho o afeto do meu irmão e da minha filha...”26 E de Terência? Já não o tem, então? Passada a crise, estes dois seres, que, obviamente, não se movem no mesmo plano e são, no mais fundo de si mesmos, tão diferentes quanto é possível, irão reencontrar-se sem prazer?
Possuímos poucas informações sobre os sentimentos recíprocos de Terência e do marido durante os anos que seguiram ao regresso de Cícero. Continua a ser, na aparência, um “bom” casal, mas podemos pensar que, afinal, a atitude autoritária de Terência e, talvez, os conselhos que, como é seu hábito, tenta dar ao cônsul, um tanto desiludido e enfrentando inúmeras dificuldades políticas, já não são aceites com a mesma complacência. No entanto, mais uma vez, só descobrimos indicações precisas a partir do ano 50. durante o governo de Cícero na Cilicia, e apercebemo-nos então de que a situação se alterou.
Em primeiro lugar, há o casamento de Túlia. A filha bem-amada de Cícero tinha perdido o primeiro marido e um segundo casamento, com Fúrio Crassípede, acabava de terminar em divórcio. O pai quer casá-la uma terceira vez, mas é necessário encontrar um bom partido e o momento é mal escolhido. Cícero está longe de Roma. O assunto dificilmente pode resolver-se por carta. Um visitante que o procônsul recebe na sua província dar-lhe-á, talvez, o meio para tudo se solucionar: Tibério Cláudio Nero, um jovem aristocrata (que irá ser, um pouco mais tarde, o primeiro marido de Lívia), veio vê-lo e ambos encaram a possibilidade de uma aliança. Cícero informa logo por escrito a família que ficou em Roma. Mas, quando a carta chega, Terência já tinha tomado uma decisão: Túlia casará com Dolabela, que soube conquistar, com as suas boas maneiras, quer a sogra quer a noiva. Não será um casamento à maneira antiga, uma união de conveniência ou de razão, mas um “casamento à moda”, em que o noivo faz a corte, mostrando-se terno, dócil e apressado27. Quanto a Cícero, este vê nesta situação mais espinhos do que rosas, porque tal aventura cria-lhe bastantes dificuldades e compromete as alianças políticas com que julgava poder contar. Não recrimina ninguém, escreve mesmo a Ápio Cláudio, a quem o casamento de Túlia com Dolabela corre o risco de melindrar: “tudo isto foi feito sem a minha participação, mas, como estava muito longe, escrevi aos meus para não me consultarem... E se tivesse lá estado? Pois bem, teria dado a minha aprovação”28. Tê-la-ia dado, com certeza, cedendo às importunações de Terência e à inclinação de Túlia. No que dizia respeito a Ápio Cláudio, não temia aceitar uma responsabilidade que salvava a sua honra de chefe de família. Mas os seus verdadeiros sentimentos eram diferentes. Quando, com maior liberdade, escreve a Ático, adivinhamos pelas suas reticências que não aprova de modo nenhum as iniciativas da mulher. O carácter de Dolabela, que irá revelar-se o mais detestável dos maridos, preocupa-o desde este momento. Cícero, da sua remota província, avalia mais objetivamente do que nunca as atividades de Terência e está em vias de perder toda a confiança na sua capacidade de julgar. O que não era senão uma leve mágoa, ao tempo do regresso do exílio, agrava-se dia a dia, talvez mesmo contra a vontade do velho homem de Estado.
Este casamento de Túlia, este casamento absurdo que acabará por provocar a morte dela, não é o único incidente que o perturba. Terência tinha um intendente que muito estimava, o liberto Filotimo. Este tinha-se tornado no homem de negócios da família. Depois da condenação de Milão (exilado por ter assassinado Clódio), quando Cícero tentou resgatar, em segredo, os bens do condenado a fim de salvar, o melhor que pudesse, a fortuna do seu amigo, formara com Filotimo uma sociedade em que, naturalmente, o liberto desempenhava o papel de intermediário por conta do seu senhor, que não podia aparecer ostensivamente. Ora, quando Filotimo foi a Laodiceia para prestar contas a Cícero, lançou-se em explicações tão complicadas e confusas que Cícero compreendeu, sem lugar a dúvidas, que o outro o tinha enganado. Mas, o que era mais grave, teve a impressão, com ou sem razão, que Terência não era estranha ao assunto. Sugere-o em uma carta a Ático, a quem encarrega de tirar tudo aquilo a limpo29. Três anos mais tarde, a 6 de Agosto de 47, a acusação é explícita: Terência, diz Cícero, devia enviar ao marido, da parte de Ático, uma carta de câmbio de 12000 sestércios. Ora, só enviou 10 000! “Se foi capaz de obter um lucro tão pequeno de uma soma tão diminuta, pense-se no que terá feito com importâncias maiores.”30 Na realidade, este diferendo, bastante pequeno em si mesmo, não teria importância se não fosse o último episódio de uma longa crise. Cícero não se afastou de Terência, porque ela lhe extorquira 2000 sestércios (uma soma da ordem dos 300 euros), mas porque isso ocorria depois de muitos outros vexames. Terência, compreendendo que o seu marido nunca se tomrnaria na primeira figura do Estado e renunciando às intrigas de antigamente, abandona-se por completo à paixão do dinheiro. Presumimos que tenha organizado a sua própria vida, prodigalizando todos os cuidados à administração dos seus bens, o que Cícero não pensaria de modo nenhum censurar-lhe agora, quando não o fizera antes, se isso não fosse um sinal do afastamento em que o mantinha, ou seja, do divórcio de fato que precedeu em vários anos a ruptura legal do seu casamento.
Não temos de julgar este drama. Que Cícero teve sempre tendência para gastar mais dinheiro do que era razoável, isso é certo. Terência julgou que deveria separar cada vez mais completamente os seus interesses dos do casal, o que é talvez legítimo, ainda que o tenha feito com uma inabilidade por vezes ofensiva, indo até à duplicidade. Mas, de fato, o fim da sua ternura precedeu esta questão, não é a sua causa.
Houve quem supusesse também que a nobre e orgulhosa Terência não aprovara as hesitações do velho cônsul em juntar-se a Pompeu e ao Senado “legítimo”, nem as cautelas que usava em relação César, como se tentasse preparar um eventual perdão. Por que razão deveria Terência, que estava diretamente interessada na revolução que se desenrolava sob os seus olhos, ter sido mais indulgente ou mais compreensiva do que tantos historiadores modernos que dirigem a Cícero as mesmas críticas?
Tudo isto é provavelmente verdade. A política e os interesses aliaram-se para acabar de destruir esta união, que, depois de ter durado mais de trinta anos, terminou em condições particularmente penosas. Quando regressa, depois da derrota dos pompeianos, irá Cícero reencontrar-se com Terência? Ela propõe-lhe juntar-se a ele em Brindes, mas ele dissua-de-a. Para que serviria esta viagem? Para quê repetir o regresso do exílio com a sua alegria e as suas ilusões, a que se seguem dias amargos, para quê reabrir as antigas feridas? Mas, como acontece com os fracos, Cícero não dá as verdadeiras razões:
“Não consigo imaginar o que possas fazer para mim, escreve ele a Terência. Nem se põe a questão de te pores a caminho nestas circunstâncias. A estrada é longa, não é segura e não vejo para que serviria tu vires.” 31
A sua decisão já está tomada. Recusa retomar esta relação sem ternura, que já não é senão mentira e desconfiança mútua. Todavia, preocupa-se com as consequências negativas que uma separação legal pode ter para os seus filhos. Escreve ao seu intermediário habitual. Ático, e recomenda-lhe que proceda de modo a que Terência redija um testamento em favor de Túlia e do jovem Cícero. “As circunstâncias tornam aconselhável”, diz-lhe ele, “que ela se preocupe em fazer o necessário em prol daqueles a quem o deve”32.
É nesta atmosfera que se dá (no mês de Agosto) o incidente da carta de câmbio, em que Cícero crê ver a prova dos “desvios" que a sua mulher faz em seu prejuízo. Verificamos que isso não foi a causa determinante de um divórcio que há muito era inevitável. Em Outubro. Cícero envia uma carta à mulher, a última:
"Julgo que chegaremos à propriedade de Túsculo. Que tudo esteja preparado. É possível que sejamos em grande número e que aí façamos uma estada bastante longa, pelo menos é o que eu penso. Se não há bacia no banho, ponham lá uma. Preparem tudo o que for necessário para vivermos e cuidarmos de nós. Adeus."33
Assim terminou, com uma carta que mais parece dirigida a uma intendente negligente do que a uma esposa, a vida conjugal de Cícero e de Terência.
Ninguém ignora que Cícero voltou a casar de imediato e que, por sua vez, Terência casou com o “cesariano” Salústio, inimigo jurado do orador. Seria preciso que as convicções contra César de que Terência pareceu ter dado provas não fossem suficientemente sólidas - talvez só tenham sido expressas em reação contra a atitude ambígua de Cícero - para não impedirem esta união. A verdade é que Salústio, cumulado de benesses por César, era um dos personagens mais ricos deste tempo e pôde dar-se a um luxo apenas sonhado por Cícero: possuir em Roma uma vila rodeada de jardins magníficos. Com tal marido, Terência não teria mais a recear que lhe pedissem dinheiro!
Cícero, por seu lado, teve a fraqueza de, aos sessenta anos, casar em segundas núpcias com uma moça muito jovem, que era sua pupila e cujos bens administrava. O casamento teve lugar nos últimos meses de 46 ou no início de 45 e não durou tempo nenhum. A partir do mês de Julho de 45 já se fala de divórcio. Os contemporâneos interrogaram-se sobre as razões ou motivos que levaram Cícero a ter uma conduta tão estranha. Alguns viram nisso uma chama de amor senil, outros (entre os quais o seu secretário, que era simultaneamente seu amigo íntimo, Tirão) asseguram que Cícero pensou neste meio para não prestar contas da tutela e pagar as suas dívidas35. É difícil, agora, descobrir a verdade. Sabemos apenas que Cícero, após o divórcio, pensou em voltar a casar e que hesitava entre vários partidos, nos quais de modo nenhum se incluía a sua pupila, Publília36. A ideia só lhe surgiu depois. Será de imaginar que a própria jovem lhe sugeriu e que ele aceitou, pensando que, afinal, esta solução lhe permitia sair-se bem do problema, evitando ter de restituir a herança de que era apenas depositário? Note-se que, segundo o testemunho de Plutarco, Terência, para humilhar Cícero, afirmava que ele tinha casado com Publília “por desejar a sua juventude”37 e que Tirão, numa intenção completamente oposta, evidentemente apologética, invocava o interesse material. Como os juízos morais que nos parecem hoje evidentes estão longe de se ter imposto sempre com a mesma evidência! Aparentemente, Tirão considerava menos vergonhoso casar com uma moça pelo seu dinheiro do que pela frescura da sua juventude. Expressando-se como romano do seu tempo. Tirão tinha razão.
Afinal, Cícero não sai diminuído da aventura, até porque não hesitou em romper este casamento desigual e em renunciar, ao mesmo tempo, ao proveito que se suspeitava que pretendia. A razão da ruptura foi, inegavelmente, a atitude de Publília, que não soube dissimular a alegria secreta que lhe causou a morte da sua enteada. Cícero, entregue completamente à dor de ver desaparecer Túlia, sem dúvida o único ser que sempre lhe tributou uma ternura verdadeira, não pôde suportar a presença da jovem e pouco depois divorciou-se.
É possível que a resolução a seu favor de um caso de herança, entretanto ocorrida, lhe tenha fornecido os meios materiais para se libertar?. Mas se se libertava, não seria porque esta união lhe era penosa? Não seria porque Terência o tinha caluniado, dizendo que ele não estava apaixonado por Publília? Ao mesmo tempo - uma vez que teria podido ficar com tudo, com o dote da sua nova esposa e com os rendimentos do testamento não pretenderia significar que não subordinava tudo ao dinheiro, mas que tentava harmonizar, na medida do possível, as exigências do seu coração e as necessidades da sua fortuna?
O seu coração pertencia inteiramente a Túlia. Não concordamos com os caluniadores que, por ódio ao velho homem de Estado, ousaram insinuar, desde a Antiguidade, que as suas relações eram culposas. Recordaremos apenas que a amava o suficiente para que Publília tivesse ciúmes dela. Tê-lo-ia sido, por sua vez, se não tivesse sentido pelo seu velho marido uma destas paixões que as maiores diferenças de idade são insuficientes para anular, um amor como o que, alguns anos antes, uniu até na morte Júlia, a filha de César, ao seu marido Pompeu? É bem provável que, perante Publília, Cícero “se tenha deixado levar”. Tinha um hábito tão antigo de se submeter a Terência! Talvez a juventude da sua pupila lhe parecesse prometer (sem qualquer motivo) mais liberdade, ou uma tirania mais branda. Todavia, esta união não conseguiu residir a prova da realidade. Um psicólogo poderia falar de tentativa de "substituição", tornando-se a pupila em companheira, no lugar da filha, ate ao dia em que o desaparecimento de Túlia fez desencadear o conflito e tornou intolerável a Cícero mesmo a visão daquela que não podia senão odiar, pela mesma razão que o tinha levado a amá-la. Suspeitamos que em todo o drama o dinheiro, a ambição (exceto, talvez, do lado de Publília, cujos motivos foram indubitavelmente complexos duraram muito pouco, independentemente do que Tirão tenha dito para defender a memória do seu mestre, de acordo com as ideias do seu tempo. Toda esta história fica bastante para além das mesquinhices mundanas. Ela mostra-nos um Cícero que não age já como "autor" nem como "cônsul", mas apenas como homem, e isso anula a vontade de ajuizar o seu comportamento de qualquer modo que seja.
***
Os dramas do amor e do dinheiro não eram raros, certamente, quer em Roma, onde a situação social dos seus heróis lhes dava uma maior importância do que em outros lugares, devido às consequências que provocavam em todo o mundo, quer também nas pequenas cidades de província da Itália, onde as paixões não eram menos vivas nem as intrigas menos sutis do que foram em outros tempos.
Uma alegação feita por Cícero permite-nos aceder às circunstâncias de um processo que constituiu, em 66 a.e.c., uma “causa célebre”. O herói é um cavaleiro romano, Aulo Cluêncio Hábito, que pertencia à alta burguesia da pequena cidade de Larino (cidade da vertente adriática, aproximadamente à latitude de Roma). A história é extremamente complicada, põe em jogo uma grande quantidade de personalidades e quase todas as famílias notáveis de Larino, que, como as grandes gentes de Roma, se aliavam naturalmente entre si sem temer as consequências incertas da consanguinidade.
O réu é Cluêncio. Tem de responder pela acusação de assassinato de um certo Opiânico, morto seis anos antes, no exílio, depois de ter sido ele mesmo condenado por tentativa de assassinato e cujo acusador, aquando do seu processo - assunto que fez escândalo no seu tempo, porque tinha sido julgado por um tribunal manifestamente corrupto -, não era outro senão Cluêncio. Assistimos então, em 66, ao último ato de uma série de vendettas muito tenebrosas, na medida em que são muito estreitas as relações familiares que unem Cluêncio e Opiânico. Na realidade, na origem de todo o drama está uma mulher, uma “grande dama” de Larino, chamada Sássia, a própria mãe de Cluêncio. Esta Sássia, que casou na juventude com o pai de Cluêncio, dele tinha tido dois filhos, o cliente de Cícero e uma moça, Cluência, provavelmente um pouco mais nova. Cluêncio pai morreu em 88, tinha o filho quinze anos. Pouco tempo depois, a jovem Cluência casava com um primo, Aulo Áurio Melino, também de excelente família. Dois anos mais tarde, Melino repudiou a mulher: há algum tempo, era amante da sogra, que, segundo Cícero, tinha feito tudo para obter o afeto do genro, um jovem fraco e incapaz de opor-se à sedução de uma mulher experiente e impudica. Dentro em pouco, e apesar do escândalo, Melino, uma vez livre, casou com Sássia.
Este casamento não durou muito tempo, porque Melino, que se envolvera em caso de herança bastante complexo para defender os direitos de um seu primo que fizera desaparecer um parente pouco escrupuloso, foi pouco depois assassinado por aquele. O culpado deste caso era Opiânico. Para cometer estes dois crimes e para escapar, em seguida, à punição que a opinião pública de Larino exigia, Opiânico tirou partido das perturbações que agitavam então a Itália - era o tempo da Guerra Social, o grande levantamento dos montanheses dos Apeninos contra Roma. Juntou-se a Sila, responsável pela repressão, e regressou a Larino como vencedor. Ei-lo a desempenhar na pequena cidade o mesmo papel que o ditador tinha em Roma: proscreve e manda executar os seus inimigos, ou seja, os que criticam os seus assassinatos, e passa a dominar a vida política. Enriquecido com as heranças que os seus crimes lhe valeram, pensa em casar com Sássia, a viúva da sua vítima. Era o meio para aumentar ainda mais a sua fortuna, ao passar a ser o chefe de uma das mais importantes casas da cidade. Sássia não sente nenhuma repugnância por esta união, nem por este candidato manchado pelo sangue do homem que amou. Levantou, no entanto, uma objeção. Opiânico tinha três filhos, nascidos de três casamentos anteriores e, confessou, esse era o único obstáculo. Providencialmente, duas destas crianças, que eram ainda pequenas, morreram uma a seguir à outra e Cícero não hesita em afirmar que foram mortas pelo pai, o que é talvez verdade. Se o terceiro ficou vivo, foi com certeza porque era aparentado com Áurio Melino, por parte da mãe, e, assim, seria possível um dia reunir na sua pessoa a fortuna das várias casas. Aliás, era prudente assegurar alguma descendência, porque nada garantia que a união de Sássia e Opiânico fosse fecunda.
Cícero alude ainda a outros assassinatos. Foram morrendo sucessivamente todos os parentes e aliados de Opiânico, filhos dos numerosos casamentos celebrados entre estas diferentes famílias. Opiânico não hesitou mesmo em seduzir uma das suas parentes, que esperava um filho, tendo o marido acabado de falecer, e, pagando-lhe uma grande soma, conseguiu que ela eliminasse um herdeiro incômodo, antes mesmo de nascer!41 Depois disso, casou com ela e deu-lhe um filho. Tudo isto passou-se, obviamente, antes do casamento com Sássia, que foi o último contraído por Opiânico e coroou a sua carreira criminosa. Por fim, também tentou assassinar Cluêncio, o cliente de Cícero, o filho sobrevivo de Sássia, e, por conseguinte, depositário de uma parte da fortuna familiar. Cluêncio não tinha feito qualquer testamento. Opiânico sabia-o. Em caso de acidente, Sássia seria a sua herdeira legal. Mas, desta vez, Opiânico falhou e Cluêncio fê-lo comparecer em tribunal. Foi condenado e vivia, desde então, no exílio. Teria sido aí que, segundo a acusação, Cluêncio o teria seguido e, por fim, envenenado. É desta acusação que Cícero o defende. Ora, a alma da acusação, aquela que move céu e terra para conseguir a condenação de Cluêncio, não é outra senão Sássia, a sua própria mãe! Para tal, compra testemunhas, tortura os escravos, vem pessoalmente a Roma e recorre à magia e aos bruxedos (é, pelo menos, o que Cícero afirma) para satisfazer o seu ódio pelo filho42. Neste momento, já não é a avidez que a domina, nem mesmo sede de autoridade, mas a vingança, e Cícero tem razão em perguntar se ela ainda merece a designação de mãe.
Cluêncio talvez não estivesse inocente do crime de que era acusado. O seu advogado confessará mais tarde que, em todo este assunto, “lançara poeira aos olhos” dos juízes. Mas os fatos que relata, esta atmosfera de violência, cupidez, desejo e ambição em que se “acertam as contas” de maneira atroz, depois de muitos anos de dissimulação, tudo isso é sem dúvida bem real. Se Opiânico fosse o único culpado de todas estas maquinações, a maldição ter-se-ia extinguido com ele, mas encontrou em Sássia uma digna companheira. Os crimes do passado não causam qualquer remorso; preparam apenas as violências futuras.
Poderíamos pensar que esta história, que deve ao talento de Cícero ter-se tomado num drama clássico nas escolas dos retóricos, desde a Antiguidade, foi apenas uma aberração excepcional de alguns monstros. Contudo, podemos perguntar-nos se este episódio “patológico” não é, no fundo, o excesso mórbido de uma situação quase normal, se a própria forma desta sociedade, fechada sobre si mesma, dentro de cada cidade, na Itália ou nas províncias, não favoreceria dramas deste gênero. O dinheiro e as alianças familiares, com as promessas de herança que geravam, desempenhavam neles um papel considerável e podia tornar-se irresistível a tentação de antecipar os acontecimentos desejados. Para além disso, as mulheres, uma vez libertas dos constrangimentos que oprimiram a sua infância, davam, de súbito, livre curso às suas paixões e já não conheciam limites para satisfazê-las. A impotentia muliebris - a incapacidade das mulheres para se controlarem - é uma expressão que aparece
constantemente sob a pena dos escritores e não é, por certo, uma mera “ideia feita”. A leitura dos romances gregos dos séculos II e III d.e.c.43 e as novelas inseridas por Apuleio nas Metamorfoses dão-nos uma imagem singularmente precisa das intrigas sangrentas que, por vezes, dilaceravam as famílias e que tinham por origem algum “capricho” feminino.
Lembremo-nos, por exemplo, que a carreira de Catilina teve um episódio semelhante à história do casamento de Opiânico e de Sássia. Após uma juventude tempestuosa e um primeiro casamento de que nasceu um filho, Catilina apaixonou-se por uma jovem chamada Aurélia Orestila. Esta mulher, que pertencia à mais alta nobreza e “na qual - diz Salústio -, exceto a beleza, nenhum homem honesto encontrou nunca nada para louvar”44, exigiu, diz-se, a eliminação do enteado incómodo e, acrescenta ainda Salústio, foi em uma casa onde se instalou o vazio com o assassinato de um filho que tiveram lugar estas núpcias criminosas.
Tais extremos eram felizmente raros. Catilina, a acreditarmos na tradição, transportou consigo até ao último dia o remorso do seu crime e houve quem explicasse assim a verdadeira demência que o levou a formar uma conspiração destinada desde o princípio ao malogro.
A volta de Catilina, levadas na tormenta deste drama, aparecem algumas mulheres, entre as quais se destaca uma certa Semprónia (descendente, talvez, da Semprónia que foi mulher de Cipião Emiliano), de que Salústio nos deixou um retrato forte:
"Com o seu nascimento e a sua beleza, o seu marido e os seus filhos, esta mulher tinha apenas que agradecer à sorte. Conhecedora quer das letras gregas quer das latinas, tocava cítara e dançava com mais arte do que convém a uma mulher honesta, sem contar muitos outros talentos associados ao deboche. Para ela, nada tinha menos valor do que a honra e o pudor. Não se poderia dizer se atribuía menos importância à fortuna ou à reputação. Escaldante de sensualidade, era mais frequente ser ela a solicitar os homens do que ser solicitada por eles. Já muitas vezes tinha traído a sua palavra, negado solenemente uma dívida, cometido assassinatos. O vício e a miséria precipitaram a sua queda. No entanto, destacava-se pelo seu espírito: sabia fazer versos, encontrar a palavra certa para despertar o riso, era capaz de uma linguagem modesta, terna ou provocante, em suma, havia nela tanto de finura como de encanto."45
Semprónia não se contentou em ser a Egéria dos conjurados, mas prestou-lhes uma ajuda ativa, por exemplo, emprestando a sua casa para os encontros organizados entre os embaixadores alóbrogos e os principais lugar-tenentes de Catilina. Semprónia - viúva, ao que parece, ou talvez divorciada, nesta altura - aproveitou a ausência do seu filho Décimo Júnio Brutus (que será, mais tarde, um dos assassinos de César) para facilitar estes encontros, porque este ter-se-ia oposto, com certeza, a tais manobras.
Semprónia, apesar de todas as taras, pelo menos permaneceu fiel aos seus cúmplices. Não aconteceu assim com outra “amiga” dos conjurados, uma certa Fúlvia, que pertencia também à alta nobreza, mas vivia, na realidade, como uma cortesã, mantida por um amante, Q. Cúrio, que os censores tinham excluído do Senado devido aos inúmeros escândalos em que estivera envolvido. A sua ligação era já antiga quando se organizou a conspiração, mas Fúlvia começava a cansar-se, até porque Cúrio carecia bastante de dinheiro e os seus presentes se tornavam cada vez mais raros. Como Fúlvia se lhe recusava, um dia começou a prometer-lhe mundos e fundos, ao mesmo tempo que a ameaçava com o punhal, se não aceitasse continuar as suas relações... a crédito.
Com a curiosidade desperta por esta mudança brusca, a dama não teve nenhuma dificuldade em suscitar confidências ao seu amante, que lhe revelou qual era a natureza das suas esperanças: Catilina ia tomar o poder e, quando estivesse à frente do Estado, saberia recompensar os seus amigos! Fúlvia, estupefacta, não pôde guardar para si durante muito tempo o que acabava de saber. Começou a espalhar afirmações misteriosas, anunciando a quem queria ouvi-la que uma grave ameaça se preparava contra Roma. mas sem pronunciar nenhum nome. Tudo isto se passava durante as eleições consulares e Salústio garante-nos que estes rumores contribuíram para assegurar a eleição de Cícero. Este, logo que entrou em funções, teve como primeira preocupação sondar Fúlvia, sempre com falta de dinheiro, e fez dela sua informadora. Cúrio, devidamente admoestado pela amante, não hesitou em trair os conjurados46. Dia a dia, por intermédio de Fúlvia, Cícero tomou conhecimento dos propósitos dos amigos de Catilina, dos seus planos e das suas esperanças, e todos ficavam surpreendidos por vê-lo assim tão bem informado. Devemos, no entanto, fazer justiça a Cúrio e a Fúlvia: leais a quem lhes pagava, tomaram a iniciativa de prevenir o cônsul assim que souberam do plano de alguns conjurados para o assassinar no dia seguinte. Em plena noite, Fúlvia correu a casa de Cícero e avisou-o para se precaver. De manhã, quando os dois homens encarregados da tarefa se apresentaram à sua porta, como se viessem cumprimentá-lo, não puderam entrar47.
***
Nem todas as histórias de amor em que política e paixão se associaram, durante estes últimos anos da República, são assim tão sórdidas. Durante este período conturbado, houve mulheres que souberam ganhar ascendente sobre aqueles que amaram, mas de que não se aproveitaram para fins criminosos ou inconfessáveis, e outras que foram levadas a ações atrozes, mas a cuja conduta não faltava grandeza.
As primeiras foram, provavelmente, em maior número. Eram meras intriguistas, que gostavam de pensar que, do fundo da sua alcova, decidiam os assuntos do Estado, mas, em geral, levadas pela vaidade, eram manobradas por homens que se serviam delas para progredir na carreira. É o caso daquela Précia de que nos fala Plutarco. Na época em que estava “no auge da sua beleza”, tinha garantido toda uma coorte de personalidades influentes, ao não conceder os seus favores senão com um propósito deliberado. Pouca escrupulosa quando se tratava da sua conduta pessoal, mas sendo inteligente e mulher de espírito, tinha reputação de ser uma amiga segura e, se decidisse fazer a fortuna de algum homem por quem tivesse simpatia, alcançava os seus desígnios. Bem cedo contou entre os seus amantes Cornélio Cetego, que estava então no apogeu do seu poder. A partir de então, diz Plutarco (que exagera um pouco), “toda a cidade esteve nas suas mãos, porque nada se fazia no Estado que Cetego não aprovasse e sem que Précia desse o seu parecer a Cetego”.
Lúculo, que desejava ardentemente ter um comando no Oriente, onde Mitridates iniciara as hostilidades contra Roma, começou a fazer a corte a Précia, cumulando-a de presentes e envolvendo-a de atenções e lisonjas. Imediatamente Cetego, até então hostil a Lúculo, cuja personalidade desagradava a muitos, mudou completamente de atitude. Graças a si, os obstáculos desapareceram e Lúculo foi encarregado de dirigir a guerra48.
É de supor que o caso de Précia não fosse único e que muitas outras mulheres, desejosas de provar a si mesmas o poder dos seus encantos, intrigassem do mesmo modo junto das grandes figuras. No entanto, dos seus esforços e sucessos, os historiadores não guardaram memória. É apenas por acaso, por um testemunho isolado, por exemplo, que podemos aperceber-nos, por vezes, por trás dos acontecimentos da “grande história”, do jogo destas influências a que Cícero chamou com graça as “intercessões noturnas".
Naturalmente, a demasiado famosa Clódia. cujos dolorosos amores com o poeta Catulo já evocámos49, não deixou de utilizar o seu inegável poder de sedução ao serviço das causas políticas que defendia. Mesmo durante o seu casamento com Metelo, desenvolveu todos os esforços para servir os interesses do irmão, P. Clódio, e, uma vez livre, podemos certamente imaginar que continuou a ajudá-lo tanto quanto podia. Todavia, é-nos hoje difícil avaliar qual foi, exatamente, o seu papel nas intrigas complicadas que se desenrolaram então. No entanto, adivinhamos que os seus conflitos com M. Célio Rufo, que foi talvez seu amante e com certeza seu admirador apaixonado, depois do reinado de Catulo, não tiveram certamente por causa única uma zanga de apaixonados. Parece evidente que a realidade foi mais complexa e sombria, apesar das habilidades oratórias de Cícero, que defendeu a causa de Célio contra os acusadores apresentados por Clódia.
Clódia, após a zanga com Célio, acusou-o de ter tentado envenená- -la, o que parece ser falso. Mas acusou-o também, com mais razão, de ter participado em uma conspiração, na qual provavelmente ela mesma esteve envolvida. Em 58, os Egípcios, uma vez mais, revoltaram-se contra o seu rei. Tratava-se de Ptolomeu Auleta, que, sem tardar, abandonou o lugar e, de imediato, se refugiou em Roma, onde, com o apoio de Pompeu, tentou obter a cooperação do Senado, multiplicando as dádivas e, sobretudo, as promessas para o dia em que fosse reconduzido ao trono. A sua filha Berenice, que os Alexandrinos tinham colocado no seu lugar como rainha, queria fazer ouvir a sua voz, tendo enviado uma embaixada, que desembarcou em Pozzuoli. Aí, os embaixadores foram molestados por um bando de jovens, entre as quais se encontrava precisamente Célio. Algum tempo mais tarde, Díon, o chefe da delegação, que, em Roma, era hóspede de Luceio, um amigo de Pompeu, foi envenenado e morreu. No processo de Célio, os acusadores afirmaram que o autor deste assassinato era o seu adversário e disseram mesmo - confidência singularmente perigosa para Clódia - que Célio pedira dinheiro emprestado a Clódia para montar o esquema. Acrescentaram que, na verdade, Célio não revelara à amiga as suas verdadeiras intenções, mas, dada a intimidade das relações entre Célio e Clódia nessa época, seria pouco provável (e Cícero usou de todos os meios para o mostrar) que esta ignorasse a conspiração. Ficamos com a impressão de que, se Célio desempenhou o papel principal com o dinheiro de Clódia, foi por ter sido simplesmente o instrumento da sua amante. Por trás de Clódia estava Clódio, que se servira do ascendente da irmã sobre este jovem estouvado para lançá-lo em uma aventura maquiavélica.
Ptolomeu Auleta era, na verdade, ostensivamente protegido por Pompeu, que esperava ser incumbido pelo Senado da vantajosa missão de repor o rei no trono. Ora, isso era o que Clódio não queria. No momento em que Pompeu parecia prestes a atingir os seus fins, foi ele que suscitou obstáculos de ordem religiosa e impediu que se tomasse uma decisão. Mas também não queria que os embaixadores de Berenice pudessem informar o Senado sobre a real situação dos problemas no Egito, porque queria para outros o papel que Pompeu ambicionava. Nesta história, Clódio servia, de fato, os interesses de César, e foi este quem afinal colheu os benefícios da expedição organizada ilegalmente, algum tempo depois, pelo procônsul da Síria, Gabínio, e quem colocou o Egito na estreita dependência dos Romanos. Tais eram as vias singularmente tortuosas da política, nestes últimos anos da República50.
Após a morte de Clódio, assassinado na Via Apia por gente de Milão, Clódia desaparece da cena política, ou porque toda a sua energia se extinguiu com o fim deste irmão bem-amado, ou porque não lhe sobreviveu muito tempo.
Desonrada para sempre pelos insultos que Cícero lhe lançou e pelas maldições proferidas contra ela por Catulo, Clódia é o tipo da romana corrompida, indigna dos seus grandes antepassados, e não houve acusação, por abominável que fosse, que não tivesse crédito junto dos historiadores51. Todavia, esta reputação deve-a mais, talvez, ao ódio que dois dos mais brilhantes escritores do seu tempo tiveram por ela do que aos seus “vícios” ou a uma perversidade particular. Comparada com Fúlvia, que foi, durante algum tempo, sua cunhada, pode mesmo parecer, se não “um anjo de doçura e de pureza”, pelo menos uma mulher cujo maior crime foi ter sido coquete, ter desiludido o afeto de um poeta e, por dedicação a um irmão, ter participado em intrigas duvidosas, onde, finalmente, naufragou a sua honra.
Pelo contrário, Fúlvia não atraiu poetas à sua volta e tornou uma parte ativa e pessoal em dramas muito mais sangrentos, que colocaram até em perigo a própria existência de Roma. Fúlvia (que é necessário distinguir cuidadosamente da outra, de cuja ação durante a conspiração de Catilina) não tinha, como Clódia, a boa (ou má) sorte de pertencer à mais alta nobreza. Era originária da pequena cidade de Túsculo e o seu pai era um certo Fúlvio Bambalião, a quem um defeito de fala valera esta alcunha (“o Gago”). Era um homem estúpido e desprezível, no dizer de Cícero52. Pela parte da mãe, Fúlvia era a neta de um personagem singular chamado Semprónio Tuditano. que morrera louco, depois de ter cometido muitas excentricidades, nomeadamente distribuir dinheiro ao povo do alto do rostro. É possível que Fúlvia tenha herdado uma deficiência do avô, de que seriam prova não só a assimetria que o seu rosto apresentava53, como os seus acessos de violência e crueldade. Clódia era bela e graciosa. Os retratos que possuímos de Fúlvia mostram um perfil agudo, lábios finos, os olhos profundamente enterrados nas órbitas e um pescoço ósseo e alongado. Embora hostil, um historiador assegura que não se encontrava nela “nada de feminino senão o corpo”.54
O seu primeiro marido foi Clódio, que a levava consigo para toda a parte e recorria naturalmente aos seus conselhos, até nas suas violências55, o que não impedia Fúlvia de ter, desde então, um fraco por Antônio, que frequentava assiduamente a casa do tribuno56. Com a morte de Clódio, entregou-se a manifestações de desespero, que talvez fossem sinceras, mas que tiveram por efeito aumentar a cólera e a indignação do povo contra os assassinos. Os motins que se seguiram aumentaram ainda mais a confusão política, contribuindo para preparar a crise final onde se afundará o regime.
Poucos meses mais tarde, Fúlvia casava com o jovem Escribónio Curião. Porquê uma tal escolha? Curião era, sem dúvida, um dos mais brilhantes homens da nova geração. Tinha a consideração e o apoio de Cícero e podia-se adivinhar nele uma grande ambição. Mas não terá havido outras razões, mais pessoais e mais secretas, que moveram Fúlvia? Cícero faz-nos saber (e como o escândalo foi público é difícil não acreditar) que Antônio e Curião tinham tido, na sua primeira juventude, uma paixão mútua que fora, ao mesmo tempo, sórdida e romanesca e a que se abandonaram com um ardor muito juvenil. Separado do seu amigo pela intervenção do pai, que sofria com esta situação degradante, o jovem Curião, “ardendo de amor, jurava que não poderia suportar a ausência de Antônio e que iria partir para o exílio”57. O confidente que escolheu não foi outro senão Cícero e é este que nos relata o episódio. É ele também que nos conta como Antônio, para se juntar ao seu amante, apesar das precauções tomadas por Curião pai, entrava na casa pelo teto!
Passada a crise, Antônio aproximou-se de Clódio, de quem se tinha feito ajudante, e teria sido nessa altura que se teria envolvido com Fúlvia pela primeira vez. Depois, como a situação da sua fortuna era deplorável, partiu para o Oriente em busca de um modo de a refazer. Para isso, juntou-se a Gabínio, quando este foi reinstalar Ptolomeu Auleta em Alexandria. Terminada a tarefa, Antônio foi para a Gália, onde César o chamava58. Estava, sem dúvida, ausente de Roma quando Fúlvia casou com Curião. Fúlvia tornava-se mulher de um dos dois amigos, depois de ter sido amante do outro.
Até este momento, Curião tinha-se mostrado hostil a César. Talvez o fizesse até demasiado estrepitosamente, o que levou a supor que desempenhava o papel de agente provocador, mas que, de fato, as suas simpatias iam, secretamente, para o homem de quem aparentava ser inimigo59. A verdade é que, pouco depois do seu casamento com Fúlvia, deixa cair a máscara e ei-lo tribuno ao serviço César. Se, na verdade, não se aliou a este senão neste momento, Fúlvia pode ter tido influência na sua decisão60. Mas a união de Fúlvia e Curião não iria ser longa. Dentro de pouco tempo, a guerra civil eclodia e Curião, encarregado por César de organizar uma expedição à África, morria em combate, no mês de Julho de 49.
Tendo perdido os dois primeiros maridos, ambos de morte violenta, Fúlvia casou com Antônio. É neste momento que começa realmente a sua “carreira política”.
Antônio já tinha casado duas vezes, primeiro, com uma certa Fádia, filha de um liberto61, depois, com a sua prima, a filha de Antônio Híbrida (companheiro de Cícero no consulado de 63), mas tinha repudiado esta sob o pretexto de o ter enganado com Dolabela (o terceiro genro de Cícero). Dada a reputação de Dolabela, um estróina desenfreado e grande conquistador de mulheres, a acusação é bastante provável. Cícero finge acreditar62 que Antônio só se divorciou para casar com Fúlvia. Se isso fosse verdade, seria difícil de entender que, ao mesmo tempo, levasse uma vida de devasso, passeando por toda a parte a comediante Citéride e um grupo de personagens duvidosos, entre os quais o mimo Sérgio, que tinha sobre ele um grande ascendente63. Mas é bem possível que Fúlvia o tenha amado e que este casamento tenha sido, de certo modo, um casamento de amor. Parece também que a influência de César, cansado das excentricidades do seu lugar-tenente, que tinha promovido a seu “comandante de cavalaria”, ou seja, a segunda personalidade do Estado, contribuiu para esta união, com a qual esperava que Antônio serenasse. Por mais incapaz que fosse de se opor aos seus instintos e ao seu gosto pelo deboche, Antônio não deixava de sentir uma certa ternura por Fúlvia e até mesmo, por vezes, um amor verdadeiro.
E assim que se explica um episódio curioso, contado por Cícero na segunda Filípica. Antônio tinha partido para Espanha para se juntar a César, durante a campanha de Munda. Mas não chegou ao termo da viagem, não tendo ido além de Narbonne, e regressou de repente. Quando ao modo como entrou em Roma... Eis o que Cícero nos diz:
Chegado cerca da décima hora às Rochas Vermelhas na via Flamínia, a uma dúzia de quilômetros ao norte de Roma. escondeu-se em uma taberna e aí, furtando-se aos olhares, bebeu ininterruptamente até à noite. Em seguida, transportado rapidamente para Roma em um pequeno carro, chegou a casa com a cabeça encoberta. O porteiro pergunta-lhe: “Quem é?” - Um correio de Marco.” Rapidamente introduzido junto daquela que viera procurar (ou seja, a sua mulher Fúlvia), entregou-lhe uma carta. Ela leu-a a chorar, porque o seu tom era extremamente terno. A carta dizia, em substância, que a, partir daquele momento, Antônio não teria mais contatos com a comediante (ou seja, Citéride), que já não lhe tinha qualquer afeição, para a dar apenas à sua mulher. Como esta chorava ainda mais, este homem sensível não pôde conter-se. Descobriu a cabeça e lançou-se ao pescoço da sua mulher...64
Esta cena, evidentemente autêntica (figura também, em um relato muito semelhante, na Vida de Antônio, escrita por Plutarco)65, mostra-nos uma Fúlvia estranhamente sentimental. Plutarco dizia dela que não era “uma mulher feita para fiar a lã nem governar a casa, que não julgava digno de si casar com um simples cidadão, mas queria dirigir um homem do poder e dominar um chefe”66. Põe-se então a chorar de emoção e alegria, porque o seu marido veio ter com ela, apesar de todas as obrigações oficiais, e lhe disse que a amava? Não provará isso que a união destes dois seres não foi apenas um acordo de dois intriguistas que se juntaram para se aproveitar do poder?
Durante algum tempo, pelo menos, Antônio e Fúlvia levaram uma existência que não desmente a imagem que esta cena romanesca nos transmite. Depois da morte de César, durante o ano em que se desenrolaram tantos acontecimentos dramáticos e enquanto Antônio trabalha para salvar a herança política do ditador desaparecido, Fúlvia está junto dele e talvez este lhe deva algumas inspirações felizes que lhe possibilitaram atingir o objetivo que se tinha proposto. É significativo que Antônio, quando chegou a triúnviro, lhe tenha testemunhado o seu reconhecimento com uma honra que nenhuma mulher romana tivera até então: como as rainhas do Oriente, cunharam-se moedas com a sua efígie.
Cícero deu-nos uma versão maldosa das atividades políticas de Fúlvia em 44 e 43. Diz-nos que se entregava a uma negociata descarada em casa de Antônio: “Uma mulher, que tem mais oportunidades para si mesma do que para os seus maridos, punha a leilão as províncias e os reinos...”67 Mas estas são palavras de polemista e de quem toma partido. Apenas damos crédito ao que elas implicam: Fúlvia, como tantas outras matronas deste tempo e do passado, tinha a sua palavra a dizer nos assuntos do Estado e o seu marido ouviu os seus conselhos. Corajosa, não hesitou em segui-lo até Brindes, no mês de Outubro de 44, quando foi encarregado de recuperar o controle das legiões repatriadas da Macedônia. Antônio teve então de dominar revoltas militares e Fúlvia estava presente na execução de vários desertores, cujo sangue, segundo Cícero, espirrou sobre ela68. Não tomemos ao pé da letra esta imagem de orador. Antônio, “dizimando” as tropas rebeldes, apenas se conformava com o costume e aplicava as duras regras da disciplina. Mas, e Fúlvia? Ignoramos quais eram os seus sentimentos profundos. Sabemos apenas que não procurou furtar-se quando o marido cumpria o seu dever de chefe. Será verdade que no seu coração não houve lugar para a piedade, ou terá pensado que manifestá-la era indigno de si?
Surge a mesma questão, um pouco mais tarde, em uma ocasião bastante semelhante. Para preparar a guerra contra os assassinos de César, os triúnviros Antônio, Lépido e Otávio tinham decretado que as mais ricas damas de Roma (elaboraram uma lista com 1400 nomes) deveriam fornecer uma avaliação da sua fortuna, de acordo com a qual teriam de pagar uma contribuição excepcional69. As damas, que não tinham protestado quando os maridos e os filhos foram proscritos, lançaram altos brados quando os seus bens ficaram ameaçados. Formaram um cortejo e foram a casa das mulheres mais próximas dos triúnviros. Otávia, a irmã de Otávio, e Júlia, a mãe de Antônio, receberam-nas com benevolência. Mas Fúlvia fechou-lhes a porta, o que a tornou muito impopular. Acusaram-na de ser orgulhosa e dura. Talvez partilhasse simplesmente o ponto de vista do marido, que julgava intolerável o egoísmo das nobres romanas, mais presas aos seus bens do que aos homens da sua casa!
Mas se estivéssemos tentados a emitir um juízo demasiado favorável sobre Fúlvia e a sua conduta durante estes tempos conturbados, deveríamos recordar-nos de um episódio, também relatado por Apiano, que antecipa as acusações feitas mais tarde por Tácito contra as imperatrizes. O senador Cesécio Rufo possuía uma bela casa vizinha da sua. Fúlvia tinha querido comprar-lha, mas deparara com uma recusa. Aquando das proscrições, Rufo teve medo e ofereceu-lha de presente. Ela preferiu que Antônio o proscrevesse. Quando lhe trouxeram a cabeça sangrenta de Rufo, respondeu que o assunto não lhe dizia respeito e remeteu os assassinos para Fúlvia, que pendurou o sinistro trofeu na casa que motivara todo o problema, em vez de o mandar pregar no rostro, como exigia o costume70. Como verdadeira romana, Fúlvia gostava sobretudo do prazer da vingança, mesmo quando a sua cupidez se teria podido satisfazer com menos perdas.
Violenta e apaixonada, Fúlvia serviu-se certamente de Antônio e do amor que este lhe tinha para satisfazer os seus ódios. Segundo consta, terá furado com um alfinete a língua de Cícero, cuja cabeça tinha sido exposta no rostro71. Alguns historiadores calam este episódio, que não tem nada de inacreditável na atmosfera dramática das proscrições, um gesto que denuncia o antigo rancor daquela que fora a mulher de Clódio e que Cícero insultara grandemente nas Filípicas. Plutarco contou-nos a atroz vingança em que se comprouve Pompónia, a mulher de Quinto Cícero, contra um liberto chamado Filólogo, que traíra o orador. Entregue por Antônio a Pompónia (cujo marido foi morto, bem como os filhos, durante as mesmas proscrições), Filólogo foi primeiro torturado de inúmeras maneiras e foi obrigado depois a cortar pedaços da sua própria carne, que teve de cozer antes de comer72. Eram assim as “adoráveis Fúrias” no período cruel das guerras civis!
Depois da batalha de Filipos, que garantiu a vitória aos triúnviros sobre os assassinos de César, os vencedores dividiram o mundo entre si. Antônio recebeu a missão que cobiçava de pacificar o Oriente e partiu sozinho, deixando Fúlvia na Itália. Os problemas que se punham a Otávio, encarregado de repor a ordem na península, eram extremamente complexos e Fúlvia já adivinhava certamente que este homem ainda novo, que tanto ficava a dever a Antônio, e, desde logo, a vitória de Filipos, aproveitaria as circunstâncias para assegurar o seu domínio pessoal à custa do aliado. Decidiu fazer tudo para o impedir e encontrou um apoio no seu cunhado, Lúcio Antônio. Ambos organizaram a oposição que se levantou contra Otávio devido à aplicação das medidas de distribuição de terras aos veteranos, que provocaram uma verdadeira guerra, que terminou no cerco e tomada de Perúsia.
Teria sido apenas o desejo de resolver a seu modo os negócios do Estado que levou Fúlvia a provocar esta guerra? Considerava-se agente de Antônio? Os historiadores antigos sugerem outros motivos, muito mais femininos. Recordam-nos que, a partir de 41, Antônio, no Oriente, tinha encontrado Cleópatra. Fúlvia teria imaginado pôr a Itália a ferro e fogo para obrigar o marido a regressar para pedir contas à Otávio73. Como alvitra Apiano, talvez a ideia lhe tenha sido sugerida por Mânio, um liberto de Antônio, que era seu intendente. De qualquer modo, uma vez concebido o plano, Fúlvia não hesitou. Aceitando todas as consequências, fez frente às tropas de Otávio e, depois da derrota, fugiu com os filhos e dirigiu-se a Atenas, onde Antônio a veio reencontrar. Fúlvia tinha atingido o seu objetivo. Pelo menos, era o que pensava. Todavia, a atitude de Antônio não foi a que esperava: as dificuldades que criara entre Otávio e ele contrariavam os planos daquele que se julgava chamado a continuar no Oriente a política de César. Ela interrompera brutalmente o sonho que ele perseguia, este sonho de poder em que outra mulher, a rainha Cleópatra, desempenhava o principal papel e que não já não tinha qualquer lugar para Fúlvia. Em vez do reencontro feliz que esperava, Fúlvia teve pela frente apenas um homem hostil e longínquo, que a acusou de se envolver em um jogo cujas consequências não tinha previsto. Deixou-a abruptamente para tentar reparar o que designava como os seus erros.
Tudo isto era mais do que esta mulher podia suportar, cujo orgulho e amor ficavam ambos profundamente feridos. Adoeceu e, no seu desespero, não encontrou forças para reagir contra o seu mal. Estava doente quando Antônio deixou Atenas sem a visitar. Morreu algum tempo depois, em Sícion, ao passo que Antônio, em Brindes, se reconciliava com Otávio74. Há quem garanta que a notícia da sua morte contribuiu muito para esta reconciliação e que os dois partidos ficaram bastante satisfeitos por atribuir-lhe a responsabilidade do que foi designado como um “mal-entendido”. A paz foi selada com um novo casamento de Antônio, que desposou Otávia, a irmã do seu parceiro.
Assim morreu e foi esquecida, logo depois de morta, esta mulher que, durante a guerra de Perúsia, tinha levantado exércitos, vivido nos campos e assumido todas as funções de um imperator. Mas a sua força indomável não pôde resistir ao falhanço do seu amor, ou, talvez, à degradação que ia ser a consequência inevitável do seu malogro.
A carreira de Fúlvia não é o único caso, nesta época, de casamentos que tiveram importantes consequências para a história política, mesmo quando as esposas não recorriam aos meios que usou para assegurar a sua influência. Na vida de Pompeu, um dos atores principais do drama que pôs termo à República, as mulheres com quem sucessivamente casou tiveram um papel cada vez maior e pouco faltou para que uma delas tivesse conseguido poupar o mundo à tragédia da guerra civil.
A imagem de Pompeu que os seus bustos nos dão, onde o vemos envelhecido e gordo, não corresponde de modo nenhum ao que nos dizem os seus biógrafos. Na sua juventude, Pompeu era muito bonito, de uma beleza que tinha algo de nobre e de real. Os seus cabelos e o desenho das suas faces recordavam irresistivelmente os retratos de Alexandre75. Este fato valeu-lhe o favor das multidões e a afeição das mulheres. Na sua juventude inspirou uma paixão profunda à cortesã Flora, que gostava de recordar, mais tarde, que nunca o deixara sem ter no corpo a marca dos seus dentes76. Todavia, Pompeu não hesitou em cedê-la a um dos seus amigos, Gemínio, que se tinha apaixonado por ela. Cedera-a “contra a sua vontade e contra a vontade dela”, ele, por dever de amigo, ela, como cortesã, cujo papel era obedecer. No entanto, ela sofreu tanto por perdê-lo que ficou muito tempo doente. Uma outra beleza do seu tempo, a mulher do seu liberto Demétrio, não foi tratada por ele com maior cortesia: aparentemente, duvidava da sedução que as mulheres exerciam sobre si e, preocupado com a sua reputação, reprimia os seus sentimentos e os seus desejos77.
As personalidades poderosas da época quiseram bem cedo aliar-se a ele e uma delas, Antístio, que presidia a um tribunal onde o jovem Pompeu comparecia como acusado (vítima de uma vingança contra seu pai, Estrabão), nem esperou pelo fim dos debates para prometer-lhe a mão da filha. Depois da sua vitória, o ditador Sila, que também desejava formar um partido, lançou os olhos para Pompeu, que lhe prestara grandes serviços, criando um exército, por iniciativa própria, durante a guerra civil. Com a ajuda da sua mulher Metela, levou Pompeu, entre a persuasão e a força, a repudiar Antístia e a casar com Emilia, uma filha que Metela tivera de um casamento anterior. Foi um casamento escandaloso, porque Emilia já era casada e esperava um filho do marido. Pompeu, no entanto, não pôde ou não soube opor-se e casou com a jovem mulher, que, aliás, dentro em pouco morria de parto.
Ignoramos quando casou Pompeu com a sua terceira mulher, Múcia, nem em que condições. Talvez pretendesse, com este casamento, aproximar-se do clã dos Metellii, a que ela pertencia. Sabemos apenas que suas próprias relações com Servília lhe tivessem sugerido este projeto. Mas a formação do triunvirato forçou-o a uma verdadeira “mudança de aliança” e, no ano seguinte, em 59, tendo sido bruscamente rompido o noivado de Júlia, esta casou com Pompeu.
Júlia tinha apenas 22 ou 23 anos. Pompeu aproximava-se dos cinquenta e apaixonou-se rapidamente pela sua jovem mulher. Plutarco conta-nos que começou a negligenciar cada vez mais a vida política, indo raramente ao fórum e deixando ao demagogo Clódio completa liberdade para os seus loucos projetos. Por seu lado, passava todo o tempo junto de Júlia, nos seus jardins do Campo de Mane e nas casas de campo que possuíam na Itália, satisfazendo o desejo que tivera quando estivera casado com Múcia, mas, agora, com uma companheira digna de si. É que, para espanto de Plutarco, Júlia amava Pompeu tanto quanto ele a amava e se não a deixava de modo nenhum, era talvez menos para não se privar da presença dela do que para não a privar da sua. Era uma atitude mais conveniente para um poeta como Catulo do que para um homem que tinha uma pesada responsabilidade política. Clódio não se coibia de o ridicularizar publicamente. No entanto, o povo não podia deixar de ter uma grande simpatia por este amor, que se tomara proverbial82. Dizia-se repetidamente com admiração e um pouco de surpresa que Pompeu era fiel à sua mulher, que não tinha nenhuma aventura e que lhe era inteiramente devotado.
No entanto, toda esta felicidade não iria durar. Em 55, deu-se um incidente que haveria de ter graves consequências. Em uma escaramuça, no Campo de Marte, vários arruaceiros foram mortos tão perto de Pompeu que a sua toga ficou salpicada de sangue. Enviou imediatamente um dos seus servos levar a casa a veste suja e trazer outra. O empregado, ainda muito emocionado, apresentou-se com a toga ensanguentada e quis o acaso que Júlia o tivesse visto chegar. O sangue espalhado na toga, que ela logo reconheceu, e as palavras entrecortadas do empregado fizeram crer a Júlia que Pompeu estava gravemente ferido, talvez morto, e de imediato desmaiou. Estava grávida e a violenta emoção que teve impediu-a de levar a gravidez até ao fim. Alguns meses mais tarde, novamente grávida, deu à luz uma menina, mas não resistiu ao parto e morreu.
Todo o povo ficou profundamente comovido com esta morte e como Pompeu se dispunha a fazer o funeral de Júlia na sua propriedade de Alba, a multidão apoderou-se do corpo e deu-lhe uma sepultura no Campo de Marte. Era para honrar Pompeu ou César? Era porque a imaginação popular tinha sido atraída pelo destino melancólico de uma jovem mulher que soubera, apenas com a força do seu amor, manter a concórdia entre os dois homens cujo desentendimento podia conduzir às mais maiores catástrofes? Todos estes sentimentos estavam sem dúvida presentes e Júlia ficou para os historiadores e poetas como símbolo do que pode o amor:
Se os destinos tivessem consentido que permanecesses mais tempo nesta luz, tu sozinha terias podido deter a demência desencadeada, de um lado, por teu pai e, do outro, por teu marido, arrancar o ferro das suas mãos e juntá-los, como as Sabinas mediadoras uniram sogros e genros...83
No ano seguinte, Pompeu voltava a casar. Com grande solenidade, desposou Cornélia, filha de Metelo Cipião, que pertencia à mais alta aristocracia, mas, o que era mais importante aos olhos de Pompeu, a jovem Cornélia tinha sido mulher, em primeiras núpcias, de Crasso, o jovem, que acabava de morrer na Síria, na campanha que custara a vida a seu pai, Crasso, o triúnviro. Este casamento, segundo esperava Pompeu, iria trazer ao sucessor do jovem Crasso as simpatias que este tinha entre os senadores. É neste momento que Pompeu, lisonjeado pelos nobres, que temem César cada vez mais, se separa do seu antigo amigo. A união com Cornélia traduz muito bem a nova posição política do velho homem de Estado, mas podemos pensar que eram possíveis outros partidos, igualmente vantajosos, e que Cornélia suplanta todas as outras jovens nobres com os seus méritos de mulher e o seu encanto. Esta é, de fato, a opinião de Plutarco, que nos garante que:
A jovem tinha também outros atrativos suscetíveis de a fazer amar, para além dos da sua juventude. Era muito versada em literatura, na arte da lira e em geometria e sabia escutar com proveito as palavras dos filósofos. Para além disso, era naturalmente privada da desagradável indiscrição que estes talentos fazem surgir nas jovens.84
Em suma, Cornélia, tal como Júlia, era suficientemente jovem para que os adversários de Pompeu dissessem que o seu partido era mais adequado aos seus filhos do que a ele mesmo e a opinião pública censurou-lhe que dedicasse aos seus novos amores cuidados que mais teria valido conceder aos negócios da governação.
Pompeu serviu-se deste casamento para apoiar a sua política. Utilizou o seu sogro, Cipião, que associou aos últimos meses do seu consulado “único”, e fê-lo seu porta-voz nas sessões do Senado que precederam imediatamente a guerra civil e a tornaram inevitável85. Todavia, isso não significa de modo algum que não tenha amado Cornélia e que não tenha sido retribuído. Não parece, contudo, que junto dela tenham recomeçado os dias de encantamento que conhecera com Júlía. Talvez tal felicidade seja possível apenas uma vez na vida. Aliás, os acontecimentos precipitaram-se. Dois anos depois do casamento desencadeava-se a guerra civil e deu-se a partida para o Oriente, sob a pressão dos exércitos de César.
Enquanto Pompeu conduzia os combates nas costas da Ilíria, em redor de Dirráquio, Cornélia encontrou asilo em Mitilene. Aí, esperava ansiosamente as notícias. Depois de ficar entre o temor e a esperança, um dia um mensageiro apresentou-se-lhe e informou-a da derrota de Farsália. No navio que o trouxera vinha também Pompeu. Cornélia precipitou-se para o porto, lançou-se aos braços do marido e as suas primeiras palavras, a acreditarmos em Plutarco, foram para se acusar a si mesma da catástrofe onde soçobraram as armas de Pompeu. Recordando-se de repente que fora antes a mulher do jovem Crasso, julgou-se “maldita”. Por duas vezes, o homem de quem era a companheira fora derrotado86! Pompeu consolou-a como pôde e tentou despertar-lhe uma esperança que ele mesmo não sentia. Contrapôs-lhe que a frota senatorial estava intacta e que seria possível recomeçar a guerra, mas, ao mesmo tempo, em uma conversa que teve com um filósofo, confessava desesperar da Providência divina.
Foi Cornélia que contribuiu, indiretamente, para provocar a catástrofe final. O primeiro pensamento de Pompeu tinha sido, de fato, procurar refúgio junto do rei dos Partos, onde César não iria, certamente, persegui-lo, pelo menos por enquanto. Mas pensou que era impossível apresentar-se nesta corte oriental com uma grande senhora romana cuja honra não poderia aceitar as humilhações e, talvez, as homenagens ultrajantes a que se encontraria exposta e decidiu dirigir-se ao Egito, onde o esperavam os seus assassinos.
***
Com muitos casamentos, na maioria felizes, a carreira de Pompeu teve um largo campo onde se exerceram as influências femininas, mas nem a tradição mais hostil ao vencido de Farsália lhe atribui amores culposos. O mesmo não acontece com o seu adversário, que os seus próprios soldados designavam com uma alcunha injuriosa nas canções do seu triunfo: "Cidadãos, cantavam eles, guardem as vossas mulheres: trazemos connosco o galante depenado..."87
Suetônio apresentou uma lista impressionante “das belas aventuras” do ditador, em dois capítulos da sua biografia de César. As suas principais “vítimas” foram senhoras da alta sociedade: Postúmia, mulher de Sérvio Sulpício, que é, provavelmente, Sulpício Rufo, cônsul de 51; Lólia, mulher de Aulo Gabínio, o cônsul de 58 que, inicialmente partidário de Pompeu e depois condenado ao exílio, foi reabilitado por César e teve um posto de comando no seu exército durante a guerra civil. O terceiro nome citado por Suetônio é o de Tertula, a mulher do triúnviro Crasso. Vem em seguida Múcia, a segunda mulher de Pompeu88. Parece, portanto, que a aliança política do triunvirato era reiterada, clandestinamente, por relações mais amáveis, de que César, evidentemente, era o único beneficiário. Convém recordar, contudo, que a ligação com Múcia, que aconteceu durante a ausência de Pompeu, terminou no divórcio da senhora, repudiada pelo marido, e isso vários meses antes do termo do triunvirato. Pompeu ficou ferido com esta ligação. Múcia tinha-lhe dado três filhos e foi para ele uma grande tristeza separar-se deles. Nesta época, costumava maldizer César, chamando-lhe “Egisto”, o que não o impediu, alguns meses mais tarde, de casar com Júlia. Ao considerarmos estas intrigas complicadas, compreendemos melhor a mistura de sentimentos que estes homens podiam ter uns pelos outros, mas que a ambição obrigava a aliar-se, embora para tal tivessem de dissimular rancores, ou mesmo ódios, e esquecer feridas antigas.
Segundo diz Suetônio, das amantes romanas que César teve, Servília, mãe de M. Júnio Brutus e meia-irmã de Catão, foi a mais amada89. O tempo feliz dos seus amores foi o ano de 63 (o consulado de Cícero). Tinham ambos mais ou menos a mesma idade (César tinha 38 anos; ignoramos a data exata em que Servília nasceu, mas é provável que tivesse a idade do seu amante) e sentiam um pelo outro uma grande paixão, daquelas que fazem parecer intermináveis os momentos de separação. Um episódio que Plutarco nos relata recorda-nos o que teve de escandaloso e sedutor.
Corria o mês de Dezembro de 63, no decurso de uma das sessões do Senado em que se discutiam os procedimentos a adotar com os conjurados cúmplices de Catilina. César estava sentado ao lado de Catão e eram de pareceres diferentes: Catão desejava que se executassem os culpados, César que fossem poupados, o que fazia suspeitar que fazia parte da conspiração. A certa altura, em plena sessão, trouxeram do exterior uma mensagem a César, que se pôs a lê-la de imediato. Catão levantou-se de um salto e gritou que a conduta de César era intolerável, que recebia mensagens dos inimigos do Estado e que traía a causa da ordem. Como os senadores tomavam partido por um e por outro, César, tranquilamente, estendeu a mensagem a Catão e pediu-lhe que a lesse. Mal Catão lançou os olhos à tabuinha, reconheceu a escrita de Servilia, a sua própria irmã, e o conteúdo da mensagem não deixava nenhuma dúvida sobre as relações que a ligavam a César, tão ardentes eram as suas palavras. “Toma, bêbado, toma lá!” resmungou Catão, lançando a tabuinha a César, e a sessão retomou o seu curso90.
Eis César, um apaixonado feliz, perseguido até no Senado pelas mensagens de uma amante, e que não resiste ao prazer de as dar a ler ao meio-irmão desta, o homem mais pudibundo do seu tempo. Esta irreverência desenvolta era própria dos seus modos de grande senhor, que não se embaraçava com escrúpulos burgueses.
Três anos depois, a ligação de César e Servília ainda prosseguia. Durante o seu consulado, em 59, deu de presente à sua amiga uma pérola que valia seis milhões de sestércios91 e mesmo depois de Farsália permitir-lhe-á aproveitar-se dos bens confiscados aos vencidos92. É provável que a paixão da sua juventude já tivesse dado lugar então a uma amizade mais tranquila, mas as calúnias, de que Cícero se fez eco, dizem que Tércia, a mais jovem das filhas de Servília, sucedeu à mãe junto de César com a cumplicidade da própria Servília. Não é inócuo verificar que esta Júnia Tércia era a mulher de Cássio, um dos chefes da conspiração dos idos de Março. Mas a realidade da ligação de Júnia Tércia e César é demasiado incerta para que se possa imaginar ver nela uma das razões que teriam motivado Cássio.
Calúnia podemos acreditar que seja igualmente a afirmação, retomada por alguns historiadores, de que Júnio Brutus seria fruto dos amores de César e Servília. A afeição evidente que César sempre lhe prodigalizou explica-se certamente por outras motivações: em parte, sem dúvida, pelas relações que o uniam a Servília, mas também por razões políticas. Parece que César cedo se interessou por este jovem, que era um dos mais brilhantes do seu tempo e que um ódio familiar opunha a Pompeu, dado que este, em 77, mandara matar brutalmente o seu pai, M. Júnio Brutus, primeiro marido de Servília. Garantir uma aliança com Brutus podia tornar-se uma grande vantagem e foi por isso que planejou o casamento entre Júlia e Brutus93. Foi por isso também que continuou a protegê-lo, mesmo depois de Júlia estar casada com Pompeu, quando o jovem ficou envolvido em uma tentativa de assassinato contra este94. Mais tarde ainda, Brutus, decididamente contrário à amizade de César, ligar-se-á aos inimigos do ditador, casando com Cláudia e depois com a sua prima Pórcia, viúva de Bíbulo, o rival irreconciliável de César e seu companheiro no consulado de 59, e combaterá em Farsália no exército de Pompeu. Antes da batalha, César recomendará cuidadosamente aos seus oficiais para que o poupem. Tendo saído vencedor, conceder-lhe-á o seu perdão e cumulá-lo-á de honras e cargos. Importava grandemente ao ditador que os melhores elementos da aristocracia aderissem ao novo regime. Ter Brutus consigo era exorcizar a memória de Catão. Esta revelava-se ainda mais perigosa do que ele mesmo, com a sua mesquinhez, o seu insuportável orgulho e o seu espírito estreito, tinha sido quando fora vivo. César planejara elevar, simultaneamente, Brutus e Cássio ao consulado, no ano de 4195. Deste modo, o filho e o genro de Servília acederiam juntos à magistratura que os incluiria nos consulares, as personalidades investidas com a mais alta autoridade do Estado e que, em caso de crise, eram chamadas a tomar as decisões necessárias.
César, no momento de preparar o futuro, pensa nos homens que, por hábito, continuam, secretamente, a considerá-lo com indiferença, mas de que não desiste de tornar nos colaboradores do novo regime, quer queiram quer não, e graças a Servília, uma aliada que supõe fiel. Sabe-se como esta esperança foi frustrada. Brutus e Cássio dirigiram a conspiração dos idos de Março. Compreende-se por que razão César deixou de lutar contra os seus assassinos quando entre eles reconheceu Brutus: “Também tu, meu filho...” Não se trata da confissão de uma paternidade ilegítima, que tudo parece contradizer, mas de uma paternidade “espiritual”, desejada, sonhada e símbolo da grande reconciliação entre César e o Senado sobre a qual haveria de fundar-se o futuro de Roma. Uma conspiração de opositores sem importância podia ser apenas um acidente. A presença de Brutus entre os conjurados significava o fracasso completo de toda uma política e de toda uma vida.
As relações entre César e Servília apresentam-se, assim, muito complexas aos nossos olhos. Seria errado pretender que estiveram isentas de arrebatamentos da carne, mas sê-lo-ia também defender que a política não teve nelas nenhum papel. De fato, iria em breve tornar-se preponderante. A tradição de Cornélia, mãe dos Gracos, a tradição das matronas cujo poder na cidade se podia avaliar quer pela sua influência pessoal quer pelas alianças que garantiam aos seus filhos e filhas, continua com Servília. Depois da morte do ditador, é à sua volta, em Âncio, que os “tiranicidas” reunirão um singular conselho de guerra, a que assistem Cícero, Brutus, Cássio e alguns outros. O Senado, por instigação de Antônio, acabava de designar Brutus e Cássio para desempenharem no Oriente uma missão que os afastaria, durante algum tempo, da vida política. Deveriam eles aceitar? Servília julga que pode obter a revogação do senátus-consulto. Aparentemente, não teria perdido, com a morte do seu velho amante, toda a autoridade no Senado. A sua atitude para com Cícero, a quem cortou a palavra, revela que se mantém fiel à tradição dos aristocratas para quem o grande orador nunca deixou de ser um novo rico96.
Durante estes dias de angústia, até à batalha de Filipos, Servília foi a auxiliar dedicada dos “republicanos”, mas soube manobrar também com muita habilidade os “cesarianos”. Talvez as suas atividades políticas, nessa época, revelem a sua alma profunda: devotada à sua gens, intriguista nata, usara os seus encantos e a sua amizade sem poder distinguir se o que a guiava, em cada ocasião, era o coração ou a razão. O que a nós, em uma perspectiva histórica, pode parecer um conflito de ideias, de classes ou de temperamentos deveria ser as seus olhos apenas uma meada de intrigas, que ela se empenhava, por todos os meios ao alcance de uma mulher, em deslindar ou em confundir com eficácia. Tinha o direito de pensar que lhe era possível continuar a ser fiel a uma amiga ligação sem estar, por isso, comprometida com uma causa. Por seu lado, terá César agido diferentemente ao aproveitar-se desta mesma ligação para afastar Brutus e Cássio da sua fé política?
Sempre metódico, Suetônio consagrou um capítulo específico “às amantes exóticas.” É verdade que este capítulo inclui apenas dois nomes: Êunoe, mulher de rei Bogud da Mauritânia, e Cleópatra. Dos amores de César com a rainha moura, ignoramos tudo. Quanto aos seus amores com Cleópatra, é muito provável que a imaginação dos historiadores tenha feito um romance do que foi apenas uma aventura passageira97.
Cleópatra, segunda filha do rei Ptolomeu Auleta, que foi, como vimos, protegido de Crasso, nasceu em 69 e, desde a sua primeira juventude, viu-se arrastada pelas inimagináveis intrigas com que se debatiam tradicionalmente os Lágidas. Com a morte do pai, foi designada como rainha, partilhando o poder com o seu irmão e marido, Ptolomeu XIV, de acordo com a lei régia do Egito. Depois, no conflito que, em Roma, opôs César ao Senado, conduzido por Pompeu, tomou claramente partido por este. Prestou-lhe alguns serviços e teve mesmo, talvez, uma aventura com um dos filhos de Pompeu, Gneu, que viera a Alexandria com uma embaixada. Mas, dentro em pouco, entrou em luta com o irmão e teve de fugir da capital. Estava fora desta quando César chegou, a 2 de Outubro de 48 (19 de Agosto do calendário juliano). César apresentou-se como árbitro. Queria trazer a paz ao reino e, para tal, convocou a jovem rainha. Restava a esta encontrar o meio adequado para obedecer.
Era necessário ultrapassar a cortina de tropas à ordem dos regentes que exerciam o poder em nome de Ptolomeu. Cleópatra fez-se transportar de barco até ao farol que dominava a entrada do porto. Naturalmente, esta estava guardada. Cleópatra comprou os guardas e conseguiu desembarcar perto do palácio. Mas como chegar até César, neste palácio onde todos a conheciam e onde cada servo podia ser um inimigo? Cleópatra recorreu então a um ardil. Disse ao seu companheiro, o único que ia com ela, um siciliano chamado Apolodoro, que enrolasse à sua volta uma manta, a levasse como um embrulho sobre o seu ombro e que conseguisse chegar assim junto de César. Dizia-se, acrescenta Plutarco, que nos relata a aventura, que foi este estratagema que conquistou o romano. Aparentemente, na conversa a sós que se seguiu, comportou-se como uma coquete consumada. Os historiadores deduzem rapidamente que César perdeu a cabeça, ficou perdidamente apaixonado e, a partir desse momento, ficou preso à jovem rainha98. Importa pouco saber se Cleópatra era ou não tão bela como pretende a sua lenda. Talvez os seus retratos mais autênticos não lhe façam justiça". O poder de uma sedutora nem sempre depende da correção dos seus traços. De qualquer modo, César entrou na aventura, mas, longe de esquecer nestas delícias os interesses de Roma, parece ter aproveitado esta conquista fácil para aumentar a influência romana sobre o Egito, reino que se sabia então não ser fácil de subjugar nem se podia pensar que pudesse ser anexado diretamente. Cleópatra foi, realmente, para César, um instrumento. Serviu-se dela para se desembaraçar de Ptolomeu XIV e, logo de seguida, deu-lhe como marido outro dos seus irmãos, cuja juventude tornava menos temível e que reinou sob o nome de Ptolomeu XV. César esperava assim ter decapitado o partido da independência nacional, que apoiava Ptolomeu XIV. Depois, tranquilizado, fez uma viagem pelo Nilo, na galera real, que o levou, com Cleópatra, até à primeira catarata. Durante estes dias maravilhosos, neste país estranho, César talvez tivesse sonhado com a realeza, mas não se deteve na ideia de ser rei do Egito. Já tinha passado o tempo em que se podia comprazer com a tentação de ser o “primeiro” em um lugar que não fosse Roma. Aliás, no começo do Verão de 47, deixou o Egito para pacificar a Ásia. Da passagem de César por Alexandria permanecia apenas uma marca: uma guarnição de três legiões, que, de fato, fazia do reino lágida um protetorado romano.
Dezoito meses mais tarde, Cleópatra estava em Roma, chamada por César. Não pensemos que quis tê-la perto de si para reatar os seus amores: mal ela tinha chegado a Roma, partia ele para Espanha e, quando regressou, em vez de viver o mais perto dela que fosse possível, deteve-se pelas suas villas100. Cleópatra, em Roma, viveu mais como uma refém de categoria do que como favorita do senhor, que tinha outras preocupações, em primeiro lugar a da sua própria dignidade para não indispor uma opinião pública com que tentava, por todos os meios, reconciliar-se. A tradição da diplomacia romana exigia que os soberanos aliados fossem assim afastados, durante algum tempo, dos seus Estados e demonstrassem, com a sua presença na Cidade, a sujeição em que se encontravam.
Durante estes meses romanos de Cleópatra, César apoderava-se do Egito: acrescentava uma quarta legião à guarnição de Alexandria e os seus agentes (pelo menos, é o que podemos pensar) aproveitavam a ausência dos soberanos legítimos, Cleopatra e Ptolomeu XV, para instalar uma administração dócil no lugar da antiga. Tal é a verdadeira razão pela qual César retinha em Roma o casal real.
A estada de Cleópatra à beira do Tibre - vivia nos jardins de César, fora da cidade - foi marcada por uma aventura sentimental cujo herói não foi o seu anfitrião. Os historiadores antigos fizeram-nos saber que a rainha teve um filho, que designam, por vezes, como Cesário. e pelo menos uma parte da tradição afirma que esta criança era filha de César. Ora, M. J. Carcopino pôde mostrar, interpretando com exatidão os dados da epigrafia egípcia, que esta atribuição é certamente enganadora e foi inventada por Cleópatra e Antônio para as necessidade; da sua propaganda. Cesário, nascido, com toda a probabilidade, cerca de 20 de Abril de 44, não pode ser filho de César, dado que este encontrava-se na Espanha no mês de Julho de 43. Mas pode ter sido de Antônio, ou de algum outro!
Aproveitando a desordem em que se encontrou mergulhada a cidade após o assassinato de César, Cleópatra partiu para o seu reino logo que recuperou do parto e, uma vez no Egito, não demorou a desembaraçar-se, pelo veneno, do seu irmão-marido, Ptolomeu XV, para garantir a realeza sem partilha. A sua maternidade dispensava-a doravante de ter marido: Cesário foi proclamado rei sob o nome de Ptolomeu XVI e Cleópatra era a única a dispor do poder. Em breve iria vingar-se de César e, usando habilmente o amor que soube inspirar a Antônio, tornar-se temível para os senhores do mundo.
***
Por difícil que seja, depois de tanto séculos, determinar os sentimentos que os homens, nestes tempos remotos, albergavam no mais íntimo de si, podemos acreditar que César, a julgar pelos seus atos, aceitou os amores que lhe foram oferecidos e nunca foi escravo deles. A paixão amorosa não o dominou mais do que as outras, às quais se esforçou por nunca ceder: nem a cólera, nem o desejo de vingança, nem mesmo a ambição jamais prevaleceram sobre o juízo da sua razão. Os seus amores serviram os seus desígnios quando isso era possível. Em qualquer caso, não os contrariaram em nada.
A história dos seus casamentos não é menos reveladora. Tudo começa com o rompimento do noivado com uma jovem da classe dos cavaleiros chamada Cossúcia, cujo único mérito, aparentemente, era a sua grande riqueza. Foi um noivado imposto ao jovem antes de envergar a toga viril e no qual a sua escolha não teve, por certo, nenhum papel101. A mulher que em seguida escolheu, em 84, dois anos após a morte do pai, pertencia a uma família ilustre. Era a filha de Cornélio Cina, que era então o senhor absoluto, servia os interesses do partido “popular” e continuava a política de Mário, de que César era sobrinho, desde o casamento de sua tia Júlia com este. Casando com Cornélia, César passava a fazer parte, corajosamente, dos inimigos do Senado. Mas se esperava o apoio do sogro, em breve ficou desapontado. Cina não tardou a morrer e, logo depois, deu-se a vitória de Sila e a vingança da aristocracia.
A primeira preocupação de Sila foi quebrar as alianças familiares que, na nobreza, tendiam a formar "facções" que ele julgava perigosas. Já dissemos como Pompeu teve de repudiar a primeira mulher, Antístia, e casar com Emilia. César foi menos obediente. Depois de dois anos de casamento, recusou obstinadamente renunciar a Cornélia, apesar das ameaças do ditador e das perseguições contra si: despojado do seu sacerdócio, do dote da mulher e do seu patrimônio, teve de fugir para não ser morto como “inimigo de Sila". Era o amor que o impelia a esta resistência? Ou era antes a obstinação? Ou o orgulho? Ou o desejo, perfeitamente legítimo, de não obedecer ao tirano e de afirmar a sua liberdade? Ou a vontade de salvaguardar o futuro, pressentindo que a reação de Sila seria apenas temporária e que o povo romano lhe agradeceria um dia não se ter vergado perante o senhor? Esta determinação indomável de não renegar os laços familiares com os populares conduzi-lo-á, mais tarde, a reerguer os Trofeus de Mário, apesar da proibição legal, e é bem provável que tenha contribuído para tomar a decisão de ficar com Cornélia.
Este primeiro casamento só terminou com a morte de Cornélia, em 68. Deixava ao marido uma filha, Júlia, de cujo papel na carreira política do pai já falámos. Pouco tempo após o desaparecimento de Cornélia, César casava com a filha de Q. Pompeio Rufo, Pompeia, que era a neta de Sila. Este casamento era, sem dúvida, apenas uma manobra política, uma tentativa de César para garantir as alianças necessárias em um partido com que era preciso ainda contar. Fora no mesmo espírito que Pompeu, por seu lado, casara com Múcia, que o aliara aos clã dos Metellii e, indiretamente, aos Claudii, duas das mais poderosas famílias da oligarquia senatorial. No entanto, tal como o casamento de Pompeu não iria durar (Múcia, como vimos, ficou gravemente comprometida com o próprio César), o de César também não foi um casamento sólido: Pompeia cedeu aos avanços do jovem P. Clódio e o escândalo dos “mistérios da Boa Deusa” provocou um repúdio que César não pôde evitar.
É mais difícil compreender as razões que levaram César a casar, em 59, o ano do seu consulado, com a filha de Calpúrnio Pisão, que não parece ter sido um “poderoso” da política. Talvez César se julgasse suficientemente forte para criar alianças e se dispensar de as solicitar. Calpúrnio Pisão tornou-se imediatamente um “agente” de César, que o fez eleger para o consulado de 58, o que provocou os protestos de Catão. Esquecendo que os casamentos tinham, desde há muito tempo, um papel determinante nas carreiras políticas, Catão denunciou o escândalo e queixou-se que “prostituíam” o poder supremo e que era através das mulheres que se chegava aos governos e aos postos de comando militares103. Pisão continuou fiel a César. O exercício do cargo de censor, em 50, revelou um homem moderado, capaz de compatibilizar a opinião pública com César, e, quando a guerra civil deflagrou, tentou por todos os meios interpor-se entre César e o Senado. Afinal, a escolha de Pisão para sogro não tinha resultado de um cálculo errado.
A escolha de Calpúrnia para esposa também não foi má. Era ela a companheira de César nos idos de Março, uma companheira atenta, afetuosa e respeitada. Era evidente que não guardava ressentimento contra o marido pelas suas infidelidades. A maior parte acontecera nos anos que precederam o seu casamento. A ligação com Servília tinha serenado, transformando-se em amizade; quanto às outras - Cleópatra e a rainha da Mauritânia - não eram, afinal, senão aventuras de soldado que fazia a guerra em terras remotas.
A noite que precedeu os idos, passou-a César junto de Calpúrnia. Em um dado momento, o vento abriu abruptamente a porta do quarto e, à luz da Lua, César viu que a mulher, no seu sono, se voltava e gemia. Por fim, acordou e contou o seu sonho. Tinha-lhe parecido que os ornamentos triunfais colocados no cimo da sua casa tinham sido arrancados e lançados por terra. Este sonho pareceu-lhe de mau augúrio e suplicou a César que não fosse à sessão do Senado prevista para os idos. Era a primeira vez que Calpúrnia se abandonava às superstições do seu sexo e ele ficou perturbado. Consultou os adivinhos e o que eles lhe transmitiram aumentou a sua perturbação, a ponto de decidir permanecer em casa nesse dia. Mas Décimo Brutus apareceu e, com hábeis discursos, conseguiu fazer com que voltasse atrás na sua decisão. Os seus argumentos e a sua ironia calaram o instinto que levava César a ouvir os pressentimentos de Calpúmia104 e o destino cumpriu-se.
***
Nem Pompeu nem César tinham inovado ao pretender, com casamentos sucessivos, obter alianças úteis à sua carreira. À sua volta, seria fácil citar muitas outras uniões que, no seu início, não foram decididas de maneira diferente. Mas como distinguir entre um “casamento de razão” ou de “conveniência”, como queria a tradição das famílias nobres, e um casamento meramente “político”? Basicamente, tudo dependia do objetivo a que se propunham. Quando as duas famílias que assim se aliavam tinham poder e estatuto comparáveis, ninguém tinha nada a dizer. A opinião pública só começava a agitar-se se adivinhasse o cálculo, se detectasse a manobra destinada a falsear, com demasiada gravidade, a partilha tradicional das magistraturas e dos cargos. Mas não se escandalizava menos se alguma grande personalidade mostrasse de forma demasiado visível amar a sua companheira.
Catão, que se indignou tanto com o casamento de Pompeu e Júlia e com o de Calpúrnia e César, tinha ficado profundamente ferido, na sua juventude, com o insulto que Emílio Lépido lhe fizera, acreditava ele, prometendo-lhe e depois recusando-lhe a sua filha, a jovem Lépida105. O seu orgulho ficara tão magoado que, para se vingar, compôs jambos no estilo de Arquíloco! A afronta dirigia-se mais ao representante da gens Porcia do que ao homem. Desiludido com os Aemilii, Catão solicitou uma noiva aos Atilii, que não eram de nobreza menos elevada, e casou com Atília, a filha de Atílio Serrano. O seu casamento não foi feliz. Atília deu-lhe dois filhos, mas portou-se tão mal que foi forçado a repudiá-la106. Foi então que casou com Márcia, a filha de L. Márcio Filipe. Escolheu-a, segundo se disse, porque gozava de excelente reputação107. Esta união, concluída no espírito dos Romanos de outros tempos como Catão o imaginava, teve sequelas estranhas, que esclarecem, a partir de uma perspectiva inesperada, a concepção que então havia do casamento.
O orador Hortênsio sentia a maior admiração por Catão e desejava ser para ele mais do que um amigo. Após a morte da mulher, tentou persuadir Catão a dar-lhe a sua filha. Esta, Pórcia, já era a mulher de Bíbulo. Isso não parecia constituir obstáculo para Hortênsio, que dirigiu a Catão um singular discurso, no qual defendia que as mulheres, após terem dado aos seus maridos tantos filhos quantos podiam desejar, não deviam condenar-se a uma esterilidade voluntária. Melhor seria dá-las a outros maridos que, por seu lado, desejavam filhos. Assim, cada um teria o que desejava e até a cidade aproveitaria com esta fecundidade: uma mulher virtuosa não podia ter senão filhos semelhantes a ela; as alianças assim multiplicadas entre as famílias reforçariam os laços entre os grandes personagens e assegurariam a concórdia. Se Bíbulo gostasse realmente da mulher, acrescentava Hortênsio, tudo podia ainda concertar-se: ele mesmo comprometia-se a devolver-lha depois de ela lhe ter dado um filho108. Catão achou a proposta absurda e recusou. Hortênsio, no entanto, não se deu por vencido. Propôs-se casar, não com Pórcia, mas com Márcia, a mulher de Catão. Argumentou que Márcia era tão virtuosa quanto Pórcia, que era ainda suficientemente jovem para ter filhos (e, de fato, ela estava prestes a dar um ao mundo), que Catão já tinha assegurado suficientemente a sua descendência e que, por todas estas razões, ele mesmo desejava tê-la por esposa. Catão compreendeu que Hortênsio era verdadeiro e, refletindo nos seus argumentos, que lhe pareceram bastante razoáveis, acabou por aceitar, mas na condição de que Filipe, o pai de Márcia, desse o seu consentimento. O velho, depois de consultado, também aceitou e quis apenas que Catão estivesse presente neste estranho casamento e entregasse Márcia a Hortênsio. E a transferência teve lugar.
Temos dificuldade em pensar que esta história seja autêntica e, contudo, nada nos autoriza a julgar que seja falsa. Plutarco assegura-nos que tem origem em um amigo de Catão, que foi seu confidente e acompanhou a sua vida. Lucano, que revela na Farsália uma verdadeira veneração pelo herói estoico em que Catão se tornara nessa época, retoma-a, por sua vez, e não somente a desculpa, mas explica e justifica a conduta do homem que considera o maior dos Romanos.
Os maliciosos não se coibiram de pensar que esta aventura disfarçava motivos pouco honrosos. O velho Hortênsio era extremamente rico. Quando morreu, pouco tempo antes do início da guerra civil, Márcia herdou a maior parte da sua fortuna e voltou para junto do seu primeiro marido, com quem voltou a casar. Não era necessário mais para se ser levado a acreditar que ela se tinha prestado a uma verdadeira caça à herança, baixeza que é difícil de atribuir a Catão. De fato, o casamento não era para ele, como diz Lucano, senão um meio para assegurar a sua posteridade109: tudo o que tivesse a aparência de prazer, até as afeições mais naturais, cedia perante as exigências do dever. Ora, na realidade, os argumentos invocados por Hortênsio eram de molde a persuadir Catão: mais do que nunca, em 56, altura em que se realizou o casamento de Márcia com o velho orador, era preciso que a nobreza apresentasse uma frente unida contra a ambição dos triúnviros. Tudo o que pudesse estreitar os laços entre as grandes famílias, as que dominavam a vida política, tornava-se um dever imperioso. Como teria podido Catão comparar, mesmo que por um momento, o que considerava ser o interesse supremo do Estado e a satisfação de um sentimento pessoal, por legítimo que fosse. As suas convicções estoicas estavam de acordo, neste aspecto particular, com as suas máximas de velho romano. O juramento prestado ao censor impunha-lhe apenas que casasse “para ter filhos”. Atingido este objetivo, era livre de renunciar a uma união que tivesse sido fértil. Fê-lo tão mais naturalmente quanto desejava ardentemente afirmar esta outra liberdade que o desobrigava das suas afeições humanas e lhe permitia submeter-se aos imperativos da razão. Sacrifício deliberado oferecido para bem da cidade, esta “cessão” de Márcia podia parecer, a quem julgasse apenas do exterior, muito semelhante a um desses divórcios que os costumes admitiam. Porém, enquanto os divórcios “vulgares” tinham origem do desejo de salvaguardar ou assegurar a felicidade pessoal, este estava como que santificado pela nobreza do seu motivo e tanto mais legitimado quanto era doloroso. Que Catão se deixou seduzir pela estranheza e pelo carácter singular da aventura, não devemos duvidar. Este filósofo orgulhoso tinha o gosto do paradoxo e um desprezo completo pelos preconceitos da opinião comum. Mas enganar-nos-íamos gravemente se lhe atribuíssemos motivos interessados ou simplesmente egoístas. Na hierarquia dos deveres, as obrigações contraídas para com Márcia estavam longe das obrigações que reconhecia ter para com o Estado. Também Títo, mais de um século depois, irá devolver Berenice.
A atitude de Catão não é, portanto, tão excepcional, tão extraordinária, como ele se comprouve, talvez, em pensar: este perfeito controle de si e este desprendimento das afeições mais legítimas, a partir de uma convicção filosófica, não desmentem a tradição romana que, no casamento, subordinava os “direitos do coração” às obrigações da cidade. Neste domínio, como em muitos outros, o estoicismo vinha justificar pela razão uma regra de vida instintiva, imposta pela tradição ancestral. No entanto, o “sacrifício” de Catão foi mais notável por ter ocorrido em um tempo em que os costumes tendiam cada vez mais a rejeitar a austeridade antiga e em que os sentimentos de ternura, como nos mostraram os poetas, desempenhavam um papel cada vez maior nas relações entre os homens e as mulheres, entre os maridos e as suas esposas. Afirmação extrema de um rigorismo algo fora de moda, o divórcio de Márcia pretendia ter o valor de símbolo e, de fato, foi dessa forma que Lucano entendeu quando conta pormenorizadamente o episódio. A Farsàlia mostra-nos a submissão de Márcia a este dever estranho, imolando a sua própria sensibilidade de mulher para ser digna daquele que é para ela, não apenas um marido, mas um guia espiritual.
Mais tarde, depois da morte de Hortênsio, Márcia dirigiu-se a Catão e pediu-lhe para a voltar a aceitar: “Concede-me o direito - fá-la dizer Lucano - de ter inscrito no meu túmulo: Márcia, mulher de Catão" Isto significa que a união que resulta da sua vontade é indissolúvel e superior a todas as uniões que resultam da carne. Este novo casamento de Márcia e Catão não foi “carnal”. Catão não o quis e Márcia não podia, com certeza, pretendê-lo. Situava-se para além do casamento “vulgar”, em um acordo que já não devia nada aos sentidos, mas consistia na adesão aos mesmos valores morais.
Assim, e não sem algum paradoxo, é Catão que nos ensina como o casamento “político”, cujo princípio hoje nos escandaliza um pouco, como se fosse uma profanação, podia tornar-se em uma das formas mais elevadas de acordo entre dois seres, convencidos de que as suas responsabilidades para com a Cidade são mais importantes do que o seu destino pessoal. Vimos, na verdade, que certas esposas procuravam sobretudo satisfazer o seu instinto de poder, o seu amor à riqueza ou o seu gosto pela intriga. Mas vemos agora que muitas outras queriam ser espiritualmente iguais ao homem que era seu companheiro e que faziam questão de partilhar o seu ideal, mesmo quando este não lhes reservava senão um lugar menor.
Independentemente do que possamos pensar da questão, Catão e Márcia não são um casal isolado nesta Roma onde os poetas começam a cantar quase exclusivamente o amor mais livre e apaixonado. Muitas mulheres aspiram a compartilhar, ainda que tal resulte em seu desfavor, a vida perigosa de um marido fortemente decidido a não negar os seus compromisso políticos. A época das guerras civis abunda em exemplos de “devoção conjugal”. Apiano, por exemplo, dedicou-se a reunir histórias edificantes onde se vêem as mulheres dos proscritos recusar uma salvação de que seriam as únicas a beneficiar. É o caso, por exemplo, da mulher de Apuleio, que ameaça entregar o marido aos triúnviros, se se obstinar a excluí-la do seu exílio, ou a de Copônia, que sacrifica o seu pudor a Antônio e exige como pagamento dos prazeres que lhe proporcione a vida do seu marido111. Em outro lugar da obra, o mesmo Apiano diz-nos como a mulher de Ligário, tendo falhado nos esforços para salvar o marido, se deixa morrer de fome para não lhe sobreviver112. Mais célebre ainda é a história de Pórcia, a filha de Catão, que foi a segunda mulher de Brutus. Alguns tempos antes dos idos de Março de 44, deu-se conta de que o marido andava angustiado com um segredo que não ousava confiar-lhe. Então, feriu-se de propósito com uma faca e como Brutus se mostrava solícito, disse-lhe:
"Eu. Brutus, eu, que sou a filha de Catão, eu vim para tua casa. não, como as mulheres que querem ser apenas concubinas, para partilhar unicamente a tua cama e a tua mesa, mas para partilhar contigo felicidade e infelicidade..."113
E arrancou-lhe o segredo. Durante a hora trágica em que a conspiração é levada a cabo, fica tão profundamente perturbada que desmaia e a julgam morta114. Quando Brutus foi obrigado deixar a Itália, embarcou em Eleia e Pórcia seguiu-o até à embarcação. Corajosamente, esforçava-se por dissimular a sua dor, mas o seu olhar encontrou por acaso um quadro que aí se encontrava e que representava o adeus de Andrômaca e Heitor e desfez-se em lágrimas. Acílio, um amigo de Brutus, pôs-se então a recitar os versos famosos da Ilíada:
"Heitor, tu és para mim um pai e uma mãe venerada, e também um irmão e um vigoroso companheiro do meu tálamo..."
Após o que Brutus teve um sorriso e acrescentou:
"Sim, mas eu não poderia dizer a Pórcia as palavras de Heitor: Regressa a casa e ocupa-te dos teus trabalhos, do tear e da roca e ordena às servas... porque Pórcia tem uma alma viril para com a sua pátria..."115
Pórcia era uma digna filha de Catão, dir-se-á talvez. Contudo, também não era uma mulher “excepcional”, nestes tempos conturbados. Uma inscrição famosa, infelizmente mutilada, dá-nos a conhecer a história de uma senhora romana a quem os modernos durante muito tempo chamaram Túria, mas que é necessário resignar-nos a deixar no anonimato116. Desde o tempo do seu noivado, como o seu noivo se tivesse juntado às forças de Pompeu na Macedonia, demonstrou a sua força perante uma primeira tragédia familiar: tendo o seu pai e a sua mãe sido assassinados, perseguiu ela mesma os criminosos e conseguiu que fossem punidos. Em seguida, parentes mal intencionados tentaram anular judicialmente o testamento do pai. Sozinha, conseguiu frustrar a manobra e, quando o seu noivo regressou, a fortuna de ambos estava salva. Contudo, depois do casamento, quantas dificuldades ainda! Proscrito, o marido não ficou a dever a vida senão à habilidade e à audácia tranquila da mulher, que soube melhor do que ele mesmo cuidar da sua segurança e fornecer-lhe o dinheiro e os meios para subsistir. Disposta a tudo fazer para obter a revogação do édito de proscrição, lança-se aos pés de Lépido, que a afasta brutalmente. Por fim, reencontra o marido, que é anistiado, sem dúvida, em grande parte, graças a si.
Pareceria que, após tanto provas, esta esposa exemplar merecia uma existência plenamente feliz. A família tem todas as condições para o ser: a fortuna e o afeto mútuo. No entanto, a sua união é estéril e a mulher está desolada. Acusa-se por esta esterilidade e propõe afastar-se: que o seu marido case com uma mulher mais jovem e mais feliz. No elogio fúnebre que fez da sua mulher, o marido exprime-se assim:
"Duvidando da tua fecundidade, pesarosa por eu não ter filhos e para não me veres perder a esperança de os ter, ao conservar-te como minha mulher, nem ser por esta razão infeliz, falaste de divórcio e quiseste esvaziar a casa, deixando-a para a fecundidade de outra. Não tinhas outra intenção, tendo em conta o nosso acordo bem conhecido, senão procurar tu mesma um partido digno de mim e fazer esse casamento. Afirmavas que os filhos que viessem seriam comuns e os considerarias como teus. Não compartilharias o nosso patrimônio, que permanecera até então indiviso, mas ficaria, tal como antes, à minha disposição e, se eu quisesse, sob a tua orientação. Não ficarias com coisa alguma, não guardarias nada de teu, dedicar-me-ias doravante os cuidados e a afeição de uma irmã ou de uma cunhada..."117
Perturbado por tal oferta, o marido, menos "virtuoso” que Catão, menos preocupado em colocar os valores sociais acima dos sentimentos privados, recusa energicamente o sacrifício da mulher:
"Permaneceste comigo, porque não teria podido aceder ao teu desejo sem me desonrar nem nos tornar a ambos infelizes."118
Desonrar-se: eis uma preocupação “mundana” que não atormentava nada Catão. O marido de Túria, mais humano, pensa na opinião dos seus iguais, que, provavelmente, teriam repreendido a sua conduta, e também não tem força para destruir uma felicidade cujo enorme valor reconhece e que ele coloca, apesar dos “preconceitos” ancestrais, acima da preocupação de assegurar a continuação da sua linhagem.
Mais do que os discursos dos retóricos, a laudatio de Túria permite- mos conhecer o verdadeiro estado da opinião romana acerca do casamento, nos últimos anos da República e no início do Império. Energia da mulher, capaz de fazer face às crises mais graves, confiança no seu marido, que encarrega de administrar os seus bens, quando a lei permitia que assumisse ela mesma esta tarefa, devoção total, abnegação que lhe faz esquecer o orgulho de mulher - nada há neste retrato que contradiga a imagem que podemos ter construído das mulheres romanas, para as quais a relação conjugal não é apenas, como dizia Pórcia, uma relação entre uma amante e o marido. Pelo contrário, é o marido que se encarrega de salvaguardar a fortuna pessoal da mulher, a substitui nas suas generosidades para com os parentes que pretende ajudar, a cumula de afeto e consideração e a protege dos excessos do seu heroísmo. Parece que este exemplo de uma vida conjugal “longa, sem conflitos durante quarenta e um anos”, nos revela o feliz equilíbrio a que então chegaram os costumes romanos, que conseguiram conciliar o que era aparentemente inconciliável: a independência das mulheres e a sua docilidade, a situação social e o afeto, os direitos do coração e os imperativos da razão. É um quadro algo idílico, mas lúcido. Nem todos os casamentos, por certo, se assemelhavam a este, e o marido que mandou gravar esta inscrição sabia-o melhor do que ninguém, dado que escreveu: “Raros são os casamentos assim tão longos que terminam na morte sem que um divórcio os interrompa”119. Todavia, é suficiente que este casamento possa ser considerado um exemplo e um modelo para que, apesar de Ovídio e, dentro em pouco, apesar de Juvenal, não possamos considerar como irremediavelmente pervertida e decadente uma sociedade capaz de entender uma tal linguagem.

Há um poeta latino cujo nome é inseparável do sentimento amoroso e que pagou esta reputação com o exílio. Se Ovídio não tivesse escrito os "Amores" e "A Arte de Amar", talvez tivesse terminado tranquilamente a sua vida em Roma, em vez de ter conhecido os rigores do Inverno cítico e a solidão nas margens do Mar Negro, nas fronteiras do Império. Mas se tivesse sido mais discreto, não possuiríamos hoje, graças a ele, o testemunho mais direto e mais vivo acerca dos amores dos Romanos durante os anos que separam a República do início do Império.
Ovídio é o autor de A Arte de Amar, obra que exala um perfume de escândalo. Não pensemos que o escândalo começou com os séculos cristãos. O próprio Augusto julgou - ou fingiu julgar - que este pequeno poema era incompatível com a dignidade romana. Augusto, que se entregou a todas as licenças durante a sua vida e que sabia aliar as aparências da virtude mais severa com os passatempos mais fúteis, não acreditou, certamente, que a opinião pública fosse completamente tola quando fingiu justificar o exílio com que castigou o poeta na idade madura com a imoralidade das suas primeiras obras. Os historiadores modernos interrogam-se sobre os motivos reais desta condenação. Falam, por vezes, com plausibilidade, de obscuros motivos “políticos ou religiosos”, mas nenhum toma muito a sério as críticas oficiais dirigidas ao poeta. Todavia, não deixa de ser verdade que o príncipe se julgou no direito de banir das bibliotecas públicas, por “imoralidade”, estes poemas amorosos e o próprio Ovídio, nas elegias que escreveu no exílio, manifesta um arrependimento que talvez não sinta, mas que julga ter de expressar para merecer o regresso.
Contudo, o que há em A Arte de Amar e nas elegias dos Amores que não se encontre já em Terêncio, ou, pior ainda, que não corresponda à prática diária dos amores romanos? De tradição imemorial, o amor às cortesãs era permitido. (Catão, concordando com esta tolerância, não lhe tinha medido, com certeza, as consequências, mas, independentemente do seu ascendente sobre os seus concidadãos, não podia esperar, durante os dezoito meses em que durou efetivamente a censura, fazer deles puritanos inflexíveis.) A Arte de Amar não tem, manifestamente, outra ambição que não seja ensinar a praticar estes amores permitidos. Ovídio pretende ser apenas um destes jovens a quem se perdoavam as extravagâncias:
"Afastai-vos - diz ele - atilhos finos, insígnias da decência, e vós, folhos, que alongais os vestidos e cobris, envolvendo-os, os pés das mulheres. Nós, o que cantamos é uma Vênus permitida e favores tolerados, e o meu poema não deveria ser acusado de nada".2
Horácio, poeta oficial, dissera mais ou menos a mesma coisa e incentivara os jovens a realizar as suas loucuras na companhia das mulheres desprotegidas das leis. Mas Augusto teria podido responder, retomando, aproximadamente, as palavras de Catão ao jovem intemperante: “Louvo Horácio por incitar os jovens a ir ver as mulheres, mas puno Ovídio porque os encoraja a passar a vida com elas!”
Ovídio tinha, aliás, uma vida familiar bastante digna e amou a sua mulher com ternura. O que ele nos diz da sua afeição por ela, durante o seu exílio, e do grande sofrimento que tiveram quando foram obrigados a separar-se3 prova, indubitavelmente, que era um “bom marido”, fiel e terno. Mas se a sua vida era casta, a sua Musa não o era. Embora Augusto, emitindo contra o poeta uma sentença de exílio, tenha sido realmente guiado, pelo menos em parte, por considerações morais, não foi um debochado quem ele puniu, mas o cronista de uma sociedade cujo imperador envelhecido, ferido nos seus afetos familiares (o exílio de Ovídio aconteceu pouco depois do escândalo da segunda Júlia), parece ter descoberto de repente que ela se comprazia em jogos perigosos.
Poetas anteriores a Ovídio - Catulo, cerca de trinta anos mais cedo, Tibulo e Propércio, na geração que precedeu imediatamente a de Ovídio - tinham falado dos seus amores. Tinham expresso em verso sentimentos que eles mesmos fortemente sentiam. Pelo contrário, Ovídio, em A Arte de Amar e nos Amores, não se inspira na sua experiência pessoal. Por mais que finja que a heroína dos Amores, a quem chama Corina, foi sua amante, recorre mais frequentemente à imaginação do que às recordações. Ele inventa a maior parte do seu “romance”, ainda que, de longe em longe, algumas peças lhe sejam inspiradas por amores reais. Mas, precisamente por esta razão, Ovídio é a testemunha do seu tempo. Os seus precursores, em larga medida, tinham dado testemunho de si mesmos. Ele, pelo contrário, representa fielmente a opinião que os seus contemporâneos tinham do amor, a ideia que tinham do papel deste na vida dos seres, a parte que se devia atribuir-lhe, os fins que prosseguia.
Ovídio é o último dos “elegíacos” latinos. Com ele. um gênero poético que se criara em Roma, e que servia, precisamente, para cantar o amor, chega ao seu termo. O que fora, em primeiro lugar, poesia pessoal e diário de uma paixão vivida quotidianamente, transforma-se com ele em uma teoria de ambição “universal”. Ele colhe os frutos de uma evolução para a qual contribuíram os sofrimentos, e as obras nascidas destes sofrimentos, dos maiores poetas que o precederam. No seu tempo, estas obras exerceram a sua ação sobre os espíritos e, graças a elas. assistimos à organização de uma experiência inteiramente nova do amor a qual, com variações individuais, encontra a sua forma definitiva nos poemas de Ovídio, Catulo, Tibulo e Propercio deram todos a sua contribuição, trabalhando, inconscientemente, para libertar o espírito novo das palas que o limitavam e coube a Ovídio elaborar como que o balanço de meio século de amores de que Roma saía transformada, após uma crise moral que arruinara definitivamente concepções com sete séculos.
Aparentemente, o amor que Ovídio descreve não é muito diferente do que encontramos no teatro de Terêncio, mas o que a ficção cômica situava na Grécia encontra-se agora transportado para Roma e é vivido quotidianamente. A Roma de Ovídio não é a “rainha das cidades”, não é a que impõe as suas leis ao gênero humano, ela é, por excelência, a cidade dos amores. Tudo nela, a acreditar em Ovídio, convida a amar: por toda a parte, as ruas, praças e pórticos oferecem inúmeras beldades vindas de todas as regiões do universo para conquistar os seus vencedores. Jovens, quase ainda umas crianças, mulheres no esplendor da juventude, mulheres mais maduras (cujo grupo é, de longe, o mais numeroso) passam e voltam a passar sob o olhar dos homens, esperando apenas quem as queira. Não há nada, nem sequer o antigo fórum, que não esteja transformado em lugar de encontros e não constitua uma armadilha para os severos jurisconsultos4. A Roma de Ovídio assemelha-se bastante, por conseguinte, à “pequena cidade” que Plauto descrevia, em que todos os olhares estavam à espreita dos estrangeiros. Mas já não são uma ou duas servas que eles saúdam com elogios duvidosos, é uma multidão imensa, sempre em mudança, sempre renovada, que parece não ter vindo a Roma senão para excitar o desejo masculino.
O amor para Ovídio, e, sem dúvida, para a maioria dos seus contemporâneos, é sobretudo o desejo. Amare, amar, significa em latim, em primeiro lugar, ser o amante ou a amante de alguém, e A Arte de Amar será a compilação dos conselhos mais eficazes para obter os favores de uma mulher. Mas, para além disso, Ovídio evita falar, como dissemos, de outras mulheres que não sejam as que vivem da sedução e cuja única preocupação, a única razão de ser, é, precisamente, conseguir e conservar amantes. Não se fala da vida conjugal, em primeiro lugar, por decência e, em segundo lugar, porque o casamento não é considerado, evidentemente, como o lugar dos “amores”. Ovídio, ainda que ame a sua mulher, limita-se aos lugares comuns tradicionais quando fala do tema das uniões legítimas. Em um certo passo do seu livro, insiste na necessidade de cada amante dar provas de bom carácter na relação com o outro:
"Que a mulher legítima e o marido busquem discutir um com o outro e se afastem - diz ele -, que se convençam que estão sempre em litígio um com o outro... Que a amiga, essa não ouça senão as palavras que deseja. Não foi a lei que te ordenou que viesses precisamente para a cama desta mulher. O que para vós faz lei e o Amor."5
Sem a imposição das leis, o amor reencontra a sua própria verdade. Ele não pode alimentar-se com mentiras, a menos que se seja muito rico e se possa, à força de presentes, manter dependente aquela que se deseja. Qualquer que seja o juízo que a nossa moral possa emitir relativamente a esta liberdade absoluta do prazer, não deixa de ser verdade que ela criou as condições para uma experiência amorosa “em estado puro”. Perigosa para a vida social, até para o futuro de Roma, destruidora, a prazo, da família e mesmo da pessoa, permitia ao sentimento amoroso tomar consciência de si e atingir outros refinamentos.
A tentativa de Ovídio, pelo que tem de objetivo e de impessoal, impunha-lhe que aceitasse certos dados comuns, nomeadamente todos os preconceitos romanos sobre a “psicologia das mulheres”. Como teria podido ele introduzir matizes se não falava realmente em nome de uma experiência pessoal e se as mulheres a que se refere não são seres reais, mas são todas, em grau variável, tipos abstratos? Há “a loura” e “a morena”, a grande e a pequena, a mulher culta e a ignorante, a senhora e a serva e, à força de pretender dar conselhos válidos para todas, o poeta esquece um pouco que o amor entre dois seres tem sempre algo de específico, que a paixão é a aventura mais banal, mas também a mais pessoal que pode haver.
No entender de Ovídio, toda a mulher é um ser de paixão e, portanto, uma vítima pronta a aceitar o seu sedutor. E não está a pensar apenas nas cortesãs, cujo ofício é seduzir. Como todos os romanos - cuidados tinham para proteger as companheiras dos demônios do desejo -, está persuadido de que esta fraqueza é um dos traços essenciais da natureza feminina. “O seu desejo é mais forte que o nosso e envolve mais violência e mais desregramentos." É mais ou menos esta a argumentação defendida pelos filósofos quando tentavam justificar as leis que autorizavam as mulheres a casar-se a partir dos 12 anos, “por causa do desejo que têm”. Essa é a lei da criação, e Ovídio não deixa de citar muitos exemplos deste frenesim amoroso que a opinião comum atribuía às mulheres. No fim do seu poema, não deixará, porém, de evocar, discretamente, o das mulheres que não sentem nenhum prazer, porque a Natureza lhes recusou a voluptuosidade. Deverão apenas simular, como cortesãs bem ensinadas, as emoções mais intensas7.
Ávidas de amor e, aparentemente, não pensando senão nele, as mulheres dedicar-se-ão a todas as coquetarias. Todo aquele que quiser conquistá-las terá apenas de as elogiar. Todos os elogios são bons: os encantos físicos, a toilete, os adornos e o espírito oferecem todos ampla matéria para lisonjas (em parte) sinceras. Os amantes devem saber até onde podem ir sem se exceder e tomar a lisonja demasiado evidente. A sua tarefa torna-se mais fácil quando a dama começa a ter uma certa idade e a preocupar-se com o seu poder. Ovídio, segundo nos diz, prefere a mulher que ultrapassou cinco lustros: os seus sentidos não são menos exigentes, mas, mais do que na sua primeira juventude, tem o condão de se deixar enganar.
A par dos elogios, o que mais toca a mulher é a amabilidade. Chegámos a uma época em que a mulher, mesmo a cortesã, mesmo a que foi libertada ontem, é para o seu amante a domina, a "senhora", que tem todo o poder sobre ele. Domina é o termo com que os escravos da família designam a senhora. Tem o seu equivalente na linguagem amorosa dos Gregos: curiva. Os amantes, em Roma, usam-no quer para conferir àquela que amam a dignidade correspondente, quer para expressar a sua submissão total. Para os outros, ela não é senão uma puella, uma jovem; para o amante, é a “senhora” e, de fato, ele presta-lhe todos os serviços que se pedem habitualmente aos escravos. Se na rua faz calor, leva-lhe a sombrinha; se se penteia, segura-lhe o espelho, tarefa que pertence à omatrixs. E Ovídio não deixa de recordar o mito de Hércules, que se tornou servo de Ônfale. O Amor é um deus poderoso, capaz de arrancar um ser à sua própria natureza e forçá-lo a agir contra as suas inclinações. A mulher delicia-se com este poder que o deus lhe delega e, para o afirmar, está disposta a todos os reveses.
Esta dependência e esta devoção, que, em princípio, encontram a sua recompensa na conquista e no prazer, são comparadas por Ovídio, bastante curiosamente, com as do soldado: “o amor é uma espécie de serviço militar”9. Este é o tema que desenvolve com uma certa condescendência, mas de que não é, porém, o inventor. Tibulo já o tinha mencionado10. Todavia, Ovídio repete-o convictamente, retirando dele consequências de um grande alcance. Em Roma, o soldado está unido ao seu chefe por um juramento; não é mais senhor de si próprio e só volta a ser um homem livre no fim do seu “serviço”. Analogamente, no amor, é necessário renunciar a toda a liberdade, correr à noite pelos caminhos, não importa sob que tempo, não mais pensar em si, mas tudo enfrentar para reencontrar a sua amiga! Não há dúvida de que esta sujeição total é, em primeiro lugar, um impulso do instinto, e o mundo animal não deixa de oferecer bastantes exemplos dele. Mas o que é notável aqui é que este dinamismo natural seja justificado e codificado e que se peça, no amor, uma perfeita abnegação da vontade masculina, uma atitude bem diferente da que se adivinha nos costumes da velha sociedade romana. Anteriormente, a mulher era respeitada, mas por ser esposa. Rodeavam-na de honras, contudo tinham um grande cuidado em limitar o seu domínio ao interior da casa; quando se tratava dos assuntos importantes, nenhum romano digno deste nome obedeceria aos caprichos da sua mulher. Na sociedade que Ovídio nos descreve - e que era a das “pessoas de bem” do tempo de Augusto tudo se faz ao contrário das tradições ancestrais: o homem livre torna-se escravo, o apaixonado toma-se servo de um ídolo de quem um simples sinal pode mergulhá-lo no desespero ou enchê-lo de felicidade. Até então, a esposa era “mãe” e “senhora”, mãe em relação ao marido, senhora para os seus empregados e para os da casa. Agora, a companheira (e não somente a amiga de uma noite ou por uma temporada) é toda-poderosa; o seu poder exerce-se primeiramente sobre aquele a quem outrora (em um casamento à moda antiga) deveria respeito e obediência. Por uma curiosa inversão, o homem torna-se escravo, porque ama, porque não tem a seu favor a proteção das leis: se deseja continuar com uma ligação que lhe traz felicidade, deve saber que esta felicidade não depende dele, mas de um desses seres que se diz serem mutáveis, apaixonados, mentirosos, infiéis. E, para tornar propícia este divindade caprichosa, não pode ter limites a sua condescendência.
Em A Arte de Amar, Ovídio aconselha mesmo ao amante que feche os olhos às infidelidades da amante. O amante pode, sem remorsos, permitir-se algumas aventuras: “Que a minha censura”, escreve Ovídio, "não vos condene a uma só amiga... é o que uma esposa legítima com dificuldade mantém, mas que a vossa falta seja um pequeno furto dissimulado e use de moderação”11. Até aqui, nada de muito surpreendente Mas dá que pensar este outro conselho: “Se tens um rival, sê paciente: a vitória voltará a ser tua... O melhor será ignorar tudo; consente que as suas infidelidades sejam desconhecidas para que, não sendo obrigada a confessar, não perca a face”12. Por conseguinte, é comportar-se como um tosco pretender retirar à amiga o direito de escolha. Os romanos, maridos dos mais ciumentos, aprendiam a ser os mais liberais dos amantes. Catulo já tinha falado com moderação das primeiras infidelidades de Clódia13. As “partilhas” - inevitáveis quando se tinha cortesãs - deveriam ser intoleráveis, se o objeto escolhido fosse uma mulher que o seu gênero de vida fazia incluir entre as "matronas". Contudo, não era isso o que se passava. Parece que só no casamento o ciúme era aceito e o que se sentia quando se amava livremente devia ser dissimulado, se não se quisesse passar por homem inconveniente e grosseiro. É bastante surpreendente pensar que, neste tempo, o homem que teria exercido uma vingança exemplar sobre um rival que tivesse surpreendido junto da mulher legítima não ousaria sequer dar mostras de mau humor se fosse traído pela amante! Nesta sociedade sem liberdade, teme-se muito constranger os sentimentos, depois de se ter optado por os subtrair às leis. Reações tidas por naturais e espontâneas são, na realidade, muito comandadas pelos costumes e reguladas pelo hábito!
Os velhos romanos talvez pensassem menos em submeter as mulheres à coação e mais em formá-las na disciplina e para que dirigissem pela razão as suas relações com os maridos. Todavia, na época de Ovídio, era necessário render-se às evidências: esta tentativa constituiu um malogro completo. O amor, a mais irracional das paixões, vingou-se e os orgulhosos descendentes de Rômulo tiveram de se tornar suplicantes das mulheres que as leis não autorizavam a tomar por companheiras legítimas, que nunca poderiam obrigar a partilhar a sua vida, mas que teriam sempre a liberdade de os deixar e dar o seu amor a outro.
Neste quadro, de fato bastante pessimista, que Ovídio traça em relação ao amor, há, todavia, uma compensação: é que as mulheres não são menos ávidas que os homens de conservar as suas conquistas Depois de ter repetido com indulgência que as mulheres são mentirosas e astutas, que as falsas juras não lhes custam nada. Ovídio reconhece que elas têm, mais do que os homens, a virtude de fidelidade. O elogio, dirigido a amantes profissionais, é bastante inesperado: “Também a Virtude é mulher, quer pelo seu vestuário, quer pelo seu nome e não surpreende que agrade ao seu sexo”14. Mesmo as mulheres que não reconhecem o dever de ser virtuosas, e que são aquelas a quem se dirige A Arte de Amar, participam, contra a sua própria vontade, desta fidelidade que faz parte do seu carácter natural.
Assim, A Arte de Amar, que, à primeira vista, não parece ser senão um manual do perfeito sedutor e ter apenas por objetivo fornecer armas ao que procuram o prazer, transforma-se gradualmente e enriquece-se à medida que os sentimentos que descreve são aprofundados. Para além das coquetarias e das manobras galantes, eis que nasce o amor. Já não se busca o prazer por si mesmo, mas a sua partilha:
"Odeio um abraço que não deixe um e outro ofegantes e, acrescenta Ovídio, essa é a razão por que sou menos sensível ao amor com um rapaz. Odeio a mulher que se deixa usar, por ser necessário que se deixe usar, que permanece hirta e se distrai durante este tempo com o seu próprio mundo. O prazer que é dado por cortesia não me agrada de modo nenhum. Não quero que a minha amiga seja comigo apenas cortês. Do que eu gosto é de ouvir palavras que traiam os seus gozos, que peça que me demore e me contenha. Ah! Possa eu ver os olhos esgotados da minha amante meio inconsciente, que se sinta sem forças e peça, durante muito tempo, que não lhe toque!"15
Neste momento de plenitude partilhada, o amor abre-se à ternura e, de maneira mais inevitável do que o poderiam conseguir as leis, une os dois amantes em um mesmo esquecimento de si.
Todas estas confissões do poeta são bastante indecorosas, é um fato, mas têm o mérito de abordar, com toda a liberdade, o verdadeiro problema. Pouco a pouco, Ovídio descobre e revela aos seus leitores que o amor, se conseguir equilibrar harmoniosamente ternura e reconhecimento, é suficiente para preencher a vida e criar entre dois seres uma relação duradoura. Suponhamos, sugere Ovídio, sem, porém, o dizer abertamente, que dois esposos teriam chegado a este conhecimento, que à compreensão mútua aliariam uma atenção constante, que, para assegurar a estabilidade do seu casamento, confiariam menos na coação das leis do que na cortesia e na complacência. Estes esposos não seriam felizes? Seriam felizes, porque, em primeiro lugar, seriam amantes. Esta verdade, que parece ser, de fato, para ele, fruto da experiência, as convenções da moral romana impedem que seja proclamada, mas é a lição que emerge de toda a sua obra. O amor dos amantes, um amor humano, levado até à sua plenitude, é descrito por ele de mil maneiras, nas Metamorfoses e nas Heroídas. Não foi Ovídio que nos deixou o mito mais comovente do “velho casal'', o casal, que se tornou lendário, de Filemo e Báucis, dois camponeses que passaram a vida inteira ao lado um do outro, porque se amavam e pediam aos deuses que nem na morte fossem separados?16 As Heroída que são cartas fictícias atribuídas às heroínas lendárias, atribuem, por sua vez, aos apaixonados de antanho os sentimentos analisados nos Amores e em A Arte de Amar. Penelope, Ariadne e Laodâmia pensam e sentem como cortesãs, mas porque o amor das cortesãs é aquele que melhor permite atingir a plenitude e a verdade da paixão.
Era nisso que consistia a imoralidade de Ovídio, e não no realismo e indecência das suas descrições. Revelava ao seu século o que este já tinha de algum modo percebido: não há, por um Lado, um amor “permitido” e, por outro, amores “tolerados". Como depois de Lucrécio, Virgílio tinha escrito, o amor é o “mesmo para todos os seres vivos”, a paixão tem as suas raízes no próprio ser, não é uma doença nem uma aberração vergonhosa.
***
Em uma sociedade em que os amores livres assumiam cada vez maior importância, quando a “cortesã” tendia a reforçar o seu domínio as mulheres “honradas” não podiam deixar de procurar vingar-se. Muitas, decerto, continuavam fiéis às virtudes ancestrais e se recorriam a secretas seduções para melhor conservar os maridos, a história não nos-las deu a conhecer. Mas outras, por seu lado, resolveram conquistar a sua liberdade e também, uma vez que as cortesãs eram mais bem amadas, comportar-se como elas. Com é natural, muitas excederam-se.
Na época de Cícero, durante os últimos anos da República, o movimento já tinha começado. São referidas muitas mulheres, aristocratas por nascimento, cujo comportamento não correspondia ao seu estatuto. Ao “viverem a sua vida”, usavam o mesmo ardor que as suas mães a afirmar, anteriormente, a sua autoridade na casa. Algumas não recuavam perante o crime para saciar as suas paixões. A correspondência de Cícero abunda em perfis de mulheres debochadas e violentas e tende a dar-nos a impressão de uma sociedade em que os antigos valores morais são cada vez mais desprezados. As “matronas” cantam, dançam, tocam lira como as cortesãs, vestem tecidos ligeiros, que revelam mais do que encobrem, mudam várias vezes de marido durante a vida, preocupam-se pouco em ter filhos e ainda menos em criá-los, porque, como nos lembrará Ovídio mais tarde, a fecundidade prejudica a beleza. Estas mesmas mulheres, como nos diz, não se satisfazem só com um marido de cada vez, mas mantêm vários namoros que lhes gratificam os sentidos e a vaidade, ou servem os seus interesses. Veremos também que se imiscuem na política, entram em conspirações (havia várias damas desta espécie entre os cúmplices de Catilina)17, esforçam-se por manobrar os homens do poder, recebem em sua casa, empenham-se e dedicam-se sem limites, tendo contribuído em grande medida para criar a atmosfera de intriga e agitação desordenada em que naufragou o regime. Este quadro é clássico, baseia-se em testemunhos autênticos, mas não esqueçamos que, no entender dos historiadores romanos, qualquer mulher que não se limitasse ao seu papel tradicional, que não permanecesse em casa, naquela que era a parte mais importante da sua vida, a orientar as suas servas ou mesmo a fiar lã, seria já, por tudo isso, objeto de escândalo. É de hesitar um pouco antes de se admitir que a maior parte das damas deste tempo foram, afinal, Messalinas insaciáveis.
A condenação frequentemente lançada sobre esta sociedade pelos historiadores modernos carece de distinções, quando não está mesmo impregnada de algum farisaísmo. Eis o juízo de Drumann:
"Havia poucas mulheres marcantes, nesta época, que não provocassem escândalo ou não fossem culpadas de infidelidade na vida conjugal. A sua má conduta tinha mais influência sobre a juventude e os seus próprios filhos do que a dos homens, embora também estes devam ser criticados, por terem negligenciado as suas esposas e terem relações condenáveis com outras mulheres. Mas o Estado carecia então de fundamento religioso e a vida privada não tinha nenhuma base sólida, uma vez que também ela deve estar impregnada de fé religiosa para se tomar vigorosa e próspera".18
Este juízo equivale a dizer que a imoralidade natural (ou que assim se acredita que seja) de certas mulheres justifica e alimenta, nessa época, a expectativa de um renascimento religioso. Felix culpa!... Mas Drumann, que escrevia, de fato, muito antes dos estudos modernos dedicados à história religiosa de Roma, não podia saber que toda esta sociedade, longe de ser ateia, estava impregnada de religião, que nunca os espíritos se preocuparam tanto com a resolução do mistério do divino. Uns voltavam-se para a filosofia, que lhes falava de Deus em termos quase já cristãos, outros praticavam cultos orientais. Aliás, Isis não tinha devotas mais ardentes e mais escrupulosas na sua prática do que as “mulheres de má vida”. Para além disso, poderemos nós estar certos de que, se as matronas tinham antigamente um comportamento melhor, a razão para tal era acreditarem firmemente na realidade de Júpiter Capitolino e na eficácia dos ritos? Não, o problema não é tão simples como se pretende!
O que parece realmente certo é que havia algum mal-estar, que a moral tradicional permanecia presa a um certo número de valores que já não eram eficazes e se recusava a reconhecer outros que, como Ovídio nos mostrou, estavam prestes a substituí-los. Se, em teoria, toda a vida familiar se fundava na abnegação da mulher, de fato, o lugar e o papel desta em uma sociedade profundamente transformada, que era o que os homens desejavam, cansados que estavam de companheiras apagadas e tristes, negavam esta ficção. Era a vingança tumultuosa e por vezes anárquica da natureza e da verdade.
Este drama foi exemplificado pelo poeta Catulo. A mulher que amou simboliza toda uma geração de amantes divididas entre dois mundos. Deu-lhe o nome de Lésbia, ela chamava-se Clódia. Pertencia a um ramo da velha família dos Claudii, uma das que tinham mais preconceitos aristocráticos e que era célebre pelo orgulho e violência dos seus homens e das suas mulheres. Catulo era apenas um provinciano, um jovem burguês da Gália Cisalpina. Tinha nascido junto ao lago de Garda, em Sírmio. O seu povo era um dos “aliados” de Roma e nenhum dos seus compatriotas, ao tempo do seu nascimento, possuía ainda o direito de cidadania. Ela descendia dos conquistadores e quando veio pela primeira vez à Gália Cisalpina foi com o seu marido, Q. Cecílio Metelo Céler, que era o governador. Talvez o seu primeiro encontro tivesse tido lugar nesta ocasião, em 62 a.e.c., tinha Catulo vinte e um anos e Clódia talvez trinta. De fato, se é certo que Metelo governava a Gália Cisalpina neste ano, nada prova que Clódia o acompanhou à sua província. É muito provável, no entanto, que o pai de Catulo, que era um personagem de grande notabilidade na colônia de Verona, tenha sido, nesta ocasião, hóspede do governador e que se tenham estabelecido relações de hospitalidade entre o jovem e o magistrado romano. Talvez Catulo tenha conhecido Clódia apenas em Roma, quando veio, no ano seguinte, prosseguir os seus estudos e prestar as suas homenagens ao antigo governador.
A família de Clódia não era das mais felizes. Cícero dirá, nesse mesmo ano, que ela “estava em guerra com o marido”. A questão que os separava tinha origem em um episódio da vida política. Clódia tinha um irmão, Públio Clódio, que se mostrava muito turbulento. Ela tinha por ele uma grande afeição - mais do que fraternal, assegurará Cícero, que, provavelmente, não sabia de nada. Mas Clódio era muito elegante, muito sedutor e Clódia foi, segundo dizem, a mais encantadora, a mais perfeita beleza do seu tempo. Isso foi o suficiente para que um advogado, que era ao mesmo tempo adversário político, se sentisse autorizado a espalhar as piores calúnias. Ora, Clódio tinha decidido tornar-se no chefe do partido popular e, para o conseguir, necessitava de conquistar o tribunal da plebe, o que lhe era impossível, pois pertencia a uma família patrícia. Só uma solução era concebível: que uma lei o autorizasse a abandonar a sua qualidade de patrício e a ser transferido para a plebe. Foi para obter a aprovação desta lei que Clódio mobilizou todos os seus amigos e os da sua irmã. Mas em breve Metelo, cedendo à pressão dos seus aliados do partido conservador, começou a fazer campanha contra Clódio. Daí a guerra na sua casa do Palatino.
É neste momento que surge Catulo. A impressão que Clódia lhe causou, quando a viu pela primeira vez, relata-nos ele num poema famoso:
"Sim, creio, iguala os deuses, ou, se tal é possível, ultrapassa os deuses, quem, sentado diante de ti, pode livremente ver-te e ouvir-te quando ris suavemente. Desditoso, perdi essa sensação. É que, quando te vejo, a minha boca, Lésbia, não tem mais palavras, a minha língua pesa-me. em todo o meu corpo uma chama sutil flui, um zumbido surdo faz vibrar os meus ouvidos, um duplo véu, sobre os meus olhos, espalha a noite..."19
São três estrofes (o poema tem quatro) que retomam, na realidade, uma ode de Safo. Ao escolher este modelo, Catulo exprime a natureza exata da sua paixão: o desejo avassalador e perturbador, mas que é, ao mesmo tempo, o desejo sem esperança. Os críticos antigos notaram que estes versos da poetisa continham “uma amálgama de todas as paixões”. Safo escreveu-os, como sabemos, para uma das suas “amigas” que a deixava para se casar. Evocam quer os sentimentos (prováveis) do noivo quer, sobretudo, a emoção da própria Safo. É significativo que Catulo tenha recorrido espontaneamente a esta poesia violenta, que mostra o amor como uma doença, uma febre que se apodera do corpo e destrói a vontade. Não devemos pensar que é apenas arte de entendido, fantasia de poeta arcaizante. Catulo “aderia” realmente a esta concepção selvagem do amor. De contrário, teria chamado Lésbia, ou seja, “a de Lesbos”, ao objeto da sua paixão? É sob o patrocínio direto de Safo que ele se coloca: a aproximação impõe-se-lhe como uma evidência. Não está, todavia, de modo algum, orgulhoso disso, porque, depois das três primeiras estrofes e deste grito de paixão, volta a si e conclui:
"É o ócio, Catulo, que te prejudica, o ócio que te arrebata e te excita até ao extremo. O ócio, noutros tempos, conduziu reis e cidades prósperas à sua perda"!
Arrastado pelo amor de Clódia, Catulo não está de "boa consciência”. Não pode opor-se-lhe, mas reconhece o abismo em que está prestes a cair. Jovem provinciano arrancado há pouco a uma cidade onde a moral tradicional continua bem viva e que em Verona falava de bom grado dos escândalos da pequena cidade, ei-lo apaixonado por Clódia. uma das “damas” mais importantes de Roma, a mulher deste Metelo que ontem governava a Gália Cisalpina e amanhã será cônsul! Censura-se a si mesmo, assumindo o tom rabugento de um tio ou um pai: “És um ocioso, Catulo, e isso faz com que te portes mal...” É demasiado impulsivo e orgulhoso para pensar nos riscos materiais que uma tal ligação lhe podem fazer correr. O seu escrúpulo é apenas moral e é o último sobressalto de uma educação provinciana, depois do qual se abandona à torrente que o arrasta.
Em breve o inesperado atinge-o. Clódia não é indiferente. Aceita este amor ingênuo e ardente e vence facilmente os escrúpulos do jovem:
"Vem viver, ó minha Lésbia, vem viver e amar e não façamos nenhum caso das palavras murmuradas pela austeridade dos velhos. Os sóis podem pôr-se e renascer, mas nós, quando findar o nosso curto dia, iremos dormir para sempre a mesma noite infindável. Dá-me mil beijos, e depois mais cem, e mais mil ainda, e cem novamente, e de seguida, sempre, outra vez mil, e cem mais uma vez. E quando atingirmos muitos milhares, baralhemos as contas para já não as sabermos, ou para que algum invejoso não possa querer-nos mal, por chegar a conhecer o número de todos estes beijos!"20
Enquanto Clódia recebia assim as homenagens de Catulo. Metelo exercia com consciência, se não mesmo com habilidade, as funções de cônsul. Entre as visitas do seu amante, Clódia enganava a sua impaciência brincando com o seu pássaro favorito; esticava-lhe o dedo, que ele mordia avidamente, colocava-o sobre o peito, como para corresponder, com esta presença viva, ao desejo que a perturbava21. A intimidade entre os dois amantes raramente era possível, o que não deveria surpreendermos, se pensarmos nos numerosos deveres que incumbiam à mulher de um cônsul e ao vaivém incessante de que a casa do Palatino não podia deixar de ser palco. Uma vez, no entanto, Clódia pôde conceder ao seu amante uma noite inteira, depois de "se ter escapado dos braços do marido”22.
Geralmente, encontravam-se na casa de um amigo comum, Mânlio Torcato, que era também poeta. Clódia, por razões que nos escapam, podia frequentar a sua casa sem suscitar escândalo. Mas ir abertamente a casa de Catulo seria uma confissão. Tantas precauções significam que os costumes não seriam, nesta sociedade, tão dissolutos como se gosta de dizer. Preocupavam-se, pelo menos, em salvaguardaras aparências. Clódia podia ser leviana, imprudente e, por vezes, culpada, mas não queria que pudessem apontá-la a dedo como adultera.
Neste momento, vários acontecimentos vieram interromper os amores do poeta. Um falecimento, o do seu irmão, que se encontrava na Ásia, perto de Tróia, causou-lhe uma dor profunda. Incapaz de permanecer mais tempo em Roma, voltou a Verona para esconder o seu desgosto. Talvez também a morte súbita de Metelo, nos primeiros meses do ano de 59 (o consulado de César), não seja estranha a esta brusca resolução. As circunstâncias desta morte, ocorrida após uma curta doença, tinham parecido misteriosas a alguns e murmurou-se em Roma (pelo menos entre os adversários políticos de Clódio e da sua irmã) que Metelo podia ter sido envenenado. Cícero, alguns anos depois, fará eco de tais rumores quando, para defender o jovem Célio, lançar contra Clódia, a sua acusadora, as piores insinuações. Seria arriscado dar demasiado crédito ao que pode ser apenas uma calúnia gratuita. Qualquer que tenha sido a causa, é possível que esta morte súbita tenha temporariamente alterado a disposição de Clódia e que esta tenha decidido não voltar a ver Catulo, pelo menos durante algum tempo23. Mas o luto de Clódia, que também não vivia em boa harmonia com Metelo, não durou muito tempo. Ainda o ano não tinha terminado e já tinha outra aventura, desta vez com Célio, que era também seu vizinho no Palatino e que parecia destinado a uma carreira política melhor do que a do poeta. Era também mais velho do que ele. Ou seja, vence-o facilmente, mesmo se recusarmos acreditar, uma vez mais, nas palavras de Cícero quando assegura que Clódia foi a sedutora e Célio a vítima inocente. Um amigo solícito encarregou-se, ao que parece, de alertar Catulo, que respondeu, aparentando indulgência:
"Embora não se satisfaça apenas com Catulo, suportarei as poucas infidelidades da minha senhora, em geral tão reservada. Não quero, como os tolos, tomar-me insuportável..."24
Mas em breve Catulo tem de render-se à evidência. Não foi para Clódia senão um devaneio. Parecia que o amava perdidamente, parecia ter estado mesmo prestes a prometer casar com ele, em um momento de abandono:
"A mulher que é minha garante-me que quer casar comigo e preferir-me-ia a todos, ainda que o próprio Júpiter lhe pedisse a mão. Ela garante-o, mas o que uma mulher diz a um amante cheio de desejo é no vento e na água fugidia que convém escrevê-lo".25
“Quero tornar-me na tua mulher, quero que sejas o meu marido." Clódia tinha-o dito, tinha-lhe prometido, aparentemente, o compromisso supremo e Catulo fora ingênuo a ponto de acreditar nela. Acreditara que o desejo era suficiente para criar os laços firmes que iriam consagrar a sua união. Em outro poema, acrescenta estas palavras significativas: “Quis-te, não apenas como qualquer um que gosta da sua amante, mas como um pai gosta dos seus filhos e dos seus genros”26.
Mas, precisamente, Clódia não queria este afeto incômodo, que a relegava para as relações familiares tradicionais, em que se sentia prisioneira. Era bem verdade que, legalmente, mas também moralmente, o marido era identificado com um pai. Mas que estranha ideia, quando se é o amante de Clódia, querer restaurar a antiga manus, ainda que em pensamento, ainda que em sonho! Clódia, nos momentos de prazer, podia parecer desejar que o seu amigo se tornasse em um marido, mas significaria isso outra coisa que não o desejo, bastante natural, de que esses momentos em que lhe pertencia durassem para sempre? Quando a vida “real” era retomada, a verdade mudava de plano. Catulo ficava para trás, enquanto Clódia estava já distante.
Entre ambos, doravante, o equívoco agrava-se. O desejo apaixonado de Catulo, sempre exclusivo, impede-o de encontrar em outro lado uma nova amante que o satisfaça, mas a outra metade do seu amor, essa ternura protetora que procurava instintivamente rodear a mulher amada com o respeito tirânico que se dedicava às esposas, isto é, a melhor parte da sua paixão, está a morrer:
"Agora conheço-te e, por isso, se o fogo que me consome é mais ardente, és-me, contudo, muito menos preciosa, menos digna de respeito. Como é isso possível, perguntas tu? Porque uma traição como a tua obriga um amante a ser mais apaixonado, mas a sentir menos ternura."27
Amare, bene velle: o amor carnal e a ternura do coração. Todo o drama de Catulo e da sua geração está contido nesta oposição. Os homens de antanho partiam do afeto, do “querer” temo, e não podiam chegar à plenitude da carne com a sua esposa. Com uma cortesã, partiam da carne sem estar seguros de querer atingir a ternura. Quem poderá realizar esta difícil harmonia? Clódia, porque era uma “senhora” e a sua aventura começara por prazeres partilhados, pudera parecer, durante algum tempo, estar disposta a satisfazer Catulo. Mas parou a meio do caminho. O que enraivece o seu amante não é tanto que seja infiel, mas a impressão de ter sido enganado por ela: “Odeio e desejo. Como os posso eu sentir, perguntas tu, talvez. Não sei, mas sinto-os e sinto-me dilacerado”28. Catulo tem consciência de ter agido de acordo com a lei divina, de ter praticado a pietas. É Clódia que é culpada de perjúrio. Ele, ele está puro, ele nunca fez nenhuma promessa que não tivesse intenção de cumprir... Que os deuses o recompensem com o descanso!29
Este descanso demorou a chegar. Clódia, que se comprometera com Célio, em 56, em um escândalo de enorme repercussão, não podia ser esquecida. Mas ele “vinga-se” com epigramas sangrentos. Uma vez, talvez no ano seguinte, ela tentou reconciliar-se com ele. Mas Catulo respondeu-lhe com estas palavras insultuosas:
"Que possa viver feliz com os seus amantes, que abrace ao mesmo tempo trezentos sem amar verdadeiramente um só e a esgotem sem descanso por todos os lados. Que não tenha sequer um pensamento, como antes, para o meu amor, que morreu por culpa sua, como uma flor na orla de um prado, depois de o arado, ao passar, lhe ter tocado com o seu ferro."30
Seria Clódia a mulher debochada e insaciável de que fala Catulo? É- -nos lícito duvidar. A sua ligação com Célio é verdadeira, mas o próprio Célio, depois da sua ressonante ruptura, garantia que ela “dizia sim na sala de jantar, mas não quando estava no quarto”31. A independência de uma mulher que recusa alienar a liberdade, mesmo no amor, suscita nos seus amantes bastantes rancores. Por outro lado, não é certo que todas as culpas sejam de Clódia. Que tenha sido uma mulher violenta e tão perseverante nos seus ódios como o seu irmão Clódio, isso é certo. Que gostava do prazer, também não se pode duvidar. Cícero recorda as reuniões, nos seus jardins, junto ao Tibre, com os jovens com que gostava de rodear-se. O comentário que acrescenta - que ela ia lá para olhar os adolescentes que nadavam no rio e admirar os belos corpos masculinos - parece-se muito com a maledicência das cidades pequenas. Tal comentário prova apenas que o público a que Cícero se dirigia manifestava ainda um puritanismo tacanho, o que torna suspeitos aos nossos olhos a indignação virtuosa do advogado e até os insultos com que Catulo onerou a memória daquela que tanto amou e cuja única falta foi, de fato, não anuir em ligar para sempre o seu destino ao de um poeta, mais jovem, sem fortuna e obstinado em amar como se amava outrora em Roma e como se continuava a amar em Verona. Não é, com certeza, por acaso que entre aos poemas mais bem sucedidos e mais felizes de Catulo figuram dois cantos de himeneu. Todavia, não os cantou para si.
***
Entre os amores de Catulo e os de Tibulo decorreram mais de trinta anos. Os primeiros começaram sob o consulado de César, os segundos, durante a guerra que opôs Antônio e Otávio e que pôs irremediavelmente termo às esperanças de restauração republicana. Durante estes anos, Roma foi abalada por perturbações constantes; a velha aristocracia sofreu perdas terríveis e foram necessários dezenas de novos senadores para preencher os lugares vazios na cúria. Agitações incríveis fizeram chegar a estes lugares personagens tais que alguns tinham nascido na servidão. Mas não devemos pensar que o essencial das concepções morais foi por isso abalado. Os homens que César, em primeiro lugar, e os triúnviros, depois, chamaram a sentar-se no Senado pertenciam frequentemente a meios da província, onde a antiga severidade dos costumes se conservara. Parece mesmo que a diminuição de algumas grandes famílias contribuiu para retardar o movimento de relaxamento que surgira no fim da República. Já não há censores, é verdade, mas senhores que, se nem sempre dão bons exemplos, pretendem, apesar de tudo, que não se instale a desordem. O desregramento vai tomar-se em breve apanágio dos meios da corte.
Repete-se muitas vezes que a legislação moral de Augusto foi imposta pela necessidade de pôr um travão à deterioração assustadora e rápida dos costumes. De fato, parece que o imperador, ao promulgar a lei “sobre o casamento das ordens”, quis sobretudo restaurar certas tradições caídas em desuso e deter uma tendência inegável para a “democratização” do casamento e a diminuição do número de filhos. Dissemos que o casamento “à antiga” tendia cada vez mais a ser negligenciado e a ser substituído por uniões menos incômodas. Mas isso provocava a extinção progressiva das grandes famílias, dado que, legalmente, estas uniões equivaliam a um verdadeiro celibato. Se se quisesse manter o estrutura tradicional da cidade romana, que era de tipo aristocrático e se baseava na estabilidade e continuidade das gentes, era necessário reagir, mas essa medida tinha um alcance mais jurídico do que moral.
O imperador, depois de ter pensado, em 27 a.e.c., estabelecer a obrigatoriedade do casamento e ter, em seguida, renunciado a impor esta exigência, que contradizia toda a tradição jurídica romana, imaginou um sistema que incentivava o casamento legal, atribuindo diversas vantagens aos homens que aceitassem fundar um lar legítimo e, mais ainda, aos que tivessem pelo menos três filhos “em justas núpcias”. Não se tratava de aumentar a natalidade, como se vê em certos Estados modernos, porque as categorias de cidadãos interessados por esta legislação formavam apenas uma minoria. A vontade de Augusto era manter certas classes sociais, as classes dirigentes, que representavam, a seus olhos, as traves mestras do Império. O príncipe criou para tal um “estatuto privilegiado dos pais de três filhos” (jus trium liberorum), que se tornou em uma situação jurídica especial. Mais tarde, os imperadores alargaram-na a algumas personalidades que queriam recompensar, mesmo se não preenchessem as condições específicas fixadas por Augusto. Este estatuto incluía reduções de impostos ou de encargos, uma mais rápida carreira política, honras específicas e, para as mulheres, em certos casos, a isenção da tutela legal.
Uma outra lei, relativa aos adultérios, pode parecer mais estritamente “moralizante”. Na realidade, os fatos que levaram Augusto a promulgá-la são bastante complexos. Na tradição republicana, a repressão do adultério era da competência do tribunal doméstico. Mas esta instituição arcaica já só subsistia em algumas famílias de espírito particularmente tradicionalista. Augusto quis transformar este crime em delito de carácter público. Durante a República, o Estado tinha, efetivamente, o direito de vigiar a vida privada dos cidadãos, mas exercia-o através dos censores, cuja intervenção não era regulada por disposições jurídicas gerais, o que permitia corrigir a insuficiência das leis. Ora, a censura fora abolida, de fato, desde o início das guerras civis, pela legislação de César. Augusto assumirá certas funções do censor, outras serão confiadas aos tribunais regulares. Este é, pensamos nós, o espírito que inspirou a lei sobre o adultério. Faz parte da reorganização do sistema judicial e, mais do que uma reação tornada necessária pelo estado dos costumes, marca uma nova etapa na evolução começada há muito tempo, que estendia cada vez mais a ação dos magistrados a domínios anteriormente considerados estritamente privados.
Quando Tibulo conheceu a mulher, a que chama Délia, ou seja, a de Délos (era o epíteto da deusa Artemísia), Otávio ainda não tinha assegurado por completo o seu poder em todo o mundo romano32 e não se punha a questão de leis que regulassem os costumes. Todavia, o que podemos entrever do romance de Tibulo talvez nos permita compreender melhor a natureza exata dos perigos que Augusto quis evitar alguns anos mais tarde. Este romance é, de início, uma aventura banal: um jovem, pertencente a uma família aristocrática, mas semiarruinada pelas espoliações que acompanharam os episódios precedentes das guerras civis, conheceu, em Roma, uma jovem cortesã e ficou apaixonado. Não tinha ainda completado vinte anos. Devia pensar em fazer fortuna e, para isso, bastava-lhe iniciar a carreira que se abria à sua frente. Uma grande personalidade, Valério Messala Corvino, que, depois de ter pertencido ao partido de Antônio, regressara do Oriente, cansado das extravagâncias do seu chefe, para se pôr ao serviço de Otávio, aceitou ser o seu protector. Isso significava para Tibulo, em primeiro lugar, a admissão na “coorte” de Messala, onde aprenderia o ofício das armas, e, em seguida, no momento oportuno, o acesso a diferentes magistraturas, que, gradualmente, fariam dele um senador respeitado - e rico.
Mas nenhuma destas perspectivas seduzia Tibulo, prestes a cumprir vinte anos. Tinha vivido sempre no campo, junto da mãe e da irmã, nas encostas das colinas de Frascati, no meio dos vinhedos e das florestas, entre os aldeões. Não desejava de modo nenhum deixar este meio familiar para ir atrás de aventuras guerreiras, mesmo frutuosas, no Oriente. Este estado de alma é expresso em um poema, o primeiro com data dos que se conservaram. Ainda não tinha encontrado Délia, mas já afirma o seu horror pela guerra, a sua afeição pelo campo, a abundância rústica e os frutos da paz33. Ele quer amar, tem o gosto inato do prazer e todo o “combate” que pensa realizar é o combate do amor.
No entanto, Tibulo é razoável e deixa-se arrastar pelos que “querem o seu bem”. Messala já se prepara para se juntar ao exército reunido, do lado de Otávio, para o choque inevitável que vai opor as duas metades do mundo. Tibulo resigna-se a segui-lo. Porém, enquanto se fazem os preparativos, talvez durante o Inverno dos anos 32-31 a.e.c., eis que conhece Délia. De súbito, as aspirações vagas que o perturbavam e, sobretudo, a sua necessidade de amar encontram o seu objeto. Revolta-se. Que vá outro fazer fortuna nos campos de batalha. Ele quer ficar em Roma:
"É a ti, Messala, que pertence fazer a guerra, quer em terra quer no mar, para que a tua casa se adorne, um dia, com os trofeus inimigos. Eu, eu estou prisioneiro, preso à beleza de uma mulher, e permaneço sentado, como um vigia, em frente de uma porta impiedosa..."34
Por amor de Délia, renuncia não só à fortuna, mas, o que é ainda mais grave para um jovem romano, à glória.
"Desde que esteja contigo, peço que me chamem ocioso e covarde, desde que te veja quando vier a minha hora suprema, que te cinja, ao morrer, nos meus braços enfraquecidos."35
Tibulo transpõe para a vida real uma situação a que Terêncio nos tinha acostumado: o jovem, possuído pelo amor a uma cortesã, renuncia a tudo o que não seja esse amor. Todavia, o que no teatro era apenas um jogo torna-se aqui realidade trágica. Já não se trata de procurar prazeres antes de “se amimar na vida”, mas de pretender que este prazer absorva a vida inteira. Ou melhor, o prazer é apenas o prelúdio à ternura. À volta de Délia vêm dispor-se, como em um cortejo, as imagens que encantaram a adolescência do poeta:
"Eu, eu aceito ser pobre toda a minha vida, desde que o fogo brilhe na minha lareira todos os dias; que eu mesmo enxerte, na estação devida, as minhas vinhas novas como um camponês e as árvores de fruto, com mão hábil; que a esperança não me engane, mas me traga sempre colheita abundante e mosto de uva, espesso, para encher as cubas."36
À volta desta aventura bastante banal, começada, como tantas outras, junto à casa de uma mulher fácil, há uma atmosfera que poderíamos chamar tradicionalmente “virgiliana” (mas nem metade da obra de Virgílio estava ainda escrita) e que corresponde a velhos sonhos que são familiares aos Romanos, esses camponeses exilados na cidade.
Podemos questionar-nos sobre a origem literária desta poesia e frisar que tem origens gregas. Podemos detectar facilmente, na inspiração campestre, a memória de Os Trabalhos e os Dias, de Hesíodo, de cerca de seis séculos antes37. Mas há que perguntar a razão de Tibulo ter escolhido este modelo. Ora, tal como Catulo tinha tomado por patrona a poetisa de Lesbos, porque, como dissemos, a obra de Safo tinha o tom adequado ao seu amor febril, também Tibulo, aldeão do Lácio, encontrou na epopeia de Hesíodo o eco dos sentimentos que a vida rústica despertava nele. Todavia, é assinalável que ao universo de Hesíodo tenha acrescentado o amor.
Hesíodo é o mais misógino dos poetas. Para ele, a mulher é (como era para os velhos romanos, ao falar das cortesãs) apenas uma “infelicidade para tudo à volta”, usando as palavras mais duras em relação às mulheres da cidade, “com a sua garupa ataviada”, que servem apenas para fazer perder a cabeça ao camponês e dilapidar-lhe os bens arduamente conseguidos. Ora, pelo contrário, Tibulo associa o sentimento mais terno, e também o mais perigoso, a este universo hesiódico: o amor de uma mulher. Tibulo transforma em uma harmonia mais sutil e mais ampla o que no velho poeta era apenas prudência campestre. Se os Romanos dos tempos passados se compraziam a evocar o papel da “mãe” na família rústica, esta mãe era a esposa legítima, a domina. Mas ele eleva a esta dignidade uma mulher com quem não poderia casar e atribui a este amor, que os costumes teriam desejado passageiro, tudo o que, normalmente, as “justas núpcias" implicavam. Descobrimos aqui o verdadeiro “escândalo”, o alcance real da “desmoralização" que as leis de Augusto se esforçariam em breve por remediar: o amor ousava não se preocupar já com as classes sociais, um jovem destinado ao Senado queria fazer de uma cortesã a sua mulher legítima! O que teria acontecido ao Império se se tivesse autorizado os jovens aristocratas a casar-se simplesmente segundo os ditames do seu coração?
Neste amor de Tibulo por Délia nada há de perturbador, nada há que vá além de uma sensualidade feliz. Está muito aquém, portanto, dos versos ardentes de Catulo ou, mais tarde, das lições ditadas por Ovídio. Bastante curiosamente e de maneira muito “moderna”, a presença da amada é associada às mil impressões, às mil mensagens, que a natureza dirige à alma: “Como gosto de ouvir os ventos enfurecidos, deitado na cama, e apertar a minha amada ternamente sobre o meu peito e, quando o vento Auster, tempestuoso, derrama os seus aguaceiros gelados, adormecer tranquilo junto ao calor do fogo”!38 O amor retoma o seu lugar, no conjunto da criação, entre as coisas belas e boas do mundo. Em comparação com ele, todos os outros “valores” sociais perdem importância. Ele é o valor supremo neste mundo e no outro. A disponibilidade do poeta para obedecer às ordens do deus Amor vai assegurar-lhe, diz-nos ele, a felicidade eterna no reino das Sombras:
"A mim, porque sempre me mostrei dócil ao terno Amor, a própria Vênus me conduzirá para os Campos Elísios. Aí há sempre danças e cantos e, voando daqui e dali, pássaros fazem ouvir uma música suave com a sua voz delicada. A terra, sem ser cultivada, produz canela e, por todo o campo, uma terra generosa floresce de rosas perfumadas. Cantam coros de rapazes misturados com ternas moças e Amor, sem descanso, preside aos seus combates. É lá que se encontram todos os que foram arrebatados pela morte, estando apaixonados, e sobre os seus cabelos divisam-se coroas de murta."39
Enganar-nos-íamos se tomássemos este quadro por ficção poética: Vênus e Amor são considerados verdadeiramente deuses salvadores, capazes de assegurar a vida para além da morte40. Tibulo faz-se eco de crenças provavelmente sírias que tinham penetrado em Roma há muitos anos, trazidas (ao que supõe) pelas cortesãs desta região, onde a deusa a que os Romanos chamavam Vênus e elas Astarte (ou Ishtar) era adorada com particular fervor.
Apesar de toda a sua relutância em abandonar Délia e em trair, ao deixá-la, um amor onde envolvia tanto de si mesmo, Tibulo não pôde evitar seguir Messala. Na Primavera do ano 31, realizou-se a partida para o Oriente. Mas, felizmente para Tibulo, o poeta não foi além da escala em Córcira. Uma doença forçou-o a deixar os seus companheiros continuar sem ele. Era uma doença bastante grave, pois o poeta receou morrer. Era muito natural, aliás, que este jovem de vinte anos imaginasse o seu último suspiro. Já o tínhamos visto, no início da sua ligação, a comprazer-se com a ideia dos seus momentos finais, feliz se apertasse nos seus braços o objeto do seu amor. Tal pensamento não deve ser considerado “mórbido”: talvez nunca a morte e o amor tivessem estado, para um amante, mais naturalmente próximos um do outro, se é verdade que o amor, como Tibulo o sentia, era o ato supremo da vida, a submissão dócil à lei do mundo. Nestes momentos, que se compraz em acreditar serem os últimos, evoca as suas memórias de apaixonado. Nas semanas que precederam a sua partida, não lhe faltaram compensações: Délia amava-o, estava desolada por o ver partir, consultava os adivinhos e esforçava-se por todos os meios para atrasar o momento da separação. A lembrança de tudo isso, à beira da morte, não deixava de ter uma certa doçura. E como, no mais fundo de si, Tibulo está convencido de que irá sobreviver, ei-lo que imagina os acontecimentos do regresso. Vê Délia, sentada no lar, junto à velha ama com quem vive. Ambas passam longas noites acordadas. A velha conta histórias, Délia fia a lã. Poderíamos pensar que era uma noite em casa de Lucrécia. Tibulo imagina que chega de repente, sem ser anunciado, como se fosse enviado pelo Céu:
"Então, para mim, como estiveres, com os teus longos cabelos soltos, corres ao meu encontro, Délia, com os teus pés nus. Peço aos deuses que este começo luminoso, a aurora mo traga, deslumbrante, nos seus cavalos cor-de-rosa."41
Tibulo, convalescente, regressa a Roma e reencontra Délia. Mas a realidade revela-se bem diferente do sonho. Os momentos felizes que tinha passado junto dela não voltariam. Não é uma “casta Lucrécia” que volta a ver em Roma, mas a cortesã que a sua amiga nunca tinha deixado de ser. Na sua ausência, tinha conquistado outro protetor, o que era muito natural, e o fecho da sua porta estava descerrado. A toda-poderosa Vênus deixara de ser favorável ao seu adorador fiel. O sonho rústico do poeta desfaz-se sem apelo. Délia não virá para o campo contar as medas nem vigiar os vindimadores. Descansa ao lado de um homem rico: nunca a cortesã alterará os seus hábitos, nunca aceitará tornar-se companheira de um só homem!
Tal é a história desta paixão infeliz: um sonho desfeito, porque Délia era ela mesma, porque Tibulo, apesar de toda a força do seu amor, não podia alterar a ordem de uma sociedade em que, nem com a melhor boa vontade, um jovem de estatuto senatorial podia casar com uma cortesã e as cortesãs não eram tão ingênuas que acreditassem que isso fosse possível.
A aventura de Tibulo terminou de maneira extremamente moral. Quando Messala regressou do Oriente, onde realizara várias missões por conta de Otávio, este confiou-lhe um novo comando, desta vez para submeter os Gauleses, revoltados na Aquitânia. Tibulo, totalmente restabelecido da sua doença e, aparentemente, curado do seu amor, partiu com Messala e portou-se brilhantemente durante a campanha. Mas como Tibulo, mesmo coberto de glória, não podia deixar de estar apaixonado, cantou outras paixões: a que teve por um rapaz, o jovem Márato, que era um profissional desta espécie de prazeres, e a que lhe inspirou uma outra mulher, cortesã como Délia, e a quem chama Nemesis. Tem-se perguntado qual a razão da escolha deste nome, Némesis, que fez sofrer poeta, será “a vingadora”? Terá sido enviada pelos deuses para punir Tibulo pela sua infidelidade para com Délia? É uma hipótese romântica, mas pouco provável: não foi Tibulo, de modo nenhum, que foi infiel à sua amiga, mas esta que o afastou para seguir um protetor mais rico. Estaremos, com certeza, mais perto da verdade, se nos recordarmos que o nome de Némesis se encontra na Teogonia, onde Hesíodo nos ensina que a deusa é “irmã da Ternura e do Engano”42. Não é Némesis o demônio da contradição que os deuses gostam de opor aos desejos humanos?
Se alguém espera a felicidade e se gaba de a ter alcançado, Nêmesis intervém e dá-lhe algum castigo. Tibulo, desiludido, misógino depois dos seus sonhos infelizes, vê certamente na sua nova “conquista” o instrumento de que os deuses se servem para afastá-lo mais um pouco do seu sonho. Talvez o queiram punir por ter acreditado ser possível uma nova idade de ouro, que não seria apenas da abundância, mas também do amor feliz. Nêmesis é irmã da Ternura e, ao mesmo tempo, do Engano. Ao dar aquele nome à sua segunda amante, não nos estará Tibulo a fazer uma confissão extremamente lúcida? Durante os seus amores com Délia, tinha acreditado que Hesíodo, o misógino, estava enganado. Apercebe-se agora que fora ele mesmo quem se tinha rodeado de ilusões:
"Estes séculos de ferro dirigem os seus elogios não a Vénus, mas ao lucro... Infelizmente, infelizmente, vejo que as mulheres não desejam senão a riqueza!"43
Definitivamente vencido, ardendo de desejo, aceita negar tudo o que anteriormente julgara inseparável do amor:
"Adeus colheitas, desde que as belas mulheres já não vão mais ao campo: alimentemo-nos de bolota e, como nos tempos antigos, que a água seja a nossa bebida..."44
Tibulo morreu muito jovem, em 19 a.e.c., e Ovídio conta-nos que no seu funeral, ao lado da mãe e da irmã, se encontravam Délia e Nêmesis, que discutiam para saber quem tinha sido mais bem amada45. Se Ovídio não se entreteve apenas a imaginar a cena, parece que no seu leito de morte Tibulo teve Nêmesis junto de si e Délia insinua que as infidelidades e a frieza de Nêmesis encurtaram a vida daquele que ambas amaram. É certo, em todo o caso, que o seu amor por Nêmesis esfriou nos seus últimos dias, ainda que não tenha sido sempre totalmente infeliz. Para conservá-lo como era, teve de renunciar a si mesmo, a tudo o que constituía para si o valor da vida, duro sacrifício com que pagou a ternura intermitente de uma cortesã.
***
Propércio, quando conheceu Cíntia, tinha também mais ou menos vinte anos. Pertencia à aristocracia e a sua família tinha sofrido com as guerras civis. Mas, no amor, não era tão inexperiente como Tibulo, dado que, antes de se ligar a Cíntia, já tivera uma aventura com uma certa Licínia, sem dúvida uma cortesã, que o iniciara nos jogos de Vênus. Mas foi com Cíntia que descobriu o amor.
Cíntia não é o verdadeiro nome da jovem. Chamava-se Hóstia e é possível que pertencesse a uma família honrada, se é verdade que contou entre os seus antepassados um poeta que, um século antes, tivera uma certa reputação, escrevendo epopeias. Mas tinha escolhido uma vida aparentemente fácil e procurava obter os seus recursos com a sedução.
No entanto, não havia nela nada de vulgar. Extremamente elegante, era culta também. Não lhe faltava nada “em dons de Vênus nem de Minerva”, porque Apolo tinha-lhe dado o talento de compor poemas e a musa Calíope o de os cantar, acompanhando-se à lira. Os seus versos líricos e as canções que compunha inspiravam-se, parece, na poetisa Corina, o que era uma prova de bom gosto, quase de erudição, pois o modelo que adotara tinha cinco séculos, era aplaudido pelos conhecedores e voltava a estar em voga em meios tão refinados como era o círculo de Mecenas. Mas Cíntia, apesar de toda a sua cultura, não era entediante nas conversas, sabia ter espírito. Dançava admiravelmente. Todos os talentos, sobretudo o último (porque dançar, neste tempo, era mimar), teriam preocupado qualquer romano dos velhos tempos. As únicas que os possuíam então eram algumas mulheres, muito emancipadas, da mais alta aristocracia e as cortesãs.
Propércio, pouco dado a descrever os encantos da sua amiga, diz-nos apenas que era alta e loura e que os seus olhos eram pretos. Gostava da sua beleza, fala do seu corpo perfeito, que adivinhava voluptuosamente desenhado sob um "véu de Cós", mas desejava que não tivesse tantos cuidados com os adornos, que se contentasse com a sua própria perfeição, não lhe acrescentando meios de sedução e artifícios que desaprovava.
Desaprovava-os, em primeiro lugar, porque eram a prova de uma coquetaria que o preocupava, mas também por uma razão mais sutil: tantas toiletes, pinturas, jóias e unguentos ocultavam-lhe a verdadeira Cíntia, aquela que não deveria pertencer senão a ele e que, em vez de corresponder à sua paixão, se demorava longamente a arranjar um penteado já perfeito, a retocar o rosto, a escolher uma a uma as pedras preciosas que iria colocar sobre o seu peito. A verdadeira Cíntia, onde estava? Poderia ele encontrá-la sob esta armadura?
Catulo e Tibulo andavam em busca do seu próprio amor. Era o seu próprio sentimento que se esforçavam por definir, por fazer cintilar nos olhos das suas amigas. Propércio ocupa-se menos consigo e mais com Cíntia, é Cíntia que ele busca. Esse é, de certo modo, o tema dominante das Elegias. Cíntia é para ele um mundo que não se cansa de descobrir. Cada um dos seus gestos, cada uma das suas atitudes o maravilha. Entrevê um infinito em um olhar, em uma palavra, no langor dos olhos que buscam o sono, todo um universo que se oferece e se recusa ao mesmo tempo e que a poesia, por momentos, julgará apreender, mas que, por fim, não irá atraiçoar o seu segredo. Está perante Cíntia como quem olha uma estátua: é um objeto que se apresenta misterioso e cuja beleza é ela mesma um enigma. Quem a esculpiu conhece, talvez, o segredo da estátua. Mas, e o segredo de Cíntia?
Uma noite, regressando tarde para junto dela, encontra-a adormecida. Tinha bebido um pouco, o que inflama o seu ardor. Ela está abandonada sobre a cama, mas, em vez ouvir os conselhos que o amor e o vinho lhe dão, eis que se interroga acerca deste sono de Cíntia. Põe sobre a sua testa a coroa dela desatada, enrola em redor do dedo uma mecha desfeita, mas quereria, sobretudo, conhecer o sonho que ela tem, interpretar cada um seus suspiros e os movimentos que faz ao dormir, até ao momento em que um raio de luar, filtrado pela janela de portadas mal fechadas, vem despertar a jovem46.
De maneira inevitável, este inquérito torna-se rapidamente ciumento. Propércio não ignora que, no passado, Cíntia não foi, de modo nenhum, um modelo de fidelidade. Mas acreditou por um momento, porque lhe concedia os seus favores sem exigir nada, que seria para ela um amor único. E, durante alguns tempos, foi, talvez, fiel. Ao fim de um ano, possivelmente apenas ao fim de alguns meses, Propércio tem de render-se à evidência: ela regressou à sua vida passada. Gostaria de desligar-se dela, porque a adoração exclusiva que lhe dedica impede-o de ter a mesma tolerância que Catulo e Ovídio, ou Tibulo para com Nêmesis. Todavia, nesse momento, descobre que as suas cadeias não podem ser quebradas. Humilhado, vencido, abdica, não apenas do seu orgulho, mas até da sua dignidade de homem.
A primeira recolha (que tem por título Cynthia Monobiblos, “Cíntia, livro único", tão significativo desta imolação total do poeta à sua amada) é uma mistura de felicidade e sofrimento. O amor não poderia existir se não conhecesse de início momentos felizes, ou não mantivesse a esperança de os conhecer. Mas, afinal, mesmo nestes primeiros tempos, o sofrimento suplanta a felicidade. Embora sejam os rogos de Cíntia que retêm o poeta e o impedem de seguir o seu amigo Tulo para o Oriente, como ele deveria fazer, se quisesse ser digno da sua raça, o último verso da elegia que nos conta este episódio do seu amor está cheio de amargura: “Se te recordas de mim”, diz Propércio, “poderás ter a certeza de que vivo sob um astro impiedoso”47. Isto não significa, como admitem de modo um pouco superficial os comentadores, que, neste momento, o amor de Propércio não seja retribuído: todo o trecho diz o contrário. É Cíntia que grita o seu amor, que implora a presença do seu amante. Mas, no meio de toda esta “felicidade" e dos prazeres partilhados, o poeta não ignora que tal felicidade é uma maldição que pesa sobre ele, o paralisa, lhe retira toda a liberdade, como o astro determina a conduta de quem está sujeito à sua influência.
Propércio diz uma vez à sua amiga que gostaria de ser o “seu irmão, ou seu filho”. Julien Benda, em um célebre ensaio48, pretende ver neste desejo o sinal de um gosto algo perverso por situações de humilhação e pensa que Cíntia tem direito a lamentar-se. Julga que ela teria preferido um amante mais viril. Ignoramos, naturalmente, os verdadeiros sentimentos de Cíntia. Eram, por certo, mais simples do que os de Propércio. É mesmo possível que, por vezes, tenha preferido as homenagens de um amante mais conforme com o que era então o ideal masculino da raça. Desta preferência teremos um sinal na sua fuga amorosa com um pretor encarregado de governar a Ilíria, um homem que, por seu lado, não recusara as responsabilidades políticas e se contentava em fazer de Cíntia, a cortesã, o “repouso do soldado”. Mas o que pensarmos, com ou sem razão, das preferências de Cíntia não deve fazer-nos ignorar o que as palavras “filho” e “irmão” significavam verdadeiramente para Propércio. Enganar-nos-íamos se suspeitássemos nelas a mais mínima intenção perversa ou um desejo semiconsciente de incesto. Como já dissemos, para uma romana um homem da sua família, mesmo que fosse seu irmão, mesmo que fosse seu filho, é sempre um senhor. Em certos casos, o filho podia tornar-se no tutor da sua mãe. Mas a tutela de um irmão ou de um filho é, naturalmente, mais terna, mais leve. Envolve um respeito que não se encontra no domínio exercido por um marido ou um pai. Respeita mais a liberdade da mulher e pretende menos dirigir os seus sentimentos.
Ora, Cíntia, como outrora Clódia, queria ser uma mulher livre e Propércio, por delicadeza, devido à própria natureza do sentimento que tem, não se reconhece no direito de exercer sobre ela o ascendente um tanto tirânico de um marido, que não é nem poderia ser. Nisso, está talvez enganado e revela ser um mau estratega. Cíntia quer ser livre, mas a sua liberdade afirma-se apenas na multiplicidade das suas aventuras. Durante o tempo que concede a cada um dos seus “protetores”, comporta-se como uma apaixonada submissa. Propércio alude, uma vez, a este estado de dependência em que ela se encontra em relação a um outro, e pensou-se que era casada. Mas há demasiados indícios que provam o contrário: legalmente, era livre, mas, espontaneamente, durante cada um das suas ligações, queria ser como que a esposa daquele que aceitava, temporariamente, por senhor. Ora, isso é o que Propércio não quer. Recusa ficar a dever a sua felicidade à autoridade que os costumes reconhecem ao vir, ao homem. Não pode amar senão uma mulher que ele saiba que é livre e que, por sua vez, possa amá-lo livremente. Aí reside toda a origem do drama. Não se pode ir contra os hábitos e os instintos de uma raça sem se arriscar a rupturas dolorosas. Propércio não ignora que o seu amor ambicioso é loucura, que o leva à sua perda, mas só pode amar daquela maneira.
Desde o princípio, Propércio sente o amor como uma maldição. Maldição, não por amar Cíntia (é apenas o instrumento de que se serve o Destino), mas por amar de um modo diferente dos outros homens, que facilmente se satisfazem com o prazer que lhes dá uma presença familiar e fácil.
O poema que serve de prefácio ao primeiro livro e lhe dá o tom mostra Propércio como escravo humilhado. Prosternado, com a face por terra, sente o pé do deus Amor pesadamente sobre a sua cabeça. Longe de ter nisso, como sugere Julien Benda, algum prazer secreto, reconhece o seu desvario, mas, ao mesmo tempo, sabe que não tem nenhum modo de voltar por si mesmo à razão. Portanto, dirige aos seus amigos um apelo patético: que o levem, que o arrastem à força para outro lugar, para qualquer lugar, desde que seja para longe de Cíntia e também de qualquer mulher que possa substituí-la. Irritado com Cíntia deveria ele estar. Deveria ter a coragem de expressar a sua cólera, mas não pode fazê-lo: a presença da amada, ou apenas a sua imagem, retira-lhe até a liberdade de se lamentar. Que médico o poderá curar, que médico lhe poderá devolver, nem que seja queimando-lhe a carne ou abrindo-lhe o coração, a sua vontade perdida?
Também Catulo, uma geração mais cedo, tinha, ao mesmo tempo, amado e odiado Clódia. Propércio, escrevendo esta primeira elegia do “livro de Cíntia”, pensa evidentemente no seu precursor, mas para evidenciar imediatamente a diferença que os separa, Catulo encontrou força para escrever contra Clódia os versos mais cruéis e mais ultrajantes, porque Clódia o enganara e ele a considerava adultera. Propércio não tem essa triste coragem. Diante de Cíntia, é apenas uma vítima inerte, sem socorro. O que o tortura é ver-se assim. Sofre mais com isso do que com as próprias infidelidades da amiga. Basta que ela lhe retire a sua estima e ele já não é nada.
Será que há remédio? Os costumes permitem-lhe que encontre junto de outras mulheres, menos cruéis, a satisfação dos sentidos. Cíntia é infiel, é verdade, mas Propércio deixa-se também arrastar para outros braços. Chega mesmo a apaixonar-se por várias mulheres ao mesmo tempo, vitórias fáceis, de que não se envaideceria, se, como Horácio, não acreditasse que estes amores alugados são prova de sabedoria. Esta vã sabedoria tenta ele pô-la em prática enquanto Cíntia está longe de Roma, na sua casa de campo de Tibur, ou na Campânia, ou ainda quando vai de viagem com algum amante. Mas em breve passa a temer encontrar em outro lugar uma nova Cíntia. Já não é contra os desdéns de uma mulher infiel que se debate, mas contra a loucura que traz em si e o arrasta:
"Perguntas-me, Demolonte, por que sigo tão facilmente todas as mulheres? Mas esta questão, este porquê, o amor não os conhece. Por que haverá homens que se cortam profundamente nos braços com facas sagradas mutilam ao som demente das flautas frígias? A natureza, quando nascemos, deu a cada um de nós um defeito: a mim, a fortuna condenou-me a amar sempre." 49
Em vão tenta Propércio reencontrar o que poderia chamar "os amores normais”, os que deixam ao amante a estima de si. Passado o momento da satisfação, volta a vergonha, agravada ainda pela má reputação que lhe advém de tantos amores passageiros. E que ele tinha declarado, afinal, nos seus versos, que amava Cíntia, que a considerava como uma esposa, e eis que se compromete publicamente com outras! Se já seria vergonhoso, no entender da opinião pública, ligar-se tão solenemente a uma cortesã e jurar-lhe fidelidade, não será ainda mais cometer perjúrio? Propércio é vencido em todas as frentes. Está como que preso em uma rede que o aperta cada dia mais. O seu amor despojou-o de tudo: da estima dos homens, da ternura de Cíntia, talvez devido às suas exigências, e também da estima de si. Deveremos surpreender-nos que, perante este naufrágio, pense frequentemente em deixar-se morrer?
Mas eis que, nesta anulação desesperada, vai encontrar a salvação. A ideia da morte está constantemente presente na poesia de Propércio. Tem-se dito, por um lado, que ela é, para este voluptuoso insatisfeito, mais uma volúpia, por outro, que a morte dá encanto à sua melancolia complacente, mas, para além disso, também se tem acusado o poeta de ter querido exercer sobre a piedade da sua amiga uma chantagem muito pouco digna. É um epicurista refinado, um menino mimado ou um romântico desenfreado?
O deleite epicurista com a morte não é certamente estranho a este século. Veremos Antônio, junto de Cleópatra, fazer com ela um pacto de morte: a sua própria vida não era, nos braços da rainha, senão uma voluptuosa agonia. Tibulo também morria, em pensamento, junto de Délia. Mas que gosto teria, para Propércio, esta morte onde o seu amor o conduzia?
Para ele, a morte não é o fim da volúpia; a sua ideia não está, de modo nenhum, ligada (como em Tibulo) à plenitude do amor. Nenhum dos seus poemas nos conduz aos limites da consciência e do aniquilamento, como, por exemplo, alguns versos de Lucrécio. As imagens fúnebres em Propércio têm mais doçura e também uma significação mais complexa. A morte que ele evoca é menos a do amante, satisfeito ou mortificado, do que a do romano que ela lhe permite voltar a ser, resgatando-o.
O amor não era um dos sentimentos de que, habitualmente, se gostasse de retirar glória. A tradição ancestral considerava-o uma fraqueza natural, que devia ser passageira no decurso da existência. Mesmo as mulheres, se tivessem amado, guardavam-se de o confessar: o seu epitáfio resumia-se geralmente a algumas palavras. Dizia-se que tinham fiado a lã, criado os seus filhos e que tinham falecido rodeadas pelo afeto dos seus. O resto ficava na sombra. Ora, nesta altura do século, os poetas elegíacos trazem à luz estas zonas até então na obscuridade e Propércio ousa desejar que, da sua existência, permaneça uma lembrança que exprime em dois versos: "Aquele que aqui jaz, pó horrível, foi outrora escravo de um só amor."50
Propércio renuncia às inscrições pomposas, mencionando magistraturas e triunfos: a sua única glória será uma paixão ímpar. Diz-nos ele que este túmulo “santificado” pelo amor conhecerá “uma glória tão grande que como a que teve outrora a pira sangrenta erguida ao herói de Ftia”51. Se Propércio, preso pelo amor que tem por Cíntia, tem de voltar as costas à glória política e militar com que sonhava toda a alma realmente romana, ele conserva a esperança de reencontrar na morte, e por intermédio dela, uma glória tão invejável como a outra. Não será, por certo, a do conquistador nem a do guerreiro invencível, que o nome de Aquiles, príncipe de Ftia, simboliza, mas a fama eterna de um amor excepcional, capaz de inspirar inúmeros amantes, como o valor de Aquiles fizera a inúmeros guerreiros.
Ao ler Propércio, esquecemo-nos demasiadas vezes que é romano e que, para os homens da sua raça, a ideia da morte toca todas as coisas. O destino humano não termina nem adquire o seu verdadeiro sentido senão com o túmulo. Aquilo que, em Heródoto, Sólon dizia a Creso, repeti-lo-á Sêneca e todos os Romanos do passado o sentiram profundamente. A vida só se torna perfeita com a morte. Um morto, pelo simples fato de ter vivido, de ter escapado à Fortuna, uma vez que pertence ao passado, ao irrevogável, é para os vivos uma fonte de inspiração e um exemplo. Os Romanos não acreditam, ou acreditam de uma maneira confusa, na sobrevivência pessoal. Mas há uma forma de sobrevivência que eles esperam, a que o pensamento dos vivos lhes pode assegurar, como a lembrança piedosa de um filho ou a admiração de um passante que lê um epitáfio glorioso à beira de uma estrada. De outro modo, o que significariam tantos túmulos apertados, em uma densa multidão, ao longo dos caminhos? O guerreiro quer morrer combatendo para que o seu nome não seja esquecido. Propércio, porque se identifica completamente com o seu amor, quer que o seu ser eterno, que será perpetuado pelo monumento com a sua inscrição, seja apenas amor. A morte livra, ao mesmo tempo, das fraquezas e das incertezas, purifica de tudo o que é imperfeito, das traições e das rejeições. A morte resume e define. Era natural que Propércio, para se definir, se visse morto e pretendesse para si um nome e uma imagem que fossem símbolos de amor.
Uma paixão vivida, por avassaladora que seja, não é, afinal, senão um acidente pessoal. Ela não se torna exemplar, como a “virtude” de um Cévola ou de um Horácio Codes, senão quando erguida sobre um pedestal, de modo que cada um a admire e tente, se a tanto ousar, reconhecer-se nela.
“Feliz Aquiles - lamentava-se Alexandre -, que encontraste um poeta como Homero!” Desta nova Ilíada, uma Ilíada de amor, será Propércio o herói e o poeta52. Com o poder da poesia, os episódios da sua aventura pessoal derreterão como cera e, se o corpo do poeta não pode evitar tornar-se cinza, a sua paixão, moldada em bronze, enfrentará os agravos do tempo.
A medida que passam os anos e as infidelidades de Cíntia prolongam os períodos em que os dois amantes permanecem separados, os poemas tornam-se mais intensos, mas também mais alheios a episódios circunstanciais. Parece que a poesia se eleva, gradual e irresistivelmente, acima da realidade de que anteriormente tinha partido. Ao mesmo tempo, o amor do poeta adquire um valor intemporal. Propércio não mais se humilha por amar como ama; os conflitos com Cíntia já não o torturam, ou, pelo menos, compreendeu que o seu próprio sofrimento faz parte da sua glória e, como diríamos hoje, da “mensagem” da sua poesia.
Os críticos modernos de Propércio escandalizam-se facilmente com o que chamam os seus excessos mitológicos. Prefeririam, dizem eles, gritos de paixão que não fossem interrompidos por longas digressões eruditas. Consideram a influência dos poetas alexandrinos responsável por esta falta de gosto e pensam que Propércio utiliza as lendas antigas para alimentar desenvolvimentos a que, sem elas, faltaria amplitude.
Os relatos lendários são, por certo, na elegia romana, uma herança do passado. Mas se Propércio recorre tão frequentemente aos mitos, é porque eles lhe servem para exprimir o mais íntimo do seu pensamento. É bastante raro que aqueles a que alude não revelem, depois de analisados, um parentesco profundo com o assunto do poema onde são utilizados. A lenda não é uma história gratuita destinada a proporcionar prazer, mas é verdadeiramente um mito, ou seja, o símbolo sensível de uma realidade secreta, uma verdade dissimulada, de que a sua própria experiência amorosa lhe facultou a intuição.
Quando Propércio olhava o sono de Cíntia, já uma imagem o perseguia: este sono da sua amiga recorda-lhe irresistivelmente o da Ariadne lendária, adormecida em uma praia de Naxos, a heroína cujo torpor sobrenatural a prepara para receber a revelação divina. O sono místico que separa Ariadne dos abraços de Teseu e lhe promete os de Dioniso deleita e, ao mesmo tempo, preocupa o poeta. Quando Cíntia despertar, continuará a ser sua? Da mesma maneira, Propércio não se cansa de interrogar os mitos legados pelo passado: o de Ulisses, o de Dirceu, todos os que mostram os heróis e as heroínas vitoriosos dos sofrimentos do amor. Um poeta cristão não pode evitar que o seu amor, purificado, transcendido, se dissolva, finalmente, no amor divino. Propércio conhece um percurso análogo. Também ele acaba por descobrir o valor divino, ontológico, do amor e isso aproxima a sua experiência da de Tibulo, para quem Vênus e o deus Amor são divindades salvadoras. Os poetas da elegia romana, preparados pelos seus modelos helenísticos a sentir as manifestações do divino, a sentir a sua presença no frémito da consciência, descobrem na paixão amorosa um poder que a tradição dos ancestrais lhes negava (ou se esforçava por negar). O amor torna-se, o que já era para Platão, no mediador entre o humano e divino, entre o passageiro, o acidental, e o que é eterno, superando as insuficiências e as intermitências do coração.
Quando escrevia os últimos poemas do livro III, Propércio já tinha espaçado as suas relações com Cíntia. Chega mesmo a manifestar a sua alegria por se ter libertado da servidão de outrora:
"Eis que os meus navios, laureados, chegaram ao porto, que os Sirtes foram ultrapassados, que, para mim, a âncora foi fundeada. Hoje, finalmente, cansado de uma demorada ondulação, reencontro a calma e agora as minhas feridas fecharam-se e estão curadas..."53
Todavia, se bem que se possa dizer curado, dado que o seu sofrimento se encontra apaziguado, não é ao sofrimento que deve este belo equilíbrio, mas a uma conquista com outro valor. O esquecimento é apenas uma mutilação. O amor de Propércio por Cíntia subsiste, ainda que já não seja doloroso. Deixou de ser uma escravidão, já não é, sequer, desejo carnal. É uma realidade eterna, e Propércio tem a revelação disso quando está a compor as elegias que irão constituir o livro IV, o último da sua obra.
Cíntia, que julgaríamos passar a estar ausente, depois das despedidas, ainda cobertas de despeito, com que se conclui o livro III, é afinal, contra todas as expectativas, objeto de mais dois poemas. Um transporta-nos ao tempo em que a jovem, ébria de liberdade, se exibia junto de um amante passageiro e traía Propércio. Este, como fazia muitas vezes, tinha procurado consolo com duas mulheres e os três tinham ido banquetear-se e beber para o monte Esquilino. Mas o poeta, na orgia, não podia reencontrar a alegria. A chama da lâmpada, em vez de se elevar, direita, como convinha, vacilava e não dava senão uma pálida luz. Os dados, lançados sobre a mesa, não conduziam senão a resultados desfavoráveis. Embora as mulheres fossem bonitas, o poeta não se excitava. E eis que, no meio do jantar, a porta abre-se e Cíntia precipita-se no quarto. Não pudera suportar a ideia de que o seu amigo, longe dela, se entregasse a outras. Violenta, atira-se às duas infelizes, rasga-lhes as faces, maltrata-as, persegue-as e, ficando como senhora única do campo de batalha, atira-se a Propércio, bate-lhe sem piedade e impõe-lhe uma capitulação sem honra, antes de entregar ela mesma as armas54.
O outro poema, mais estranho ainda, é a história de um sonho55. Aconteceu depois da morte de Cíntia. Pois o poeta sobreviveu à sua amiga. Pareceu-lhe ver nessa noite a jovem aproximar-se da sua cama. O fantasma pôs-se a falar. Recordou os dias felizes dos seus amores quando ambos trocavam juras. Depois, censurou asperamente o poeta: por que não tinha conservado melhor a sua lembrança? Por que não tinha permanecido vazia a sua cama, como deveria, se tivesse continuado a ser fiel ao seu amor? Ela mesma jura que nunca foi infiel!
Poema singular, no fim de um amor. Termina com uma imagem macabra: a morta que espera e vigia o seu amante de outrora, certa de vir a sentir, um dia, as cinzas do amado misturar-se com as suas. E esta morta, apesar de todas as evidências, ousa afirmar-se fiel!
É que, na morte, o termo fidelidade tem outro sentido. A alma, uma vez liberta da carne, deixa de sentir ciúmes. Eis, por fim, as certezas que acompanham a eternidade. Cíntia, ao voltar para visitar o sono do seu amigo, mostra a sua fidelidade, porque é para ele que regressa quando tudo o mais foi abolido. Reduzido à sua pureza essencial, o amor é apenas fides, lealdade, transparência de dois seres um para o outro. No sono da morte, que não espera mais nenhum despertar, deixa de haver segredos, já não há lugar para dúvidas. No termo desta longa e dolorosa subida para o eterno, eis que o amor reencontra um dos valores essenciais da consciência romana, esta fides a que se erguem templos e em que se baseia toda a vida da cidade.
Assim, mesmo no amor “mais livre”, mais isento de qualquer constrangimento, os poetas procuram salvaguardar o compromisso essencial, aquele que une os esposos. Catulo, Tibulo e Propércio percorrem os três o mesmo caminho, mas Propércio é o que chega mais longe, a ponto de ultrapassar a sua própria aventura. É significativo que o mesmo livro IV das Elegias contenha dois outros poemas, dedicados, desta vez, a cantar o amor “legítimo”. Um deles é uma carta escrita por uma jovem romana ao marido, retido longe dela pelo serviço que presta no exército. O outro, que foi considerado “a rainha das elegias”, é um longo argumento, uma verdadeira laudatio fúnebre, que Cornélia, nora de Augusto, faz de si mesma. Cornélia foi virtuosa, digna das mais austeras matronas do passado. Mas, em vez de limitar a isso o seu elogio, como era costume, o poeta penetra mais longe na intimidade da sua heroína. Coloca na sua boca palavras de ternura: pela primeira vez, o segredo do amor conjugal romano é publicamente revelado. Propércio não o teria imaginado nem ousado, se não tivesse descoberto, dolorosamente, o poder do amor e a sua dignidade. Foi por ele mesmo ter sofrido e lutado longamente que conquistou o poder de quebrar o encantamento que dissimulava, no fundo dos corações romanos, a nobreza de um sentimento de que todos saberão, depois de Propércio, que não se devem envergonhar.
***
Ovídio pode aparecer agora e reunir nos Amores e em A Arte de Amar uma experiência já longa, que vai tornar acessível a todos os leitores. Os costumes terão mudado depois dos poetas da época de Augusto.
Os dois rostos do amor romano tenderão doravante a assemelhar-se e, depois, a confundir-se. Haverá casamentos legítimos que serão casamentos de amor e haverá “ligações” fiéis.
A revolução moral a que os poetas nos fizeram assistir, e para a qual eles mesmos contribuíram, consiste em se ter incluído o amor, o amor-paixão, o desejo e a sua satisfação entre as relações que criam laços morais entre os seres: deveres e direitos. Competia aos Romanos descobrir que há uma ética do sentimento: a tradição ancestral atribuía, efetivamente, direito de cidadania ao afeto filial, ao respeito pela esposa, aos deveres da paternidade e da maternidade, mas fingia ignorar o amor carnal, que, no entanto, está no centro de todo este complexo. O homem devia ser bom marido e podia, para além disso, amar a sua mulher, mas isso nem era necessário nem mesmo muito confessável. Os poetas da época de Augusto, depois de Terêncio, contribuíram fortemente para que se atribuísse ao amor o seu verdadeiro lugar e, ao mesmo tempo, para libertar a mulher desta prisão de respeito meramente formal em que os costumes a mantinham, para lhe restituir o direito de amar, de escolher, de consentir ser fiel.
Todavia, esta revolução de consequências incalculáveis parecia ser uma vitória do vício. Quando uma moral traz valores novos, o que ela tem de positivo aparece, originalmente, com menos nitidez do que o seu aspecto negativo. As coisas não se passaram de maneira diferente com a que vinha perturbar ideias assentes há tantos séculos. Ovídio pagou com o exílio a imprudência e o talento de cantar de maneira tão convincente os aspectos mais sedutores e mais leves de um modo de vida que os políticos julgavam prejudicial ao Estado. Mas, antes mesmo do exílio de Ovídio, há um poema que traduz esta reação moralizante até à inumanidade para com os novos direitos reconhecidos ao amor e que é, talvez, a razão por que o “romance de Dido”, a que Virgílio, na Eneida, consagrou todo um canto, parece frequentemente tão chocante aos comentaristas modernos.
Eneias, ao deixar-se amar por Dido, não agia de maneira diferente dos “jovens” da tradição romana. Aos nossos olhos, ao proceder assim, assumiu para com a rainha compromissos que para ele deveriam ser sagrados. Mas entre ele e esta mulher estrangeira não poderia haver “justas núpcias”: os compromissos pessoais, nestas condições, não têm qualquer valor. O que seria imoral seria precisamente prosseguir uma aventura em que, afinal, pereceriam todas as esperanças romanas. Virgílio está mais próximo do velho Catão do que dos poetas que foram seus contemporâneos e amigos, porque escolheu criar, na sua epopeia, mitos susceptíveis de justificar os valores essenciais da cidade. O amor, com o que possui de pessoal, de anti-social, tinha de ser condenado, ainda que, para isso, fosse necessário aceitar cruéis mutilações.
Virgílio, no entanto, não era insensível à ternura. Por vezes, é mesmo considerado o seu poeta por excelência. Todavia, é necessário que ela não entre em conflito com os deveres essenciais. Tal ternura encontra expressão nos jogos das Bucólicas e na Eneida, mas à margem dos grandes interesses. Enquanto Eneias foi a Palanteu procurar aliados, o seu exército continuou confinado ao acampamento e as tropas inimigas cercaram-no. É necessário enviar uma mensagem ao chefe, custe o que custar. Nesse momento, apresentam-se, para esta missão arriscada, dois jovens, Niso e Euríolo. Niso era um guerreiro experiente. Tinha junto de si Euríolo:
"O mais belo dos companheiros de Eneias, de todos os que alguma vez tinham envergado armas troianas, era uma criança e a sua primeira barba, que não tinha sido coitada, revelava nas faces que era ainda um adolescente. Gostavam um do outro com idêntico amor e, estando juntos, um mesmo ardor os lançava no combate."56
Niso quer partir só para se juntar a Eneias, mas Euríolo não consente deixá-lo ir sem ele e eis que ambos se esgueiram, durante a noite, entre as linhas inimigas. Primeiro, obtêm alguns sucessos e massacram soldados adormecidos, mas Euríolo, com a irreflexão própria da sua idade, despoja as vítimas das suas belas armas e demora-se. Em breve encontram uma patrulha de cavaleiros. Euríolo, traído pelo reflexo de um capacete de que acaba de apoderar-se, é atacado e cercado. Niso, mais cuidadoso e mais hábil a dissimular-se, não é notado. Poderia escapar e realizar a sua missão, mas vai sacrificar-se pelo amigo. Euríolo é trespassado pela espada de um inimigo. Cai “como uma flor de púrpura, cortada pelo arado, esvai-se e morre, ou como a papoila inclina a cabeça, sobre o seu caule cansado, quando a chuva que tomba se lhe torna pesada"'7. Então Niso investe, mas, por sua vez, esmagado pelo número, deixa-se cair sobre o corpo do amigo, onde encontra por fim o descanso.
Estranha história de amor, bem pouco romana, que Virgílio desenhou no terço final do seu imenso fresco. Quis simplesmente exaltar o heroísmo guerreiro? Mas por que razão fez dos seus heróis dois amantes? Ele mesmo, conforme nos diz, não era indiferente à beleza dos rapazes e se as “conveniências” da moral romana o impediam de cantar amores de que a heroína fosse uma mulher, não pôde resignar-se, todavia, a calar o poder do amor correspondido. Retomou, neste episódio, um dos temas mais caros aos poetas helenísticos e, mal disfarçando o amor dos dois jovens sob uma aparência de camaradagem, quis mostrar que tal afeição fazia nascer nas almas um ardor de heroísmo e uma pureza na abnegação que eram suficientes para a justificar.
Virgílio, na fronteira entre dois mundos - o passado, que se recusava a justificar o amor, e o presente, que tendia a fazer dele um dos valores essenciais da vida moral -, com estas mesmas oscilações, traduz o mal-estar que Roma sente e exprime a complexidade de um universo que procura o seu caminho.

Legalmente, cada romano tinha apenas uma esposa. Este princípio nunca foi posto em causa. Afirmado desde a origem, manteve-se através dos séculos e o diploma que se entregava aos soldados desmobilizados, uma vez terminado o seu serviço, autorizava-os a transformar em casamento legítimo as uniões (toleradas, mas não reconhecidas) que tivessem contraído durante a vida militar, na condição de se limitarem a uma só. No entanto, nem as leis nem os costumes se preocuparam em forçar, ou sequer em incitar, os maridos à fidelidade. Os amores passageiros, os que começavam e se desfaziam fora dos ritos, eram permitidos, desde que não atentassem contra a honra de uma mulher casada ou de uma “filha de família”. Um discurso de Catão dizia sem rodeios:
Se surpreendesses a tua mulher em adultério, poderias matá-la sem julgamento e impunemente; mas ela, se fosses tu a cometer adultério..., não ousaria tocar-te nem com a ponta do dedo e, aliás, não teria esse direito.
Não retiremos demasiado rapidamente a conclusão que estas leis são “leis de homens”, estabelecidas por maridos ciumentos e libertinos, desejosos de ter uma liberdade que recusam à mulher. Realmente, não é, em si mesma, a liberdade amorosa da mulher que eles condenam. Há uma categoria de mulheres que dispõem livremente de si e não têm de responder perante ninguém: as escravas, na medida em que a sua situação material não as força a submeter-se à vigilância do seu senhor, permitindo-lhes “viver a sua vida”, as libertas e, de maneira geral, as mulheres, mesmo de nascimento livre, que se entregam habitualmente à prostituição ou a algum ofício indigno (as dançarinas, por exemplo) e que, por isso, perderam toda a honorabilidade. Já não são dignas de se tornar “mães”, o que as torna “indiferentes” aos olhos da moral e do direito. Não podendo estabelecer uniões legítimas, também não podem, evidentemente, ser culpadas de adultério. Todavia, enquanto as viúvas e as filhas de família - cujo delito também não envolve adultério, por ser cometido fora do casamento - não podem comportar-se mal sem se arriscar a ser acusadas de stuprum, as mulheres “sem honra” nada têm a temer. O stuprum é a mácula provocada pelas relações carnais ilegítimas, que “mancham o sangue” de quem se submete, voluntariamente ou não, a amores em que desempenha um papel passivo. Uma mulher honrada que tenha conhecido um homem fora das justas núpcias nunca mais pode ser esposa e assumir as respectivas responsabilidades. Uma mulher “sem honra”, atingida à partida pela mesma incapacidade, não tem razão alguma para cercear a sua liberdade.
Reencontramos aqui a noção de “marca do sangue” que nos pareceu tão essencial no casamento romano e sobre a qual se baseia, em última análise, a moral do amor deste tempo. É uma concepção estranha, sem dúvida, mas que exerce de maneira inexorável as suas consequências e domina toda a vida sexual. Normalmente, o homem não poderia contrair esta mancha, num ato onde ele é “o que dá”. Sendo assim, como recusar-lhe a liberdade de amar quem quiser, desde que não comprometa nenhuma mulher livre e honrada, uma das que as leis protegem e guardam para as “justas núpcias”? As restrições impostas à vida amorosa feminina são apenas o resultado da situação em que a natureza colocou a mulher.
Na verdade, também o homem pode contrair esta “mancha do sangue”, mas isso acontece quando renuncia à sua função viril e se entrega, como uma mulher, ao desejo de outro homem. Esta possibilidade coloca o problema da pederastia. Em contraste com os costumes gregos, a moral romana é severa em relação a esta. Mas esta severidade não pune indistintamente todos os amores dos homens entre si. Mesmo em tempos muito recuados, ninguém se escandalizava se um senhor alimentasse uma paixão, que hoje julgamos culpada, por um dos seus jovens escravos. Conta-se, por exemplo, que um romano tinha um escravo favorito e que este jovem, encontrando-se no campo com o seu senhor, quis comer carne de vaca assada. Ora, na aldeia, não havia carne de vaca à venda. O senhor mandou então abater um boi de trabalho, o que as leis proibiam com severidade. Teve de enfrentar uma acusação judicial, mas, perante o tribunal, ninguém o acusou dos seus amores contranaturais. A única acusação que lhe foi feita foi a de ter morto um boi de trabalho!
No entanto, a tolerância deixava de funcionar se o escravo amado fosse de sangue romano.
Por exemplo, no tempo das guerras samnitas, um jovem chamado Vetúrio, filho de um magistrado arruinado, teve de se vender como escravo para pagar as suas dívidas a um certo Plócio. Plócio apaixonou-se e tentou seduzi-lo, mas, como Vetúrio se opôs. mandou-o chicotear. O jovem queixou-se aos cônsules, que relataram o caso ao Senado e os “Pais" mandaram prender Plócio, porque, diziam, era necessáno que a “pureza do sangue romano” fosse garantida, independentemente da condição em que se encontrasse a pessoa ameaçada.
No exército, o problema era bastante frequente. Era natural que a longa duração das campanhas, a severidade da disciplina, o isolamento durante intermináveis invernos passados nos acampamentos e a própria camaradagem suscitassem tais amores. Mas como punham em perigo a “pureza do sangue romano", eram reprimidos impiedosamente. Os soldados culpados deste crime eram, em princípio, punidos com a morte. Isso não impedia, por certo, relações desta espécie, mas ficavam secretas e, quando o escândalo estourava, o sedutor não podia contar com nenhuma indulgência. Plutarco conta-nos como um sobrinho de Mário, chamado Caio Lúsio, que servia como oficial no seu estado-maior, acabou por encontrar a morte numa aventura deste tipo. Não era um homem mau, diz-nos Plutarco, mas não resistia à vista de um rapaz bonito e um dos soldados que serviam na mesma legião, um certo Trebónio, tinha-lhe inspirado forte desejo. Trebónio recusava ceder aos seus avanços. Uma noite, Lúsio mandou-o procurar por um servo com ordem de ir à sua tenda. Trebónio, como bom soldado, obedeceu ao oficial. Mas quando este, não se contendo mais, tentou violá-lo, empunhou a sua espada e matou-o. Mário estava ausente. Quando regressou, Trebónio teve de comparecer perante ele. Ora, no tribunal do Imperador, ao passo que não faltavam os acusadores, ninguém se arriscaria a tomar a defesa de um homem que tinha morto o sobrinho do general! Então Trebónio defendeu-se a si mesmo. Citou então testemunhas, que tiveram de revelar as numerosas tentativas de sedução de que Lúsio era culpado para com ele e a sua firme resistência. Por fim, a verdade pareceu clara a Mário, que, em vez punir o homicida, concedeu-lhe uma coroa, declarando que, com o seu gesto, tinha dado um exemplo que todos deviam seguir. Várias histórias semelhantes chegaram até nós. Por vezes, são jovens oficiais, como o sobrinho de Mário. Outras vezes, são veteranos, centuriões condecorados, cuja carreira termina vergonhosamente. A severidade era tanto maior quanto a posição ocupada pelos culpados lhes dava maior autoridade e permitia esperar deles que fossem guias, e não corruptores, dos jovens que lhes eram confiados. Foi o caso, por exemplo, de um centurião, M. Letório Mergo, que Comínio, o seu “coronel” e tribuno dos soldados, fez comparecer perante a justiça por ter pervertido um jovem porta-bandeira. Letório não ousou sequer esperar o dia do julgamento. Exilou-se voluntariamente e, pouco tempo depois, suicidou-se. Outro caso foi o de um “primipilo”, C. Cornélio, o mais antigo oficial inferior da sua unidade, que tinha tido relações culposas com um jovem de nascimento livre. Preso, recorreu aos tribunos, pretextando que a sua suposta “vítima” era, na realidade, um debochado que se prostituía. No entanto, os tribunos recusaram-se a ouvi-lo e deixaram-no morrer na prisão. Julgaram que o povo romano não devia estabelecer como que um acordo com pessoas desta espécie e tolerar a licença dos costumes, mesmo se o culpado possuísse uma excelente folha de serviços. No entanto, durante as guerras civis, parece que os “costumes gregos” foram praticados com frequência, pelo menos nos estados-maiores. Mas os amados não eram soldados, mas sim jovens escravos, como os que eram mantidos, na época, nas casas sumptuosas para prazer do senhor. Eram levados nas campanhas com os cavalos preferidos, os tapetes, as tapeçarias de púrpura e a prataria, todo aquele luxo que um romano deste tempo pensava ser-lhe indispensável. Sila tinha os seus favoritos. Também os havia no círculo de Sertório, o que não deixava de suscitar intrigas complicadas. Quando Perpena conspirou contra Sertório, confiou o seu projeto a um dos seus amigos, chamado Mânlio, que gostava de um jovem para quem não tinha segredos. O jovem partilhava os seus favores com Mânlio e outro oficial, um certo Aufídio, que ouviu, por isso, a confidência. Felizmente para os conjurados, Aufídio, em vez de a revelar a Sertório, contentou-se em prevenir Perpena, que, retirando a lição do fato, agiu sem mais demora.
Nesta época, apesar de tudo, continuava a ser considerado infamante que um homem livre se relacionasse sexualmente com outro. O bom do Plutarco, acostumado, na sua pátria, a maior indulgência para faltas consideradas veniais, surpreende-se com o que pensa ser uma inconsequência. Interrogando-se por que razão os rapazes de nascimento livre conservavam, até ao dia em que tomavam a toga pretexta, uma pequena esfera de ouro ao pescoço, finge primeiro imaginar que a razão consiste na aversão que os Romanos evidenciavam pela pederastia, se o amado fosse uma criança de nascimento livre:
Talvez os romanos dos tempos antigos, diz ele, a quem não repugnava amar jovens escravos machos na flor da idade nem o julgavam indigno de si, como o provam ainda hoje as suas comédias, mas que se abstinham estritamente de tocar em rapazes de nascimento livre, obrigassem as crianças a usar esta bola, mesmo quando estas não tinham nada vestido, para evitar qualquer risco de se lançarem sobre elas.
Plutarco não ignora que esta explicação não é a correta. No entanto, desejando encarar todas as hipóteses possíveis, julga que não deve ignorar esta reação instintiva da moral romana aos “amores à maneira grega”, reação que era uma consequência direta da ideia que se tinha do ato sexual e da sua natureza.
***
Com os amores fora do casamento acontecia o mesmo que com os amores pederásticos: como o ato carnal impunha a sua marca no "sangue” de quem lhe era submetido, todo o problema se resumia a saber se esta marca era infligida a um ser que podia, legitimamente, recebê-la em si ou que devia permanecer intocado. Em si mesmo, este ato não é nem bom nem mau, não merece nenhuma qualificação moral, porque é apenas a satisfação de um instinto natural. Todavia, tem importantes consequências, que se tornam reais independentemente da vontade ou da intenção dos amantes: foi por isso que a virtuosa Lucrécia, mesmo desculpada pelo seu marido, não quis sobreviver à violência que, segundo acreditava, a tinha manchado para sempre, tornando o seu corpo indigno de uma “mãe”. Enganar-nos-íamos se pensássemos que o ato de amor era considerado “pecado”. No entanto, era um acontecimento irreparável para o ser que a ele era submetido.
Este carácter do amor explica quer a tolerância de que os Romanos por vezes davam prova, quer, em outros casos, a grande ferocidade com que reprimiam as faltas mais ínfimas. Naturalmente, o adultério era punido de maneira particularmente severa. Geralmente, nos tempos antigos, a culpada era condenada à morte. Mas o cúmplice, se fosse surpreendido em flagrante delito, não era tratado com mais indulgência, e isso aconteceu até à época clássica. A tradição conservou a lembrança de alguns exemplos particularmente atrozes: é um marido ultrajado que manda matar o seu rival com o chicote; um outro que o manda mutilar, tomando-o doravante inofensivo para a honra das mulheres; um conquistador é entregue aos empregados que o submetem aos ultrajes mais infamantes. Como sabemos, estas vinganças atrozes puderam ser exercidas impunemente. Nas Metamorfoses, Apuleio conta como um moleiro, tendo surpreendido junto da mulher um jovem apaixonado, não quis dar-lhe a morte, mas forçou-o a passar com ele uma noite durante a qual o tratou como “uma criança” e, na manhã seguinte, mandou-o chicotear copiosamente, antes de o mandar embora em muito mau estado.
Na verdade, estes exemplos passaram a ser exceção na época clássica. Os maridos ultrajados já não se preocupavam em tornar a sua desonra assim tão pública, contentando-se em repudiar a mulher, ficando com o seu dote, e o cúmplice ficava, em geral, com a sua vergonha. Se a vingança fosse mais longe do que isso, a opinião pública estaria longe de permanecer unânime a favor do marido. Petrónio, por exemplo, conta-nos a aventura de uma senhora a quem o marido surpreendeu em flagrante delito com o intendente da casa. O marido não ousou atacá-la, porque o pai era um magistrado influente da pequena cidade e temia aborrecimentos. Mas o cúmplice foi condenado às feras, por ser de condição servil. Eis o que as pessoas comentaram acerca da decisão. Os ciumentos aprovaram-na, mas eram a minoria. Os jovens, que são os que comprazem em amar, disseram que o escravo, aliciado pela sua senhora, que tinha todo o poder sobre ele, não deveria de modo nenhum ser criticado, sendo profundamente injusto puni-lo. Todos estiveram de acordo em reconhecer, todavia, que marido que se vingue deste modo, ainda que tenha razão, cobre-se de ridículo, ao revelar a todos o que deveria ter mantido oculto. É de crer que os maridos partilhassem uma mesma opinião, dado que a legislação de Augusto obrigava os maridos ultrajados a repudiar as mulheres, sob pena de serem considerados intermediários e infames.
No entanto, o adultério não era, pelo menos nos tempos mais recuados, o único "crime sexual" a ser punido com severidade. Quando se tratava da honra de uma jovem de nascimento livre, os costumes não eram menos impiedosos. Um certo Públio Ménio tinha um liberto por quem sentia uma grande afeição e que estava encarregado de dar lições à sua filha. Ora, o liberto, um dia, descuidou-se a ponto de dar um beijo à aluna, jovem ainda - acabava exatamente de atingir “a idade do casamento”, talvez tivesse, portanto, doze anos. Este beijo não era com certeza culposo. O professor não teria pretendido senão dar à aluna uma inocente prova de afeto. No entanto, o pai mandou matar o pedagogo imprudente, porque julgava que a sua filha devia ser entregue ao marido “não só virgem de corpo, mas pura de qualquer beijo”.
Outro pai, para uma ofensa mais grave - porque o pedagogo se tornara amante da sua aluna -, matou não só o mestre, mas também a jovem.
Estes exemplos terríveis da severidade ancestral não devem surpreender-nos: existia então uma verdadeira religião, senão da honra, no sentido em que era entendida em outros tempos, pelo menos da pureza do sangue, imperativo absoluto que se recusavam a discutir e tinha a sua origem em crenças religiosas profundamente encerradas no subconsciente da raça. Compreende-se o terrível heroísmo de Virgimo, que, em meados do século V a.e.c., degolou a sua própria filha, à frente de todo o povo, em vez de permitir que fosse entregue como escrava ao homem que tinha por ela uma paixão ilegítima e imaginara satisfazer assim impunemente o seu capricho.
Não devemos pensar que estes dramas dão testemunho de uma particular austeridade dos costumes romanos na época antiga. De fato, estes mesmos Romanos, ferozes quando se tratava de proteger a "pureza" das jovens e dos jovens de nascimento livre, manifestavam para com os "amores autorizados” a maior indulgência. Atribuem-se ao velho Catão umas palavras famosas acerca deste tema. Um dia, o austero censor, regressando do fórum, viu um jovem que saía, dissimulando o rosto, de um dos maus lugares situados na vizinhança da praça. É que o jovem reconhecera Catão e tinha ficado cheio de vergonha por poder ser visto em tal ocasião. Mas o austero censor, em vez de o repreender, gritou-lhe: “Coragem, meu rapaz, fazes bem em frequentar as mulheres da vida e não atacares as que são honestas!” A lenda acrescenta também que, no dia seguinte, o mesmo jovem, seguro da aprovação de Catão, voltou ao mesmo sítio e saiu à mesma hora, desta vez ostensivamente. Catão viu-o, como na véspera, mas em vez de o saudar disse-lhe: “É verdade que te elogiei por frequentares a casa das meninas, não por morares com elas!”
Ter relações passageiras com mulheres do ofício, isso era permitido. O perigo começava apenas quando se tornavam um hábito e, por conseguinte, um começo de afeição e talvez de amor. Não costumava Catão dizer que um homem apaixonado “permite que a sua alma viva no corpo de outro”? A sabedoria consistia em fugir desta paixão ruinosa, destruidora da riqueza e, mais ainda, da vontade dos jovens. Mas como escapar ao apelo da natureza, como, senão tolerando, dar ao instinto as satisfações que o apaziguavam e lhe retiravam toda a virulência? Os velhos romanos pensavam, com ou sem razão, que o corpo satisfeito de um amante afasta o seu coração dos desejos ilícitos.
Em tempos recuados, um pai (cujo nome não é dito) tivera um filho que se apaixonara por um “objeto” ilegítimo e cuja paixão parecia incurável. Em vez de usar a força, este pai cuidadoso autorizou que o seu filho satisfizesse o desejo culpado, mas na condição de, antes de chegar a casa da sua amiga, fazer um desvio e passar algum tempo na companhia das cortesãs. O jovem obedeceu, muito contente com a autorização concedida, mas, quando o seu corpo se satisfez, sentiu muito menos ardor para enfrentar os perigos que o esperavam junto da outra. O mesmo tratamento aplicado repetidamente acabou por curá-lo por completo.
Horácio, em uma das suas primeiras Sátiras, prega a mesma moral, fundamentando-a em exemplos retirados dos filósofos cínicos e dos oradores populares:
Pois quê! - diz ele - O corpo de uma princesa é mais belo e mais desejável do que o de uma cortesã? Para que arriscar-se a um castigo terrível, seduzindo as senhoras cujos encantos estão velados pelos longos vestidos das matronas? Os grandes deste mundo, quando compram um cavalo, não olham aos seus arreios. As coberturas preciosas que o dissimulam não devem iludi-los. O mesmo se passa com as mulheres dissimuladas aos nossos olhos pelas toiletes rebuscadas. É mais satisfatório e menos perigoso para o património e para a honra ir tentar a sorte nas ruelas onde beldades pouco ariscas oferecem a qualquer um encantos visíveis! Tudo o resto é apenas ilusão, capricho de uma imaginação desenfreada, que, não compreendendo o que a natureza exige, complica muito, e perigosamente, as condições da sua felicidade.
Estas palavras, retiradas, na sua maior parte, dos “filósofos” helenísticos, retomavam temas caros à sabedoria dos velhos romanos. Horácio não a ignorava de modo nenhum. Falando assim, queria sobretudo mostrar que o epicurismo e mesmo o cinismo dos filósofos profissionais concordava maravilhosamente com a tradição nacional. De fato, os jovens romanos, em todos os tempos, tinham obtido fora do casamento a satisfação dos seus sentidos. Não podia ser de maneira diferente em uma sociedade baseada na escravidão. Muito antes de o crescimento do poder romano os pôr em contato com povos onde se praticava a prostituição, os “virtuosos" romanos não se coibiam de ter, para além da mulher legítima, uma ou várias concubinas. A monogamia legal era atenuada por uma poligamia de fato, admitida desde que não ameaçasse a integridade religiosa e jurídica da família.
Por mais surpreendidos ou escandalizados que possamos ficar ao descobrir os velhos romanos em flagrante delito de libertinagem, não se poderia pôr em dúvida o testemunho de numerosos textos, categóricos sobre este assunto. A existência e, ao mesmo tempo, o reconhecimento jurídico das concubinas são atestados por um célebre fragmento de uma lei atribuída ao rei Numa:
Que a paelex não toque no altar de Juno; se o tocar, que imole, com os cabelos soltos, um cordeiro-fêmea a Juno.
Esta “lei régia” não é, com certeza, do século VIII a.e.c. mas não deixa de ser muito antiga. O curioso rito de compensação que prescreve, a concepção da mácula transmitida pelo mero contato que nele está envolvida, tudo parece arcaico e garante-nos que o costume do “concubinato” remonta muito atrás no tempo. O termo paelex de- “uma mulher que tem relações habituais com um homem em justas núpcias”. Na verdade, a palavra é das mais obscuras. Se conhecêssemos a sua etimologia, estaríamos certamente mais bem informados sobre a natureza de algo que surge como uma verdadeira instituição desde a época em que a lei que nos ocupa foi formulada, mas as aproximações possíveis com o grego e o hebreu, infelizmente, pouco ou nada nos esclarecem. Quando muito, podemos supor que foi introduzida no latim a partir de alguma língua “mediterrânica” e admitir que, originalmente, a paelex era uma “estrangeira”, prisioneira e escrava que o senhor honrava com a sua proteção. A este respeito, a sua situação dentro de “casa” é ambígua. O seu corpo e o seu sangue eram ‘impuros’ devido às suas relações carnais com o senhor. Seria um sacrilégio aceitar que participasse no culto familiar, que a sua presença macularia. Seria um sacrilégio bem mais grave ainda do que o contato da sua pessoa, mesmo acidental, com o altar da deusa das "justas núpcias”. Contudo, enquanto semelhantes sacrilégios, em outros domínios, significa a morte do culpado, contra o qual era pronunciada a terrível fórmula, “que pertença aos deuses", aqui, a casuística romana concede um meio de expiação - o sacrifício do cordeiro-fêmea - capaz de restabelecer a pureza do altar, mantendo junto do senhor aquela que proteje que talvez ama.
Estamos bastante mal informados, naturalmente sobre o destino destas concubinas na época antiga, mas pensa-se que era semelhante ao das “cativas” de que se rodeavam os herois da epopéia homérica. É provável que, sem qualquer proteção legal ou religiosa, fossem apenas servas do senhor, instrumentos de prazer, vigiadas pela aversão das esposas, que, assim que o dominus deixasse de as honrar com as suas carícias, lhes faziam pagar caro a humilhação provocada pelas suas complacências. Os textos literários não conservaram nenhuma memória destes dramas domésticos, que pertenciam à vida quotidiana e estavam destituídos de toda a grandeza. Alguns testemunhos dispersos, no entanto, aludem a eles.
Sabemos, por exemplo, que o grande Cipião, o primeiro Africano, tinha uma ternura particular, na sua velhice, por uma jovem serva. A sua mulher, a avó dos Gracos, não o ignorava, mas, enquanto o marido foi vivo, fechou os olhos. Depois da morte do grande homem, exilado na sua vila de Literno, teve a grandeza de alma de não se vingar: deu a liberdade à “culpada” e casou-a mesmo com um dos seus libertos. Alguns anos mais tarde, Catão, o adversário de Cipião, não se portou melhor. Na sua velhice, tendo perdido a mulher e um filho, continuava muito vigoroso e sentia ainda o apelo da natureza. Sendo viúvo, vivia com o seu segundo filho e a nora. À noite, uma jovem da casa vinha frequentemente juntar-se a ele em segredo; pelo menos, era o que ele pensava. Todavia, numa pequena casa como a sua, dominada por uma nora jovem, nada podia permanecer secreto. Cedo os amores do velho chegaram ao conhecimento do casal. O filho não disse nada, mas pôs um ar ofendido que o pai entendeu, tanto e tão bem que Catão decidiu “regularizar” a situação e fazer da paelex sua esposa legítima, sem dúvida para humilhar e punir o filho. O pai da jovem era um dos secretários de Catão, que estava na sua dependência. Um dia, no fórum, o velho anunciou ao pai que tinha encontrado para a filha um marido muito conveniente, um pouco velho, mas rico e de boa família. O pai respondeu que autorizava, desde já, o casamento. Catão disse-lhe então que era ele mesmo o marido e imediatamente o compromisso foi firmado. O casamento teve lugar e, a seu tempo, nasceu um filho, o último do ilustre censor.
Estes amores ancilares, que um casamento regular podia vir ou não legalizar, parece que foram, de fato, muito frequentes. Os nobres romanos, sentindo uma aversão invencível pelo casamento com uma esposa do mesmo estatuto, preferiam viver em concubinato com alguma escrava, que acabavam por libertar, de acordo com o hábito. Os juristas concordavam bastante com esta maneira de proceder. Tinham criado o estatuto legal da liberta, concubina do seu senhor, e escandalizavam-se apenas quando pensavam que os senadores tinham alimentado o desprezo da opinião pública até ao ponto de fazerem de tais mulheres esposas legítimas.
No início do Império, a legislação de Augusto introduziu várias restrições a esta liberdade, que tinha por efeito diminuir progressivamente o número de famílias nobres e esgotar o recrutamento normal do Senado, dado que destas uniões não podiam nascer crianças legítimas. Mas esta legislação era aplicável apenas às pessoas de estatuto senatorial. Os outros cidadãos tinham o direito de viver livremente com a mulher da sua escolha. No entanto, mesmo o senador casado em justas núpcias conservava a faculdade de manter em sua casa tantas concubinas quantas desejasse e os próprios imperadores não deixaram de usufruir desta tolerância. Suetônio diz-nos que, na casa de Augusto, a esposa legítima do senhor, Lívia, escolhia jovens servas para cuidarem do seu prazer. Domiciano, por seu lado, tinha mandado fazer no palácio um aposento especial reservado às concubinas. Não há dúvida de que os historiadores antigos e modernos atribuíram a Domiciano a pior das reputações, mas não a ficou a dever a esta libertinagem, considerada então completamente normal, dado que Plínio, o Moço, em uma cama onde conta a morte atroz de um senador, assassinado pelos seus escravos, faz alusão, muito naturalmente e sem qualquer indignação, à existência de concubinas na casa da vítima. A fortuna e o estatuto do imperador permitiam-lhe usufruir muito mais do que os outros de um privilégio reconhecido a todos. Recordemo-nos que Cômodo, que gostava de imitar, na arena as proezas de Hércules, possuía um verdadeiro harém, onde viviam três centenas de homens novos e três centenas de concubinas, todos destinados aos seus prazeres. Uma destas mulheres. Márcia que tinha sido concubina de Umídio Quadrado, conseguiu tornar-se favorita do imperador e sabemos que logo exerceu sobre o seu coração e os seus sentidos uma tirania exclusiva.
Os “bons” imperadores, se se mostraram mais discretos, não deixaram de ter as suas concubinas. Antonino, o Pio, amou uma certa Lisístrata, uma liberta da casa imperial, que, no seu epitáfio, mandou escrever o seu título de “concubina” do príncipe. Dizia-se que era toda-poderosa no palácio e que Repentino, prefeito do pretório, lhe devia a sua ascensão. O próprio Marco Aurélio, o imperador filósofo sobre o qual os historiadores modernos competem nos elogios, que era, pelo menos, um “homem honesto”, tomou por companheira, depois da morte da mulher, a filha de um procurador da defunta. Esta jovem, chamada Fábia, pretendia casar com o imperador, mas este recusou sempre, por respeito pelos filhos que tinha tido de Faustina.
A presença de uma concubina em casa nunca foi considerada uma desonra, em nenhuma época da história de Roma. Como as leis não protegiam de modo nenhum a concubina, que dependia da boa vontade do seu “amigo”, tal fato era para este uma garantia da sua complacência e podemos avaliar a sua importância, se nos recordarmos da reputação que as “matronas” tinha alcançado. Já Plauto gostava de sublinhar a miserável condição do marido sujeito à tirania de uma esposa rica e bem nascida: desgraçado do homem que tivesse tido a fraqueza de se consorciar com ela e cedido ao engodo de um dote! Tendo relutância em mandá-la embora, ou sendo incapaz de o fazer, não podia pensar em divorciar-se e tinha de suportar a sua tirana, ao passo que, se se tivesse contentado com uma concubina, podia ter tido esperança de dias felizes.
Com o tempo, o concubinato torna-se em uma espécie de casamento “oficioso”, sujeito a algumas das regras que se aplicavam ao casamento legal. Por exemplo, não poderia ser reconhecido se a companheira tivesse menos de doze anos. O título de concubina pertencia a todas as mulheres com as quais o casamento seria uma “desonra” ou legalmente impossível. Como instituição legalmente “concebida”, representa a última fase da evolução do casamento e como que a sua “humanização” final: união de fato, resultante apenas da ternura, visava menos autorizar a libertinagem do que substituir um casamento impossível. Era o que acontecia, nomeadamente, nas uniões entre escravos, que levantavam ao legislador - e aos costumes - problemas graves, de outro modo insolúveis.
Os escravos, com efeito, não podiam realizar um casamento legal, pois não possuíam personalidade jurídica. Nos tempos antigos, os amores entre escravos eram considerados da mesma maneira que os dos animais da propriedade: um meio para o senhor aumentar o seu patrimônio, graças às crias. Mas não era tão fácil controlá-los como os dos animais de estábulo e podemos imaginar a que ponto o problema podia ser delicado, quer nas explorações agrícolas, quer nas casas das cidades. Não bastava fechar, todas as noites, as servas em uma parte separada da casa. São muitas as artimanhas dos apaixonados e não há guardiões nem guardiãs incorruptíveis. Um jarro de vinho furtado do celeiro dos senhores e uma guloseima venciam a resistência das mais vigilantes das velhas. As comédias mostram-nos muitos destes intendentes, destas amas envelhecidas, que, não tendo outra consolação na sua provecta idade do que os prazeres do vinho, se mostravam compreensivas, se lhes satisfizessem o gosto.
O velho Catão com seu espírito metódico e a sua preocupação em controlar os mínimos detalhes domésticos em benefício dos seus interesses, encontrou um meio prático para resolver o problema. Autorizava as relações amorosas entre escravos e servas, cobrando-lhes uma renda em prazos fixos. Assim, por uma ou duas moedas retiradas ao seu pecúlio, os escravos podiam corresponder ao apelo da natureza sem se arriscarem a ser castigados.
Independentemente do que se possa pensar do sistema imaginado por Catão, o princípio desumano que negava sistematicamente ao escravo o direito de amar e de perpetuar nos filhos a sua pessoa não podia continuar a ser cumprido. Feria demasiado os sentimentos naturais e, a prazo, a sua aplicação revelava-se ruinosa. Por exemplo, os escravos nascidos em casa, os vemae, cresciam com os filhos do senhor, partilhavam os seus jogos e, uma vez adultos, ocupavam postos de confiança. Como seria possível considerá-los meras “coisas” ou, pior ainda, animais de trabalho? Era inevitável que, gradualmente, os escravos adquirissem uma espécie de personalidade de fato, um estatuto quase humano e como que um direito a viver uma vida própria.
Uma graça de Plauto, na Cásina, fez crer a alguns historiadores que a lei romana aceitara verdadeiros “casamentos” de escravos. Na verdade, não era assim. A própria noção é fantasiosa: só a sua menção deveria fazer rir o público romano, no tempo das guerras Púnicas. Todavia, se não havia, e não podia haver, casamento legítimo entre escravos, havia uniões de fato, duradouras, toleradas na prática, entre pessoas de condição servil. Em teoria, estas uniões eram precárias e dependiam da boa vontade dos senhores, mas, na grande maioria dos casos, nada contrariava este “concubinato”, ou, como o designavam geralmente, esta "coabitação” (contubemium). Era considerado um verdadeiro casamento: a companheira vivia ao lado do "marido" e ninguém pensava em separá-los, os filhos pertenciam, de direito, ao senhor, mas este, na prática, não tinha nenhum interesse em dispersar a família que vivia no seu domínio e lhe assegurava a prosperidade. Nos campos, nomeadamente, onde a estabilidade da mão-de-obra assegurava o valor das terras, os escravos tornavam-se, muito naturalmente, “servos”, condição jurídica que não os condenava necessariamente a viver na incerteza do dia seguinte.
Mas este fenómeno não acontecia apenas nos domínios rústicos. Também na cidade, nos grandes grupos familiares de escravos que se multiplicavam no fim da República e no Império, havia muitas uniões estáveis e duradouras entre companheiros de servidão. Há inúmeros monumentos funerários, dispersos em redor de Roma, cujos epitáfios nos mostram que estes casais, formados sem o apoio das leis e resultantes apenas da “prática”, permaneceram unidos até na morte. Deveremos atribuir o mérito desta humanização da condição servil à brandura dos costumes? Deveremos pensar que o crescimento desmedido do pessoal doméstico nas famílias nobres tendia a preservar os escravos das fantasias do senhor, dando-lhes a proteção de uma espécie de anonimato? Cada um, segundo as suas preferências e de acordo com o juízo que faz da sociedade romana, pode escolher a explicação que mais lhe agrade. Talvez seja prudente não formular conclusões demasiado gerais: consoante as casas e os senhores, quer a humanidade, quer a indiferença podem ter contribuído para produzir o mesmo resultado. O certo é que, neste domínio, onde reinava, do ponto de vista legal, o arbitrário, acabaram por se formar hábitos e, gradualmente, vemos “famílias” de escravos a aumentar e “casamentos” a realizar-se, os quais, na prática, não se distinguiam em nada dos casamentos dos homens livres. Foi com a instituição do concubinato que se operou esta aproximação entre as condições sociais.
Qual era, porém, o peso destas, face aos caprichos da paixão? O Satiricon de Petrônio, tão rico em detalhes "verdadeiros”, faz-nos entrever alguns dos romances e dramas que se desenrolavam nas grandes casas. O herói do principal episódio conservado, Trimalcião, é um escravo vindo da Ásia ainda muito jovem. Os seus longos cabelos, caindo em cachos sobre o pescoço, o seu ar vivo e a sua inteligência tinham seduzido rapidamente o senhor, que fez da criança o seu companheiro muito querido. Trimalcião foi, de início, apenas um destes pueri delicati que eram mantidos na ociosidade e vestidos com roupas elegantes e jóias e cujo mérito principal era a beleza, a que se associava a mais total complacência. Pouco a pouco, tornou-se o favorito do senhor. Ora, acontece que a senhora da casa, por seu lado, não ficou indiferente ao encanto do jovem oriental. Todavia, Trimalcião - que, na sua embriaguez, evoca estas recordações remotas - é ele o próprio a dizer: “minha língua, cala- -te, dar-te-ei pão”. Estes prazeres que concedia abertamente ao senhor - sem vergonha, porque, diz ele, “como poderia não obedecer às ordens do senhor?” - e, furtivamente, à senhora da casa acabaram por fazer a sua fortuna. O senhor não deixou, na verdade, de suspeitar das infidelidades da esposa. Afastou Trimalcião durante algum tempo, mas, no seu testamento, deu-lhe a liberdade. Enriquecido com os presentes que devia aos seus encantos, Trimalcião, uma vez livre, pôde, por sua vez, desenvolver operações comerciais frutuosas e conhecer o poder que o dinheiro confere. Tomou Fortunata por companheira, a qual lhe foi fiel nos dias maus. Fortunata era uma antiga “amiga” com quem, dizem as más línguas, ninguém teria ousado partilhar um pedaço de pão. Mas não havia quem fosse mais poupado do que ela. Para além disso, ligavam-na ao marido tantas recordações! As herdeiras mais ricas da cidade bem tentaram aliciar Trimalcião, mas este ignorou-as. Tem de cuidar de Fortunata - “é um antigo amor”, diz ele, ou, dizem por ele, “uma chaga antiga!” As disputas entre ambos fazem a alegria do lar. Chegam a ter camas separadas, mas voltam a juntar-se, apesar de tudo, e manterão o seu amor tempestuoso e envelhecido até à última morada, onde, apesar do que Trimalcião possa dizer quando está zangado, as suas estátuas irão ficar lado a lado, entregues ao olhar de quem passa. E depois, Fortunata é tão boa dona de casa. Cuida de tudo, conta a prataria e controla a despesa, o que não desagrada ao senhor, por mais rico que seja.
Tal como as aventuras de Trimalcião, que fizeram as delícias do senhor e da senhora, o romance de Cerinto e de Sulpícia constitui também um exemplo dos amores proibidos que não podiam deixar de ocorrer nas grandes casas. É-nos contado, não sem pudor, por alguns pequenos poemas que nos códices aparecem depois das Elegias de Tibulo. É Sulpícia, a jovem sobrinha do nobre Valério Messala, que canta a sua paixão pelo jovem Cerinto, em quem devemos ver um escravo, talvez um liberto da família. É um amor ardente, mas culpado, que se desenvolve na sombra. Sulpícia reconhece que não pode pertencer abertamente àquele de quem gosta. No entanto, entrega-se e, no amor, descobre “que é digna dele e que ele é digno dela’’. Sofre por vê-lo nos braços de uma escrava, preso ao destino da sua condição. Espera-o em uma noite em que ela teve de deixar Roma e dirigir-se ao campo. Festeja secretamente o dia do seu nascimento. Tem por ele a mesma delicadeza de sentimentos e os mesmos ardores que sentiria por um homem de quem não estivesse separada por tantas convenções e tantos obstáculos insuperáveis. Ignoramos como terminou o idílio. As poucas folhas separadas que se conservaram acabam antes da conclusão. Talvez Sulpícia, preocupada com o cumprimento do seu dever, tenha dado ouvidos às propostas dos jovens nobres que a cortejavam. Talvez Cerinto tenha sido o primeiro a cansar-se de uma aventura perigosa e sem futuro. O que quer que tenha acontecido, é de pensar que as grandes casas romanas terão assistido muitas vezes a aventuras deste gênero, mas ignorá-las-emos para sempre, porque os heróis e as heroínas não eram poetas que pudessem escrever em verso a sua crônica.
***
Os amores dos jovens eram dedicados com mais frequência às cortesãs. Todas as cidades do Oriente e da Grécia conheciam, há muito tempo, estas mulheres - algumas eram escravas, outras libertas e outras ainda, mais raramente, de nascimento livre - que vinham procurar riqueza junto dos adolescentes de boas famílias, dos mercadores e dos soldados, mas também, por vezes, ocupar na vida dos homens o lugar que as mulheres legítimas, encerradas no gineceu e excluídas dos contactos sociais, tinham que deixar vazio.
Quando Roma se tornou a capital do mundo mediterrâneo, naturalmente, o mesmo gênero de mulheres para aí começou a afluir, pois era também para aí que negociantes e publicanos encaminhavam as riquezas dos reinos e das cidades do Oriente. Mas, na verdade, os Romanos não tiveram de aguardar o tempo das grandes conquistas para ver entre si as cortesãs “à grega”. Os mercadores de mulheres enveredaram pelas estradas que conduziam à cidade desde a época em que as legiões romanas ocuparam a Campânia e as regiões helenizadas da Itália Meridional. Se os exércitos de Aníbal, no fim do século III a.e.c., tiveram em Cápua inúmeras oportunidades para o deboche, há muito que as trocas comerciais entre Roma e as cidades do Sul tinham familiarizado os Romanos com os costumes fáceis que os colonos gregos tinham introduzido na Itália. Aliás, os Romanos opuseram-se-lhes tanto menos quanto, como já dissemos, o amor comprado não tinha, a seus olhos, nada de vergonhoso. Plauto afirma-o. Palinuro (um dos personagens de O Gorgulho) responde sem rodeios a alguém que se surpreende de o ver entrar na casa de um mercador de mulheres:
Ninguém proíbe ou impede que se compre o que está à venda para todos, se se tiver dinheiro para o fazer. Ninguém proíbe que se caminhe pela via pública. Desde que não se faça passagem através de uma propriedade fechada, desde que não se deite a mão a uma mulher casada, a uma viúva, a uma virgem, a jovens e rapazes livres, ninguém impede que se faça amor com quem se quiser!
Isto não significava que o ofício de mercador de mulheres (ou leno) fosse considerado honroso. Um leno estava privado dos seus direitos cívicos, era “infame”. Uma célebre decisão tomada pelo pretor urbano Q. Metelo tinha consagrado a sua degradação jurídica: como o leno Vecilo reclamava, no seu tribunal, a posse de bens que lhe tinham sido legados, em boa e devida forma, por um cidadão. Metelo negou-lhe o pedido. Considerou que o testador errara ao querer que a sua fortuna se destinasse a um lugar impuro e, por outro lado, julgou que o leno, tendo renunciado a viver uma vida honrosa, não merecia ter o benefício das leis. Também nas comédias vemos frequentemente o leno vencido e enganado sem remissão: os jovens que troçam dele sabem, na realidade, que, se o assunto chegasse a ser levado aos juízes, toda a gente condenaria a sua vítima. Este fato impele os mercadores de mulheres a mostrarem-se duros nos negócios, ardilosos, impiedosos. Rodeiam-se de todas as precauções possíveis, porque, neste mundo de intriga, não podem contar com a boa-fé dos seus clientes. Estes não só tentam seduzir as suas “pensionistas” sem seu conhecimento, não só inventam mil estratagemas para não lhes pagar as somas acordadas, como não hesitam em recorrer à violência para entrar nas suas casas e levar as mulheres. Muitos nem sequer poupavam ao leno as agressões. Mas não os lamentemos demasiado. As mulheres de que fazem comércio foram, por vezes, compradas no Oriente, em países onde as leis não protegem a liberdade das pessoas. Foram pais reduzidos à miséria que as venderam, ou, frequentemente também, foram roubadas por bandidos ou piratas, e um tráfego criminoso reduziu-as à condição de mercadoria humana. Também não era raro que os negociantes desta espécie recolhessem crianças muito novas, abandonadas pelos pais, logo depois do nascimento, e as criassem para as vender com um lucro substancial. Estes negócios não eram proibidos, mas era natural também que não houvesse grande consideração pelos homens e mulheres que o praticavam. Por isso, quando um jovem estava firmemente decidido a arrancar uma mulher das mãos de um leno, não hesitava em empregar todos os meios.
O jovem Esquino, em Os Adelfos de Terêncio, acaba de retirar uma mulher ao leno Sanião. O outro persegue-o para recuperar o seu bem. Mas Ésquino, sem se perturbar com as suas ameaças, oferece-lhe pela mulher um preço razoável e acrescenta:
Se não queres vendê-la? Muito bem, de acordo. Eu também declaro que ela não está à venda. É uma mulher livre. Liberto-a com a minha própria autoridade. E agora vê o que preferes: aceitar o dinheiro que te ofereço ou mover-me um processo junto dos juízes. Reflete e responde quando eu regressar!
Depois de ouvir isto, Sanião, sozinho, alarga-se em declarações amargas:
"Ó Grande Júpiter. Não me surpreende que haja pessoas que fiquem loucas por terem sido indignamente tratadas! Ele tirou-me da minha casa à força, bateu-me, levou, contra a minha vontade, uma mulher que me pertence e, em paga de todas as violências, pretende que lha venda pelo preço por que a comprei! A mim, pobre homem, fez-me mais de mil afrontas! Mas como, apesar de tudo, me apresentou uma proposta honesta, seja! Está no seu direito e desejo que o negócio se faça, mas desde que me pague. Prevejo que as coisas se vão passar assim: quando disser que a entrego por aquele preço, encontrará imediatamente testemunhas que dirão que concluí a venda, mas, quanto ao dinheiro, nada feito! Dirá então: 'Volto amanhã!' Isso ainda posso suportar, desde que me pague. No entanto, é difícil de aceitar.
Mas tenho de me conformar. Quem se entregar a este ofício que eu faço tem de engolir sem nada dizer as ofensas deste jovens insignificantes..."
Os mercadores de mulheres, como Sanião, traficavam com grandes carregamentos, que levavam, de acordo com as variações do mercado, aqui ou ali, para satisfazer os apreciadores. Mas havia também empresários fixos, que se limitavam a manterem sua casa uma família feminina cujos serviços alugavam. As suas jovens escravas eram preparadas para este ofício de agradar: recebiam uma educação especial e as que possuíam algum dom aprendiam a cantar, a tocar lira ou flauta e a recitar poemas. Havia escolas onde professores lhes ensinavam música, sendo pagos pelo leno. Alugadas pelo seu senhor por uma noite, participavam nos banquetes dos jovens (ou menos jovens), que alegravam com o seu talento e a sua presença amável. Mais tarde, durante a bacanal que se seguia, em geral, à refeição, quando o vinho corria abundantemente, dispensariam outros prazeres, a menos que, compadecidas, ajudassem algum jovem comensal intemperante a reencontrar o caminho de volta a casa ou lhe sustivessem a cabeça, enquanto se libertava dos excessos que acaba de cometer.
Muito rapidamente, estas mulheres de aluguel granjeavam uma clientela nobre. Faziam amigos, adquiriam hábitos e depois, se fossem coquetes, armavam intrigas, suscitavam rivalidades. Um fragmento de uma comédia de Névio intitulada A mulher de Tarento descreve a manobra de uma destas cortesãs:
"Como uma bola em um círculo de jogadores, ela entrega-se sucessivamente a cada um e a todos. A um faz um sinal com a cabeça, a outro, um piscar de olhos; faz amor com este, ao mesmo tempo que tem outro nos seus braços; de um lado, ocupa a mão, no outro, ela usa o pé; a um faz admirar o seu anel, enquanto, com a ponta dos lábios, ela chama outro; canta com este, mas, com um dedo, envia uma mensagem àquele…"
Cada uma destas mulheres tem, evidentemente, apenas uma ideia: conquistar um amante que a queira comprar ao leno e instalá-la em sua casa, ou, talvez, se estiver bastante apaixonado, que consinta em libertá-la. Então, não já dependerá de ninguém; poderá exercer o seu ofício livremente e, quem sabe, fazer fortuna! Mas o leno é ávido; adivinha as intrigas e, quando um cliente morde o anzol, encontra mil pretextos para exasperar o seu desejo sem o satisfazer. Propositadamente, afasta a mulher ou fecha-a, pretextando que está doente ou que um cliente sério prometeu por ela uma soma considerável, com a condição de lhe pertencer em exclusivo. O jovem, geralmente bastante desprovido de dinheiro, procura por todos os meios persuadir o seu carrasco. Põe em campo as suas gentes para encontrar dinheiro, custe o que custar, pede emprestado aos amigos, aos usurários, oferece cada vez mais, sem nunca estar certo de que um rival não lhe irá ficar com aquela que cobiça.
É que os apreciadores não faltam: ficam à espreita das beldades que chegam à cidade e não hesitam em exprimir viva e claramente a sua admiração. Em uma comédia de Plauto, um burguês explica por que não quer dar à sua mulher a bonita ser, a que lhe oferecem:
"Porque se uma mulher desta beleza acompanhasse uma mãe de família, haveria escândalo quando passasse nas ruas. Iriam examiná-la, mirá-la com atenção, far-lhe-iam sinais com a cabeça, far-lhe-iam olhinhos, diriam “Pst! Pst!”, iriam beliscá-la. chamá-la-iam, e quantos aborrecimentos iríamos ter! Viriam armar barafunda à frente da porta, viriam escrever com carvão elegias galantes nos batentes. Isto para não dizer que, com a maledicência dos nossos dias, não faltaria quem acusasse a minha mulher e a mim de termos um belo ofício!…"
É um retrato vivo de uma pequena cidade "meridional", onde os homens, aparentemente ociosos, não pensam senão nas conquistas possíveis e se voltam ostensivamente para toda a mulher que passa. Mas se a mulher é uma matrona ou uma filha de família, identificada pelo vestido que termina com um folho que chega a cobrir o calcanhar, o olhar desvia-se imediatamente. Se é uma “moça” com um vestido curto, como as servas, ou se se envolve na toga que pertence às cortesãs profissionais, então o olhar demora-se, e são as exclamações irônicas, os gritos de admiração, todo o repertório do conquistador de esquina que elogia uma beleza fácil. À noite, depois dos homens “sérios" terem deixado o fórum, os jovens espalhavam-se pelas ruas e, em grupos, iam ”ver as meninas”. Passavam e voltavam a passar sob as janelas do leno. davam algumas pancadas na porta, que estava cuidadosamente fechada. Se alguma mulher “independente” arriscasse um olhar para fora, então juntavam-se, cantavam canções, fingiam subir até à janela entreaberta e os encontros eram acordados ou recusados, conforme os que os solicitavam tivessem crédito ou não.
***
Estas escaramuças à porta das beldades serão frequentemente evocadas pelos poetas elegíacos, que farão disso um tema literário. Mas, na realidade, nem sempre aconteciam sem alguns perigos e o problema acabava por vezes no tribunal. Um certo Aulo Hostílio Mancino, que exercia o cargo de edil curul, apresentou um dia uma queixa por causa da violência de uma cortesã chamada Manília: contou que tinha sido ferido por uma pedra lançada, à noite, do primeiro andar da casa onde habitava a senhora, mostrando ao tribunal a ferida causada pelo projétil. Manília, por seu lado, apelou para os tribunos da plebe. Disse que o edil se apresentara, uma noite, à sua porta, com uma alegre comitiva, à saída de um banquete, e vinha coroado de flores. Não tinha julgado conveniente recebê-lo e, como Mancino não se dava por vencido, mas tentava entrar à força, tinham afastado o assaltante com pedras. Os tribunos emitiram o seu acórdão: Mancino tinha tido apenas o que merecia; Manília agiu em legítima defesa; Mancino tinha-se conduzido indecentemente, aparecendo em público coroado de flores; consequentemente, os tribunos recusaram a sua queixa e Manília não foi acusada. Não pensemos, por conseguinte, quando vemos, em uma comédia, um amante desiludido lançar os seus escravos contra uma casa onde se enclausura uma destas cortesãs, que se trata de ficção poética ou de costumes exóticos. De fato, as coisas passavam-se assim com bastante frequência, mas o culpado, em caso de conflito, não podia contar com a indulgência das leis. Se o leno não tinha qualquer simpatia por parte dos magistrados, a cortesã “independente” tinha direito à sua proteção e o seu ofício não a expunha a sofrer sem defesa as ofensas e as violências dos apaixonados brutais.
Por vezes, via-se junto à porta de uma cortesã um apaixonado que velava. Quando as alegres comitivas tivessem deixado de percorrer as ruas e o silêncio tivesse regressado, ele continuava a ser o único a aguardar, contra toda a esperança, que a porta se abrisse. Pensava dar assim àquela que o afastava a prova do seu amor: tanta paciência e submissão não mereceriam uma recompensa? De tempos a tempos, o apaixonado lamentava-se, queixava-se, dirigia aos deuses da porta e da entrada uma oração comovente; pendurava no lambril as grinaldas de flores que até então tinham ornado a sua cabeça e com as quais já não tinha coragem de se enfeitar. Na casa, bem se aperceberam da sua presença; as servas vieram dizer à senhora: “Há um homem à porta, é fulano, está deitado à soleira, coitado!” E a senhora, vencida, talvez, por uma tal insistência, terá piedade do enamorado, a menos que lhe feche a porta, porque está já nos braços de outro, mais rico, mais divertido, ou mais amado.
Este costume, que se praticava nas regiões gregas na época helenística, tinha sido introduzido em Roma com os demais hábitos amorosos que as cortesãs vindas de Oriente tinham ensinado aos seus "clientes" romanos. Na Grécia, tinha dado lugar a um tipo literário chamado paraklausithyron, a “canção em frente da porta fechada", e os poetas romanos tratarão também eles este tema. Também neste caso a ficção poética se inspira diretamente nos costumes, de que e uma imagem nada distorcida.
***
A comédia latina, desde antes mesmo do nascimento da elegia romana, apresenta um quadro extremamente vivo do mundo das cortesãs. Vemo-las - pelo menos as que conseguiram escapar ao leno e ascender na hierarquia da sua profissão, estabelecendo-se por conta própria - estender as suas redes para apanhar os homens, preparar os seus enganos, incentivar-se mutuamente a não ceder senão perante metal sonante e verdadeiro e sobretudo, a nunca se apaixonar! Uma cortesã digna deste nome passa muitas horas por dia a cuidar da sua aparência. Por exemplo, a jovem Adelfasia, na manhã da festa de Vênus (que é a das cortesãs), conta à sua irmã, ao terminar a sua toilete, os cuidados que teve:
"Sim, até este momento e desde a aurora, tivemos, eu e tu, apenas uma ocupação: banhar-nos, friccionar-nos, limpar-nos, vestir-nos, escovar-nos e voltar a escovar-nos, pintar-nos, enfeitar-nos. Para além disso, deram a cada uma de nós duas servas que passaram todo o tempo a lavar-nos, a voltar a lavarmos, isto sem contar com os dois homens que se afadigaram a trazer-nos a água! Não me fales nisto, peço-te; que trabalho dá apenas uma mulher! Mas duas, então, julgo que só por si dariam trabalho a um povo inteiro!..."
Ao que a irmã responde:
"Surpreende-me, minha irmã, ouvir-te falar assim, tu que tens tanta experiência, conhecimento e espírito. Temos de nos apresentar tão elegantes quanto possível, pois será difícil encontrar sequer um ou dois infelizes amantezinhos!"
As duas irmãs, porém, sabem o que valem. Hesitam em ir cedo ao templo de Vênus:
"Há uma multidão agora junto do altar. Mas talvez queiras misturar-te com aquelas mulheres que estão à espera de clientes, sentadas na rua, essas amantes de ajudantes de moleiro, essa ralé coberta de sêmola, essas infelizes cheias de perfume barato, essas imundas filhas de escravos que cheiram a taberna e a bafio, que apenas sabem ficar sentadas, horas e horas, e que nenhum homem livre quis alguma vez tocar ou levar com ele, putas baratas para escravos de segunda!"
É que, entre as cortesãs, há uma infinita variedade. No nível mais baixo estão as mulheres que o leno instalou no lupanar. Cada uma está de turno, na rua estreita e malcheirosa, à frente de um cubículo cuja porta é tapada por uma cortina. Está sentada em um tamborete e provoca o cliente. Mais do que seminua ou mal coberta com uma túnica transparente, obedece ao mais pequeno sinal do homem que a deseja e entra com ele na divisão escura, onde, sobre uma espécie de banco de alvenaria, coberto com uma esteira reles, se entrega por algumas moedas, que a alcoviteira que a emprega logo lhe vem tirar. São às dezenas, na rua mal-afamada, as que assim fazem este ofício, dia e noite. Os seus clientes são os escravos, os pobres diabos que compram um momento de prazer e, sobretudo, o sentimento de não serem, pelo menos uma vez, uma coisa que se despreza, a ilusão de poderem receber ou dar um pouco de ternura.
São estas mulheres embrutecidas pela ociosidade, destituídas de esperança e destinadas a uma ruína precoce que as duas belas cortesãs de O Cartaginês tanto desprezam. Mas, será que elas, com toda a sua elegância, a sua aparência sedutora, enganam realmente os homens? Eis como as descreve um escravo moralista:
"Quando estão em público, são do mais requintado, do mais cuidado, do mais elegante que podemos encontrar. Quando jantam com um amante, sabem apreciar o que comem. Mas ter visto a sua sujidade, a sua imundície, a sua miséria, verificar as suas más maneiras quando estão sozinhas em casa, da sua glutonaria, ver como devoram o pão escuro molhado no guisado da véspera, conhecer tudo isso representa a salvação dos jovens."
Muitas vezes, estes pobres mulheres vivem no seu casebre em companhia de uma velha que é um pouco a conselheira, um pouco a protetora, aquela a quem os poetas chamam lena e que, em outros tempos, será conhecida como “aia”. Geralmente, é uma antiga cortesã, a quem os anos despojaram de encantos e que tenta tirar proveito dos amores pagos que propicia à sua protegida. É ela que recebe os amantes e os faz anuir a dar os presentes que se espera deles e eles recusavam; é ela quem leva os bilhetes e organiza os encontros, sempre com um ar respeitável e protestos de virtude, que desaparecem assim que se acerta o preço. Os clientes esforçam-se para a colocar do seu lado. Conseguem-no com alguns escudos, mas também, às vezes, dando-lhe de beber. É que estas velhas estão sempre com sede. Gostam tanto ou mais de vinho que de dinheiro e, depois de beberem, sabem adormecer quando é conveniente.
Formadas com o exemplo da aia, doutrinadas com os seus conselhos, as cortesãs esforçam-se por ganhar, enquanto puderem, todo o dinheiro possível. Os poetas cômicos, por outro lado, descrevem à porfia os seus inúmeros subterfúgios para obter presentes dos seus amantes. Qualquer ocasião é boa. Multiplicam os aniversários, as festas religiosas e pedem constantemente uma serva, um pequeno escravo, jóias, tecidos preciosos, toiletes novas. Chegam, por vezes, a conseguir casas e propriedades de jovens ingênuos, que, no final, ficam desprovidos a seu património e têm de se exilar para refazer a fortuna.
No teatro de Plauto, as cortesãs são representadas como vampiras insaciáveis e, embora os jovens não sejam moralmente culpados de as frequentar, correm, no entanto, grandes riscos na sua companhia. Por isso, os pais, em geral avaros, ou apenas cuidadosos, tomam medidas severas quando o perigo se torna demasiado premente. Se vêem um jovem procurar uma mesma cortesã com demasiada frequência, se corre o risco de cometer alguns disparates por causa dela, enviam-no para o campo. Lá, longe das tentações da cidade, poderá, se quiser, satisfazer os seus sentidos com alguma serva rústica com quem a intimidade não terá perigos, a menos que o seu corpo, cansado dos trabalhos dos campos, dispense outros esforços para encontrar o sono. Quando se curar completamente, casá-lo-ão e tudo regressará à ordem.
Tal é a concepção de Plauto, que reflete os costumes do seu tempo. Dificilmente poderíamos, então, falar de amor nas relações passageiras que se estabeleciam entre os jovens romanos e as mulheres que os ajudavam a passar a juventude com o mínimo de esforço possível. Todavia, meio século mais tarde, a situação era bem diferente e vemos no teatro de Terêncio que os costumes se alteraram. Assim como em Terêncio o casamento se torna um assunto de amor, também a cortesã, nas suas comédias, já não é considerada um simples instrumento de prazer, uma “devoradora de patrimônio”, mas uma companheira por quem um jovem pode ter um sentimento sincero de ternura e que é, também ela, capaz de amar.
Também neste aspecto o teatro reflete a vida. Como dissemos, muitos romanos, a partir do século II a.e.c., ganharam aversão ao casamento, preferindo companheiras menos exigentes. As cortesãs de Terêncio estão muito próximas destas “concubinas”, libertas que o proprietário conservava junto de si, por afeto, uma vez apaziguado o ardor da juventude. Os sentimentos delicados de que dão prova estas mulheres, como a Báquis da Hécira, que superou a sua própria inveja e se preocupou em proteger a felicidade conjugal do seu antigo amante, não deixavam de acontecer na realidade. Também o escândalo das bacanais (que rebentou em 186 a.e.c., 21 anos antes da primeira representação da Hécira) teve por origem a denúncia de uma cortesã. Angustiada pela vida do seu amigo, que devia ser iniciado e corria o risco de ser assassinado durante a orgia que acompanhava a cerimônia, não hesitou em ir ter com o pretor e, apesar dos riscos que isso a fazia correr, revelar os segredos da seita.
Das mulheres dedicadas ao prazer que Terêncio nos apresenta, a mais humana, a mais moderna e também a mais amada é provavelmente a Taide de O Eunuco. A sua vida assemelha-se à de muitas outras que poderíamos encontrar em redor do Mediterrâneo e o que a comédia, no seu caso, situa em Atenas, passou-se decerto com frequência a outras cidades e, em particular, em Roma. Taide nasceu em Rodes, onde habitava a sua mãe, originária de Samos. Havia pouco dinheiro em casa e, um dia, um estrangeiro de passagem desencaminhou a jovem, que era certamente ainda adolescente, e levou-a para viver com ele em Atenas. Aqui, o sedutor, que se tinha ligado a ela sem, naturalmente, a fazer sua mulher, faleceu e legou-lhe tudo o que lhe pertencia, que consistia em uma casa. Eis Taide independente. Jovem, sem apoios, não pôde senão tornar-se oficialmente cortesã. Aceita sem hesitar esta condição, a que tudo a destina, e os galãs sucedem-se em sua casa. Aparentemente, os seus negócios florescem, porque mantém uma grande casa com servas e vários escravos sobre os quais reina uma velha intendente. No entanto, apaixona-se um dia por um dos seus clientes, que - o acaso faz bem as coisas - é também seu vizinho. Este jovem, chamado Fédria, está também, por seu lado, perdido de amores por Taide. O sentimento que esta tem por ele não impede que lhe peça presentes e Fédria não procura subtrair-se a esta obrigação, tanto mais que o seu amor estimula a sua generosidade. Mas sofre com o ofício da sua amiga. A partilha que é obrigado a fazer é-lhe insuportável. Porém, não é suficientemente rico nem, sobretudo, suficientemente independente para a manter. Por seu lado, a jovem tem de salvaguardar, com habilidade e firmeza, a situação que criou e não quer comprometer a vida inteira, desdenhando, por um homem com quem nunca poderá casar, os lucros que a juventude lhe permite obter. Contudo, também não é com agrado que se resigna a estes encontros de ocasião, ainda que frutuosos. Sente tristeza quando tem de fechar a porta ao seu querido Fédria para receber algum soldado com a bolsa bem recheada. Passa, então, a fazer uso de todos os enganos, torna-se a “cortesã má” de Plauto, reservando os seus carinhos e os seus arrebatamentos apenas para Fédria.
Taide tem uma ambição: chegar a ser, se não uma “burguesa", pelo menos uma “semiburguesa”. O caminho do casamento está-lhe vedado. Espera, por isso, merecer o reconhecimento de um cidadão rico e tornar-se na protegida de uma grande casa. Ora, em Rodes, ela foi criada com uma menina, que é cidadã de Atenas e fora raptada anteriormente por piratas, que considera como sua irmã. Por isso. depois de se ter estabelecido na cidade, fez vir a adolescente e decidiu entregá-la à sua família. Com este ato de benevolência estão criados os laços de reconhecimento que levarão a que Taide se instale definitivamente como protegida na família que lhe ficou a dever ter reencontrado a filha. Depois de algumas peripécias, ela consegui-lo-á. O fim da comédia mostra-a como “cliente” do pai de Fédria e livre da obrigação de continuar no seu ofício degradante, parecendo que ninguém vê qualquer inconveniente em que o jovem se torne no seu amante oficial e exclusivo. O amor triunfa, mas não o amor legitimado pelo casamento (que seria aqui impossível), simplesmente o amor de dois seres que nem sequer esperaram a noite de núpcias para se revelarem um ao outro, pois começaram as suas relações pelo prazer e só descobriram a paixão no termo do seu percurso. Esta experiência de um amor verdadeiro confere à jovem uma humanidade maravilhosa. Quérea, o irmão de Fédria, violou a jovem que Taide contava entregar à família. Todos os seus planos são contrariados. No entanto, ela continua senhora de si e desculpa o jovem. Diz-lhe ele, então: “Fica a saber apenas isto: o que fiz não era para te insultar, mas por amor.” Ao que ela lhe responde: “Sei-o, e é certamente por isso que te perdoo mais completamente. Não sou desumana a esse ponto, Quérea, nem tão inexperiente que desconheça o poder do amor..." (TERÊNCIO, O Eunuco, 876-881).
Duas razões, duas apenas, podem portanto explicar que se ignore o poder do amor: a inexperiência, que é uma desculpa (a de todas as mulheres legítimas, no dia do casamento), e a inhumanitas, a ausência de sentimentos humanos, uma espécie de dureza natural que torna alguém incapaz de sentir o que os outros homens sentem e que o atinge como uma verdadeira maldição. O amor já não é então considerado um poder temível, um flagelo que é preferível manter afastado. O amor é um deus e o próprio instinto que desperta nos corações é divino. Recusar este apelo é ser culpado, ou, pelo menos, é ser infeliz.
A diferença entre esta moral e a de Plauto é decerto grande. A distância temporal que as separa equivale a uma ou duas gerações. Mas os valores que servem de fundamento a uma e outra são tão opostos quanto é possível. Plauto, como os Romanos dos velhos tempos, desconfia do amor. Terêncio aceita-o como um dos sentimentos mais “humanos” que existem, um dos que exprimem mais profundamente a “verdade” humana. Recusar acolhê-lo. enganá-lo, negá-lo é viver “fora da verdade". Esse é o pecado cometido pelo velho de Heauton timorum e nos, que, com a sua severidade estúpida, obrigou o filho ao exílio e, depois, pune-se a si mesmo pelo seu erro.
Esta nova atitude em relação ao amor tem, decerto, origens gregas. A “moral da natureza” e a reabilitação das paixões voltam a fazer parte do programa das várias escolas filosóficas. No entanto, é muito difícil relacionar a moral de Terêncio com uma doutrina determinada. O que a sua obra revela é, sobretudo, um estado da opinião comum, um conjunto de ideias comuns, que seria errado atribuir apenas aos filósofos. Afinal, não é necessário recorrer à dialética para incitar os jovens ao amor. Em contrapartida, é inevitável que a disciplina mais severa se relaxe mais cedo ou mais tarde: se a evolução acelerou em Roma, no início do século II a.e.c., isso explica-se bastante bem com o exemplo da Grécia e do Oriente helenizado, que, não só ofereciam tentações acrescidas, mas, sobretudo, mostravam a possibilidade de uma vida em que aos sentimentos mais naturais não são forçados e as relações entre os homens e as mulheres não estão sujeitas à tirania de costumes cuja justificação religiosa e moral há muito foi esquecida e que mais não são do que resquícios de uma época que findou. É claro que o humanismo romano não teria podido surgir se os pensadores gregos não lhe tivessem mostrado o caminho, tal como Terêncio não teria podido escrever as suas comédias sem Menandro e os outros autores da comédia nova, mas, por seu lado, estes ensinamentos, por mais brilhantes que fossem, não teriam podido ser compreendidos se os alunos não estivessem preparados para ouvi-los. Neste aspecto, as cortesãs tiveram, por certo, elas mesmas um papel: mostraram aos melhores dos jovens romanos que há o amor para além do prazer e contribuíram para quebrar velhos tabus que, como tentámos mostrar, limitavam a vida sexual no interior da família.
Catão, quando exercia o seu cargo de censor, cerca de vinte anos antes de Terêncio começar a escrever as suas comédias, expulsou do Senado um personagem com boa reputação, um certo Manílio, porque se tinha permitido beijar a mulher, em pleno dia, sob o olhar da filha. Catão entendia que todas as ações, mesmo as mais íntimas, deviam ser vigiadas: casamento, regime alimentar, reuniões e banquetes, tudo, até as relações sexuais com a esposa, devia, segundo pensava, ser regulado por uma autoridade que assegurasse que estes atos não visavam o prazer e estavam conformes com a tradição ancestral e o bem do Estado. Havia o risco de que, logo após a Segunda Guerra Púnica, Roma se transformasse em um Estado totalitário, numa imensa colmeia hipócrita e lúgubre. Felizmente para ela, a máquina que Catão pretendia montar estava mal concebida desde o início. Será excessivamente arriscado atribuir, pelo menos em parte, este malogro à influência amável e anárquica das cortesãs, a este gosto pelo amor "livre" que os moralistas austeros lamentam e de que acusam a vitoriosa Roma como sendo uma tara e sinal da sua decadência futura, mas que iria preparar a sensibilidade humana para descobertas e conquistas graças às quais as relações amorosas puderam, pouco a pouco, libertar-se da severidade primitiva e adquirir o seu pleno valor espiritual?

É impossível saber, como é natural, o que foi a realidade diária do casamento durante os primeiros tempos de Roma. Relatos dignos de fé apenas começam a lançar alguma luz sobre este domínio, como sobre outros, a partir do século III a.e.c. e ainda assim, trata-se geralmente de testemunhos que se referem apenas a famílias da aristocracia. Nas diversas classes sociais, e quando não se seguiam as tradições patriarcais, a situação real devia apresentar diferenças consideráveis. Todavia, a partir da unificação da cidade, quando patrícios e plebeus passaram a gozar sensivelmente dos mesmos privilégios, as tradições dos primeiros parecem ter exercido uma espécie de atração sobre os costumes das famílias dos segundos. Por outro lado, segundo pensamos, as principais diferenças, a partir do século III, ocorrem mais em função da fortuna e da responsabilidade política do que de qualquer outro fator. A cidade é governada, nessa altura, por um regime estritamente oligárquico: há as famílias cujos homens se sentam no Senado, assumindo, a intervalos regulares, as grandes magistraturas do Estado, e há a massa dos outros cidadãos, que só vão às assembleias para legitimar as decisões preparadas pelos senadores e eleger os candidatos que lhes são propostos e que escolhem de acordo com o prestígio dos homens que se apresentam como seus garantes. No resto do tempo, são “clientes” destes grandes senhores. Naturalmente, o casamento não tem a mesma importância para uns e para outros. Temos muito pouca informação sobre a maneira como estas uniões se realizavam na massa do povo, temos um pouco mais quando se trata das outras classes.
Por muito que recuemos no tempo, um aspecto torna-se desde logo evidente: a união de dois jovens esposos, embora se funde juridicamente no seu livre consentimento, não é, de modo nenhum, o resultado de uma escolha pessoal. Destinada a perpetuar a família, esta união não poderia ser deixada ao capricho dos indivíduos. O pai de família, que originalmente tinha sobre o seu filho o direito de vida e de morte e podia vendê-lo como escravo, considerava seu direito e, mais ainda, seu dever escolher ele mesmo uma esposa para o bem da “casa” de que era o chefe responsável. O casamento era, sobretudo, um meio para formar alianças entre as famílias, para estabelecer ou consolidar amizades, para conseguir apoios na cidade.
Não há dúvida de que as considerações de fortuna desempenhavam um papel na escolha do genro ou da nora que os pais faziam, mas estavam longe de ser fundamentais. Os dotes eram geralmente bastante pequenos, nestes tempos longínquos em que os bens móveis eram raros e o patrimônio consistia em terras muitas vezes inalienáveis, de acordo com a tradição patriarcal. Valério Máximo relata-nos que, no início do século II a.e.c., a gens Aelia, uma dos mais famosas de Roma, possuía apenas uma pequena propriedade rural, de que dezesseis pessoas tinham de viver. Paulo Emílio, o futuro vencedor de Perseu, não hesitou, no entanto, em dar a sua filha em casamento a um dos jovens desta família, Q. Élio Tuberão, e depois do seu triunfo sobre o rei de Macedônia presenteou o seu genro com cinco libras de prata, retiradas dos despojos, soma que teria parecido irrisória meio século mais tarde.
Duas gerações antes de Paulo Emílio, Cn. Cipião, que se encontrava na Espanha, combatendo os bandos cartagineses, escreveu ao Senado para ser libertado do seu posto de comando, porque, dizia, a sua filha tinha chegado à idade de casar e a sua presença era necessária para que pudesse reunir o dote sem o qual não podia conseguir-lhe um marido. O Senado, que apreciava os serviços deste Cipião e julgava que ele, de momento, era insubstituível, assumiu a sua função neste domínio e, de acordo com a mãe da jovem e o conselho dos parentes, fixou a quantia do dote, que foi retirada da fazenda pública. A soma era de 40 000 libras de bronze, o que, acrescenta Valério Máximo, revela não apenas a solicitude dos senadores, mas também a mediania das fortunas da época.
O dote não representava, por isso, para o marido, um aumento da riqueza, mas uma simples compensação pelo crescimento das despesas devido à entrada em casa de uma mulher jovem, acompanhada, como exigia o costume, por várias servas que deviam poupar-lhe todo o trabalho servil. Não se deve também esquecer que este dote tão pequeno não devia ser gasto, mas aplicado - a maioria das vezes na compra de terra - e que apenas o seu rendimento era gasto na manutenção da família. Compreende-se que o montante do dote não fosse tomado em consideração senão de maneira acessória quando um pai tinha de escolher uma nora. A importância do casamento era outra.
O Senado, que tratava dos assuntos importantes e decidia as carreiras políticas, era, na realidade, partilhado por vários grupos, que não rivalizavam em influência. As diferenças entre estes não eram tanto o resultado dos seus princípios nem das suas máximas de governo, mas, muito mais frequentemente, das meras rivalidades entre pessoas e também entre “clãs”. As altas personagens atraíam a si senhores de menor importância que os adulavam, esperando o seu apoio para chegar às magistraturas, aproveitando o seu prestígio aos olhos do povo e ascendendo à sombra da sua glória. Reciprocamente, o poder dos chefes de clã media-se pelo número de amigos que os seguiam no fórum, no Campo de Marte e durante as cerimônias privadas. O laço principal no interior de um clã era o das alianças familiares. Já desde a origem e mesmo quando os costumes eram “mais puros", o casamento era sobretudo um ato político, porque servia para estabelecer uma espécie de contrato não escrito entre as famílias, um pacto de via mútua na vida pública e privada. Para um homem novo, ser acolhido como genro em uma família nobre era a certeza de ser apoiado e designado para cargos honoríficos. Para um pai, dar a sua filha a um jovem de talento era assegurar ao seu clã um aliado cujo prestígio poderia um dia revelar-se decisivo. Os jovens de futuro eram muito procurados. Os pais de família disputavam-nos com manobras sutis e demorados trabalhos de abordagem, seguidos e, por vezes, dirigidos pelas mães, a partir do recôndito da sua casa.
Plutarco conta-nos como decorreu o noivado de Tibério Graco, cuja nobreza e, sobretudo, cujos talentos o colocavam entre os primeiros dos “bons partidos”. Tudo começou em uma refeição ritual dos áugures. Nela, na euforia geral, Ápio Cláudio, personagem importante, chamou à parte o jovem Tibério e lisonjeou-o bastante, atitude em que não era nada pródigo. Em seguida, indo às coisas práticas, propôs-lhe a mão da sua filha. Tibério aceitou a proposta de imediato. Mesmo para um membro da gens Sempronia, de passado ilustre, uma aliança com os Claudii, cujo orgulho de casta era proverbial, era uma oportunidade feliz que não convinha descurar. Fizeram imediatamente as primeiras promessas, após o que Cláudio se apressou a regressar a casa. Ainda só chegara à entrada e já chamava a mulher com grandes gritos: “Antístia! Acabo de casar Cláudia!” Antístia, um pouco irritada com tanto alarde, respondeu-lhe então: "Para que é essa pressa? Que urgência tem isso? O que seria se tivesses conseguido casá-la com Tibério Graco!” Era uma confissão bem significativa de uma mãe que já pensara em todos os partidos possíveis e que não estava menos a par do que o marido dos méritos respectivos de todos os jovens em idade de casar! Teremos de pensar que a jovem Cláudia, criada por uma tal mãe, não imaginaria maior felicidade que ser dada em casamento a um jovem que todos admiravam, que era belo, tido por virtuoso e mais brilhante do que todos os outros. Como é que a sua vaidade - para não falar do seu coração (mas deste o que poderia ela saber, jovens como eram, então, as noivas?) - não se haveria de dar por satisfeita?
Neste tempo, era assim o casamento: um dos instrumentos que serviam para conquistar ou conservar o poder. Quando virmos os grandes ambiciosos, no fim da República, celebrar e desfazer as suas uniões por exigências de carreira, não nos apressemos a considerar isso como um sinal de decadência e imoralidade. Não nos esqueçamos que, em suma, não faziam mais do que conformar-se com uma tradição que vinha desde os tempos mais felizes da cidade. A única diferença era que César ou Pompeu escolhiam eles mesmos as suas esposas, de acordo com o interesse do momento, ao passo que, nos séculos anteriores, era (em princípio) o pai de família que impunha ao filho ou às filhas a união que melhor servia à fortuna do clã.
A solenidade do noivado, que continua, sem dúvida, uma tradição patriarcal, foi durante muito tempo sancionada por todo um aparato jurídico que tendia a fazer dele um ato quase tão vinculativo como o próprio casamento. O jurisconsulto Sérvio Sulpício descreve a cerimônia, acrescentando que corresponde a um costume da região latina, mas é provável que o campo e as pequenas cidades do Lácio mantivessem um uso antigo respeitado outrora pelas famílias patrícias de Roma. O noivo, explica-nos Sulpício, pedia àquele que lhe prometia uma esposa que se comprometesse de acordo com as formas da stipulatio, pronunciando a fórmula ritual do contrato. Por seu lado, após ter recebido esta promessa, o futuro marido (ou o seu fiador) comprometia-se da mesma maneira. Se, após conclusão do noivado, um dos dois se furtasse ao compromisso, havia lugar a uma ação judicial e o juiz, após ter inquirido as razões que podiam fundamentar a ruptura do contrato, considerava o prejuízo em uma certa soma, que o responsável era condenado a pagar.
A jovem que assim tinha sido “prometida” devia observar todas as regras de conduta impostas à mulher casada. Era durante o noivado que se trocavam os anéis, símbolos da união projetada. Era então, também, que se assinava o contrato relativo ao dote e às outras disposições materiais. Por vezes, o dote era entregue imediatamente, outras vezes esperava-se que o casamento fosse celebrado.
São os textos jurídicos que nos permitem vislumbrar quais eram as condições morais da celebração do noivado. Evidentemente, o seu testemunho refere-se sobretudo aos usos da época imperial, mas o estado das coisas nos séculos II ou III d.e.c. reflete muitas vezes o dos séculos anteriores, ou, pelo menos, conserva deles alguns vestígios, porque os costumes não evoluem em bloco, mas, sobretudo em matéria de casamento, mantêm-se, frequentemente, de uma geração para outra. As inovações devidas aos próprios juristas e o seu esforço para tornar racionais certas prescrições que a tradição impõe constituem igualmente documentos sobre costumes que estão a desaparecer.
Os textos dos jurisconsultos são formais: acontece com o noivado o mesmo que com o casamento, sendo válido apenas se os dois jovens lhe derem o seu consentimento. Durante o Império, pelo menos, este consentimento torna-se a única condição, ao mesmo tempo necessária e suficiente, da sua validade. Independentemente da forma por que se firme o noivado, quer seja solene e celebrado na presença dos noivos, quer resulte de uma simples troca de cartas, quer os noivos não assistam a ele, mas terceiros se comprometam em seu nome - o que, de acordo com os documentos, acontecia com muita frequência -, é necessário e suficiente que os futuros cônjuges tenham disso conhecimento e lhe dêem o seu acordo, ainda que posterior à cerimônia. Tal é, pelo menos, a doutrina no século II d.e.c. O que se passava durante a República? Este liberalismo teórico, este respeito pela vontade dos cônjuges e, singularmente, da noiva, eram, na prática, bastante limitados. Os mesmos autores que insistem na necessidade do consentimento da jovem apresentam uma restrição extremamente reveladora:
Considera-se que dá o seu consentimento a jovem que não se oponha explicitamente à vontade do pai e não é permitido à filha ser de parecer diferente do do seu pai, exceto se este lhe escolher para noivo um homem indigno ou tarado.
Gostaríamos de saber a partir de que época interveio esta última cláusula. Não é de modo nenhum certo que seja muito tardia. Sabemos que, em tais matérias, quando se tratava da honra da família, o “conselho dos familiares” e dos amigos era solicitado a dar o seu parecer, salvaguarda necessária contra os abusos de poder e a tirania de alguns pais. Este conselho surgiu muito cedo. Também não é preciso esperar o fim da República para reconhecer à noiva, pelo menos na prática, um verdadeiro direito de veto, que, de início, consistiu, talvez, em uma espécie de apelo dirigido ao “tribunal” familiar, mas não se trata senão de uma hipótese, a que, todavia, talvez não falte o apoio dos textos.
Apesar disso, é claro que a jovem, na grande maioria dos casos, não podia senão obedecer e, mesmo durante o Império, o seu poder de escolha permaneceu essencialmente negativo. Mas, neste ponto, convém estabelecer uma distinção importante: os textos jurídicos falam-nos, sobretudo, das “filhas de família" e, em especial, das que permaneciam sob a manus do pai. Não é de modo nenhum por serem mulheres, por causa do seu sexo, que se limita a sua escolha, mas por outra razão, muito mais legítima, que é a dependência natural em que se encontram. As jovens emancipadas, que já não dependem da autoridade paterna, e as libertas gozam de uma liberdade muito maior, que ninguém ousa contestar-lhes. O curador das moças ou das mulheres que escapam à manus não tem de preocupar-se com o casamento das suas pupilas. A sua função, dizem-nos os textos, diz respeito apenas à administração da fortuna possuída por estas e não comporta nenhum direito de controle sobre a sua vida privada. Quanto às libertas, o seu patrono nem pode casar com elas contra a sua vontade nem impor-lhes um marido da sua escolha, a menos que a sua libertação tenha ocorrido com essa condição expressa. A tendência geral é muito clara: exceto no caso das “filhas de família”, reconhece-se às mulheres o direito de escolher o marido, ou, pelo menos, a liberdade de o aceitar ou recusar. O liberalismo afirma-se sempre que não seja contrário ao princípio, continuamente ameaçado, mas vivaz, da autoridade paterna.
O respeito por esta, no caso das filhas de família, é ainda mais necessário, porque, em geral, ficam noivas muito cedo, antes de terem idade de escolher. E que os romanos realizavam muitas vezes o casamento com “mulheres-crianças”, fato que passou muito tempo despercebido, tendo sido há pouco descoberto e impondo-se agora à evidência. Independentemente da repugnância que a consciência moderna possa ter em relação a tal costume, que, no entanto, segundo sabemos, está ainda hoje extremamente difundido de “Marrocos ao Camboja”, há testemunhos irrefutáveis que provam que as jovens romanas eram entregues muito cedo a um marido e também que os juristas se esforçaram para limitar uma prática que, embora nem sempre conduzisse a catástrofes fisiológicas, provocava quase infalivelmente graves traumas psicológicos, ou, pelo menos, tendia a alterar perigosamente o desenvolvimento da personalidade feminina.
De acordo com os juristas, a idade requerida para o casamento é de quatorze anos para os homens e apenas doze para as mulheres, mas admitem que o noivado possa ter lugar muito mais cedo, no caso das moças. Reconhecem que, legalmente, não existe nenhum limite inferior e, de fato, as famílias deviam proceder ao noivado de crianças de berço, pelas razões que referimos, porque os casamentos projetados serviam as suas combinações políticas. Mas esta prática, bastante admissível enquanto a autoridade paterna permaneceu toda-poderosa, deixou de o ser a partir do momento em que se impôs a ideia de que a noiva devia dar o seu consentimento. Por esta razão, Modestino, apoiando-se certamente em textos anteriores, pretende que o noivado não se possa legitimamente celebrar antes de a futura esposa atingir os sete anos. Depois da legislação de Augusto relativa ao casamento e da lei Julia et Papia, há uma razão suplementar. A prática de noivados precoces tendeu, com efeito, a generalizar-se, porque era um artifício para diferir os casamentos sem que o homem ficasse exposto aos rigores da lei: um homem noivo de uma criança de berço podia pretender escapar às sanções que puniam o celibato. Foi, sem dúvida, para fazer face a este abuso que se fixou um limite abaixo do qual não haveria noivado no sentido jurídico do termo. Os dois móbiles, respeito pela "vontade" da noiva e desejo de pôr termo a um abuso, tiveram, certamente, um papel. No entanto, é necessário ter também em conta os usos. Se o limite fixado pelos jurisconsultos é tão baixo, e, de fato, o mais baixo que é admissível, é porque os costumes eram muito menos exigentes. Apercebemo-nos de que a noiva de sete anos nem sempre era deixada na sua família, aguardando que chegasse o momento de ser entregue ao marido.
O limite de doze anos fixado pelos juristas para o casamento não deve iludir-nos quanto a este ponto: esta idade era apenas aquela a partir da qual o casamento adquiria todos os efeitos jurídicos. Ulpiano escreve, com efeito, no seu comentário ao Edito do Pretor:
Levantou-se a questão... se havia noivado no caso de as núpcias terem sido celebradas antes dos doze anos e sempre concordei com o parecer de Labeão, segundo o qual, se tivesse havido noivado, este permanecia válido, embora a jovem tivesse começado a viver na casa conjugal como esposa.
O artifício jurídico é evidente: entre os sete e os doze anos, não poderia haver casamento, no entender da lei, mas apenas, quando muito, noivado. O casamento legal começava apenas aos doze anos, mesmo que a consumação e a vida em comum ocorressem mais cedo. Teriam sentido todas estas precauções dos juristas, se não existisse o costume de casar as jovens com uma idade inferior e muito antes da puberdade. Esta, aliás, não constituía, para os próprios juristas, uma condição do casamento. Admitia-se, de fato, que ocorria aos 14 anos, o que é confirmado pelas investigações dos médicos modernos. Todavia, de maneira consciente, fora, apesar disso, reduzida em dois anos a idade requerida para a legalização do casamento. É o que ressalta claramente de uma curiosa passagem de Macróbio, muito justamente invocada por M. Durry em apoio da sua tese:
Após duas vezes sete anos, escreve Macróbio, a vida chega à puberdade pela força da idade: então, começa nos rapazes o poder da reprodução e nas moças a menstruação. É por isso que estes rapazes, que são doravante homens, são libertos da tutela que pesa sobre as crianças, ao passo que as moças, em contrapartida, são libertas pelas leis dois anos mais cedo, devido à urgência dos seus desejos.
Para designar a jovem que, devido à sua idade, não podia ser considerada legalmente casada, mas era já fisicamente uma esposa, os juristas usam perífrases como in domum deducta, “a que foi levada para casa”, ou loco nuptae, “a que tem estatuto e função de esposa”. Assim se explica “um texto fundamental, anteriormente inexplicável e doravante perfeitamente claro: se uma mulher com menos de doze anos, levada para casa, comete adultério....” Não devemos pensar que o caso era excepcional ou inventado pela imaginação dos jurisconsultos. É Ulpiano que o cita como um dos casos em que o crime de adultério, cometido de fato, corre o risco de escapar ao rigor da lei. Não, responde Ulpiano, uma jovem com menos de doze anos que tiver cometido adultério não pode ser acusada a este título, dado que não há ainda casamento legal, mas será considerada como noiva, cujo adultério é punível, em virtude de um rescrito de Sétimo Severo.
Dispomos de um último testemunho, não de juristas, mas de um “filósofo”, bom conhecedor dos costumes romanos. Plutarco, na Vida de Numa, louva o seu herói por ter autorizado os Romanos a “casar com moças de doze anos e ainda menos”. "Assim”, diz ele, “a noiva apresenta a maior pureza possível quer de corpo quer de carácter... solução que permite obter [da melhor maneira] o acordo dos caracteres na vida em comum.”
Estamos assim em melhores condições de compreender o que era, pelo menos para a aristocracia, este casamento romano “à maneira antiga” tão lamentado pelos moralistas, porque é impossível acreditar que estes casamentos de moças ainda crianças fossem uma invenção de uma sociedade decadente. Segundo os testemunhos dos juristas, tudo indica, pelo contrário, que os costumes evoluíram em sentido oposto. As leis tentaram corrigir abusos antigos. Na verdade, as inscrições que possuímos - em geral, epitáfios que nos indicam quer a idade das defuntas, quer o número de anos que estiveram casadas - datam apenas do Império e, por conseguinte, não podem informar-nos diretamente sobre o que se pesava nos gloriosos tempos da República e, embora verifiquem que muitas mulheres, em todas as províncias do Império, se casaram a partir dos dez anos, isso não significa, por certo, que três ou quatro séculos mais cedo assim acontecesse. Mas seria errado pensar que, entre as duas épocas, se produziu uma revolução nos costumes. Deve ter havido, quando muito, uma evolução na direção a uma maior humanidade e a um maior respeito pela infância. Se este costume fosse uma depravação recente, por que teria Plutarco elogiado o antigo rei Numa por ter instituído um costume de consequências felizes para a vida conjugal.
Podemos perguntar-nos pelas razões que levaram os Romanos a casar as filhas tão cedo, mas é aos sociólogos que convém pedir a solução do problema. Antevemos, porém, que este costume está diretamente relacionado com a organização da sociedade na época em que se fixou, ou seja, indubitavelmente, muito antes da fundação de Roma. Será uma consequência do regime patriarcal e do sistema das gentes? Deveremos pensar que cada clã tinha necessidade urgente de “estabelecer, o mais depressa possível, um laço com outro clã”, ou que estes mesmos clãs desejavam integrar o mais completamente que podiam, adoptando-as muito cedo, esposas que, pela sua origem, eram na verdade umas intrusas? Embora o argumento se situe em outro plano e seja sobretudo válido para o casamento dos jovens celebrado aos quatorze anos, depois de se ter verificado que passaram à puberdade, talvez convenha não esquecer que a vida humana durava então menos tempo, que o envelhecimento era mais rápido e que as famílias, no seu desejo de se perpetuar, queriam prolongar o mais possível a duração das uniões. Este costume de casar os jovens romanos e romanas em uma idade em que, hoje em dia, moças e rapazes estão ainda longe de ser chamados a tais responsabilidades surge como a herança de um tempo remoto, uma das tradições deste mos maiorum, o costume dos antepassados, que seria criminoso pretender alterar. O que deveria ser, originalmente, um imperativo social tomou-se um costume mal justificado, uma prática que determinou durante séculos a natureza das relações entre os cônjuges.
Regra geral, no entanto, pelo menos durante a República, os homens casavam-se muito mais tarde do que as mulheres. De fato, casavam no fim da adolescência, ainda que as leis os autorizassem a fazê-lo logo que tivessem atingido quatorze anos. Daí resultava entre os cônjuges uma diferença de idade e, mais ainda, de maturidade que eram bastante consideráveis. O marido, naturalmente, queria formar e modelar a seu modo aquela que seria a “senhora” do seu lar. Não bastava que entrasse em sua casa pura de corpo, era necessário que não tivesse estado exposta a nenhuma outra influência moral antes da sua. Seria a precaução do ciúme, o desejo consciente de estabelecer mais facilmente a sua supremacia de marido, ou, muito simplesmente, uma consequência inevitável da tradição ancestral? Era uma tradição que os jovens aceitavam sem entusiasmo, supomos, em uma idade em que, naturalmente, esperariam do amor algo diferente da docilidade total ou da passividade de uma menina!
***
Estes casamentos, tão diferentes dos nossos, eram felizes? Não parece que as mulheres, casadas tão jovens, tenham tido, por causa disso, uma particular aversão ao marido. Não há dúvida de que o casamento foi, em Roma, um tema frequente de pilhérias fáceis e se contavam anedotas e ditos em que era posto a ridículo. Mas não deveremos concluir que, na sua maioria, os casais se dessem mal.
No fim do século V a.e.c., em 403, aquando das suas funções como censores, Camilo e Postúmio decidiram lançar um imposto especial sobre os homens que chegavam à velhice sem ter casado. A natureza, diziam, impõe uma dupla lei, a de vir ao mundo e a de gerar descendentes. Pelo mero fato de os pais terem educado os filhos transmitiram-lhes uma dívida: a de terem filhos, por sua vez. Por isso, não deveriam estranhar ter de dar uma contribuição que iria ajudar os que tinham a seu cargo uma descendência numerosa. Esta “contribuição extraordinária” não era, na realidade, senão uma multa disfarçada e a única solução possível, dado que ninguém podia obrigar outrem a casar-se nem forçar, fosse para o que fosse, a sua vontade. Mas é de crer que, desde época bem remota, o casamento desagradasse aos homens que dispunham de um certo desafogo. Já tinha começado a evolução a que a legislação de Augusto iria tentar opor-se, embora com eficácia quase nula, cerca de três séculos e meio depois.
Cada censor, no seu mandato de cinco anos, exortava por sua vez os cidadãos a casar-se e faziam-no, por vezes, com humor. Conservamos uma passagem de um discurso que Metelo, o Numídico, vencedor de Jugurta, pronunciou em 102, durante o seu período de censor:
Se pudéssemos passar sem esposa, cidadãos, evitaríamos todos estes aborrecimentos. Mas como a natureza nos fez de tal modo que com ela não podemos viver de maneira suficientemente aprazível e sem ela viver de modo algum, devemos considerar mais a nossa sobrevivência a longo prazo do que o nosso prazer momentâneo.
Nem todos os censores eram tão divertidos como Metelo e alguns não aceitavam que se gracejasse com o assunto. Um deles, durante um juramento, perguntou a um senador, de acordo com o costume: “Tens uma esposa na tua alma e consciência?" homem que estava a ser interrogado era, como nos diz Aulo Gélix um gracejador de mau gosto, sempre disposto a dizer uma piada. A pergunta do censor, achou por bem responder: “Sim, tenho uma esposa em consciência. mas não como eu a penso!”, o que valeu ao pobre homem ser excluído do Senado e despromovido para uma classe inferior.
O tema do marido atormentado pela mulher parece ter sido inesgotável. Numa das suas Sátiras Menipeias, que era uma espécie de sermões filosóficos meio cômicos, meio sérios, Varro tinha tratado "dos deveres do marido” e nela dizia, nomeadamente: “Os defeitos de nossa mulher, é preciso ou suprimi-los ou suportá-los: se os suprimimos, tornamo-la mais agradável, se os suportamos, tornamo-nos a nós mesmos melhores”. É uma filosofia desencantada que satiriza todo um aspecto do problema da vida conjugal como ele se apresentava aos homens romanos. Numa, a fazer fé em Plutarco, quis que tentassem mulheres suficientemente jovens para as moldar a seu modo! É de crer que nem todos o conseguissem, ou que nem todas fossem assim maleáveis.
No entanto, não eram as mulheres jovens que tinham esta deplorável reputação de autoritarismo, ou mesmo de tirania, em relação aos maridos. Durante bastante tempo, permaneciam submissas Todavia, depois de várias maternidades terem aumentado o seu prestígio e terem chegado à maturidade e, como é de supor, se encontrarem livres do ascendente invejoso que sobre elas tinham os parentes mais idosos, a sua vingança era notória. Nesse momento, os maridos, que, durante muito tempo, tinham dominado a sua juventude, eram as vítimas escolhidas por esta revolução doméstica, sendo tão mais vulneráveis quanto, por um lado, a diferença de idades lhes era desfavorável e, por outro lado. no momento preciso em que começavam a desejar descansar, as suas companheiras revelarem uma infatigável turbulência.
Compreenderemos talvez assim melhor um grande número de relatos que os historiadores romanos nos fazem, onde vemos matronas subitamente possuídas por um verdadeiro frenesi e dispostas, não só a perturbar a sua casa, mas também toda a República para salvaguardar as suas prerrogativas. Catão, que teve um diferendo com as damas nobres romanas quando foi necessário revogar a lei Opia, uma lei sumptuária aprovada nos tempos mais sombrios da guerra com Aníbal e que, muito tempo depois da vitória, continuava a limitar as despesas das mulheres com as suas jóias, as suas toiletes, os seus vestidos e as suas equipagens, representa bastante bem a atitude irônica e desencantada dos romanos do seu tempo em relação à casta feminina. Eis uma das estórias que contou em um discurso de que nos chegou apenas este fragmento:
Antigamente, em Roma, era costume os senadores virem à cúria acompanhados dos seus filhos ainda vestidos com a toga pretexta. Ora, um dia, discutira-se no Senado um assunto importante e a discussão tinha durado tanto tempo que se decidira retomá-la no dia seguinte. Todavia, até ao decreto final, deveria ser guardado sigilo. À noite, a mãe do jovem Papírio, que tinha assistido à sessão com o pai, perguntou ao filho de que tinham falado os senadores naquele dia. O jovem respondeu-lhe que era segredo e que não tinha o direito de o revelar. A senhora ficou ainda mais desejosa de saber do que se tratava. O segredo e o silêncio do filho incitaram-na, por tanto, a fazer perguntas. Fez pressão e depois tornou-se violenta. Então o jovem, face às instâncias da mãe, resolveu contar uma mentira elegante e divertida. Disse que se tinha discutido no Senado se seria mais útil e mais conforme aos interesses do Estado que um homem tivesse duas esposas ou que uma esposa tivesse dois maridos. Logo que a senhora ouviu isto, ficou alarmada, saindo de casa em grande alvoroço e dirigindo-se rapidamente a casa das outras senhoras. No dia seguinte, o Senado assiste à chegada de uma horda de mulheres casadas. Em lágrimas, suplicando, imploram que se conceda dois maridos a cada mulher, em vez de duas mulheres a cada marido. Os senadores, que entravam na sala, perguntavam-se com estupefação o que significava aquela invasão feminina e uma tal súplica. Então, o jovem Papírio avançou para o meio da cúria e relatou a insistência da mãe e o que ele lhe dissera...
A estória é certamente autêntica. Não foi a única vez que as senhoras romanas se entregaram a tais manifestações em público. Aquando da campanha realizada contra a famosa lei Ópia, que era contrária ao seu gosto pelos adornos, bloquearam com os seus séquitos as ruas que conduziam ao fórum e interpelaram os magistrados, os principais senadores e os próprios cônsules! Catão resmungava, ao chegar ao Senado: “Não me surpreende se o que dizem for verdade, que em uma certa ilha, antigamente, a raça masculina foi radicalmente exterminada por uma conspiração das mulheres...” Ele próprio evitava, com grande cuidado, dar à sua o mais pequeno incentivo. Em público, mesmo na frente dos parentes, só a abraçava em ocasiões de exceção, por exemplo quando trovejava e ela tinha medo. Era uma raça perigosa, que era necessário manter à distância (recordemo-nos das reservas com que fora garantido a Vênus o seu culto) e fazia correr o risco de se ser arrastado para um turbilhão passional que prejudicava o prestígio e a calma, a auctoritas e a gravitas', era um mal necessário, porque, sem suas esposas, o Estado não podia subsistir, mas era também um perigo contínuo, porque, se se lhes desse demasiado ouvidos, corria-se o risco de o levar à sua perda.
As mulheres eram capazes, às vezes, dos maiores heroísmos. Coletivamente, ofereciam à pátria as suas jóias ou os seus cabelos para fabricar cordas destinadas às máquinas de guerra, individualmente, aceitavam sacrificar-lhe os seus filhos. Todavia, estes grandes movimentos de entusiasmo e estas angústias íntimas tinham por contrapartida a obstinação em defender, na sua casa, uma autoridade que as leis lhes recusavam oficialmente, mas que os costumes não ousavam negar-lhes.
***
Esta “ambivalência” da esposa, umas vezes, insignificante presença e, outras, temível tirana, reencontramo-la na comédia romana ou, pelo menos, na mais romana de todas, a de Plauto.
Mas, neste momento, ao pretendermos invocar o testemunho dos autores cômicos, surge no nosso espírito uma objeção. Todos sabemos que a comédia romana (e ela nunca pretendeu negá-lo) é inspirada diretamente pela comédia “nova” do teatro grego, pelo que podemos perguntar-nos em que medida as conclusões que retiramos dela correspondem à realidade nacional. No entanto, se é verdade que os modelos e os assuntos são gregos, a construção da intriga, as palavras das personagens, os seus sentimentos têm, indiscutivelmente, a marca de Roma. A comparação sistemática, agora possível, com comédias de Menandro descobertas miraculosamente em papiros egípcios desde o início do século XX até ao presente permite afirmar que Plauto e Terêncio alteraram sutilmente a base grega e construíram sobre ela obras romanas. Muitas vezes, não houve nisso grande mal. A sociedade ateniense da época helenística, que é representada em Menandro e nos outros autores da comédia “nova”, não deixava de apresentar muitas semelhanças com a sociedade de Roma do fim do século III a meados do século II a.e.c. Na sociedade romana e na helenística havia a mesma justaposição de uma aristocracia tradicionalista e uma plebe cosmopolita, a mesma multidão onde se misturavam comerciantes, soldados e viajantes, cortesãs à procura de protetor e jovens de boa família que os pais supervisionavam de muito perto e o mesmo bulício da criadagem, constituída por escravos sempre prontos a envolver-se em alguma astúcia para facilitar os amores dos seus jovens senhores e sempre prontos a despojar os pais do seu dinheiro. Todas estas semelhanças facilitavam uma contínua transposição. Os nomes dos personagens e dos lugares são gregos, mas as almas são romanas, o que nos permite considerar hoje as obras de Plauto e Terêncio como testemunhos válidos acerca dos costumes e dos sentimentos dos homens e mulheres do seu tempo.
Ora, Plauto e Terêncio dão-nos do casamento duas imagens bastante diferentes e as divergências dão-nos a garantia de que não se limitam a reproduzir servilmente um modelo grego.
Plauto considera que o casamento é uma calamidade inevitável. Um pai irritado com o filho, que cometeu demasiadas tolices, não encontra melhor meio para o punir do que casá-lo:
O Pai. - Se queres ser um homem de bem, vê, casei-te com a filha de Cálicles!
O Filho arrependido. - Casarei com ela, meu pai, com ela e com todas as que quiseres.
O Pai comovido com tanto heroísmo. - Devia estar zangado contigo, uma só punição basta a cada homem.
O Sogro, Cálicles, agradecido. - Não, para ele é demasiado pouco. Se, pelos seus pecados, ele desposasse cem mulheres, seria demasiado pouco!
Plauto não é menos misógino do que o seu contemporâneo Catão. Ouçamos as palavras que atribui a uma cortesã, que fala, sem dúvida, em seu nome e como representante da sua corporação, mas que exprime, no entanto, o juízo que o poeta faz de todo o sexo feminino:
Quando uma mulher se dispõe a fazer mal, se não atinge os seus fins, ei-la doente, lânguida, para ela tudo é infelicidade e miséria. Se tenta agir bem, não demora a aborrecer-se com a tarefa. Há muito poucas mulheres que se cansem quando começam a fazer mal ou que vão até ao fim quando tencionam fazer o bem.
Poder-se-iam multiplicar as citações Alguém conta que uma mulher morreu e ele acrescenta em jeito de oração fúnebre: 'Foi a primeira vez que deu prazer ao marido”. Em todos estes "ditos" é necessário, por certo, reconhecer uma tradição maliciosa, mas não é menos verdade que esta tradição existe e que o público ri sem vergonha, e é isso que nos importa.
O quadro que Plauto traça da vida conjugal, aquele que o seu público considerava conforme a uma certa verdade e de que ria com um sentimento legítimo de vingança, e tão pessimista como as palavras precedentes deixam entender. A esposa surge como uma tirana, capaz de se entregar às piores violências sobre o marido e ate de lhe bater. O marido teme-a. Não havia maldição maior do que dizer a um marido: “Em nome da tua velhice, em nome daquela que temes, ou seja, da tua mulher, se não disseres hoje a verdade a meu respeito, faça o Céu que a tua mulher viva e tu morras”. A esposa, pelo menos a esposa envelhecida, vigia ciosamente o comportamento do marido e também o dinheiro da família. Ela tem o olho em tudo e, se alguma coisa não corre a seu contento, faz um enorme alarido. Queixa-se muitas vezes às vizinhas e forma com elas verdadeiras conspirações para enganar aquele que deveria ser o seu senhor e a quem recusa até as mais legítimas prerrogativas.
Na Cásina, quando o velho Lisídamo tenta acalmar o humor da sua Cléostrata e esboça uma carícia, ela afasta-o energicamente e finge ir-se embora. Não há dúvida de que ela sabe que o velho age como um hipócrita e que tenciona seduzir uma jovem serva, mas a conduta de Cléostrata parece tão natural que não desperta a atenção do culpado. A sua vizinha, de resto, confessou-o espontaneamente: “São os maridos que, como é costume, não podem fazer valer os seus direitos junto das suas mulheres".
Embora o tema do teatro de Plauto sejam, muitas vezes, as mulheres casadas que atingiram a idade madura, as esposas mais jovens não têm nele qualquer lugar. O poeta nunca se interessa pelos seus sentimentos nem pelas suas reações perante a nova vida que lhes é imposta. Para explicar esta ausência, diz-se que a comédia, naturalmente, não teria podido levar à cena, sem inconvenientes, a intimidade da vida familiar. É possível que seja verdade, mas é-o ainda mais, talvez, na comédia grega do que na comédia romana. Verificamos, de fato, que esta não deixa de ridicularizar a conduta das mulheres casadas, de a pôr diretamente em cena, mas apenas quando se trata de matronas que ultrapassaram a primeira juventude. Podemos interrogar-nos a partir de que idade deixa de ser observado o respeito pelas conveniências. Na verdade, o que seria chocante seria representar uma jovem esposa apaixonada pelo marido. A moral romana, no tempo de Plauto, não se choca com as cenas mais íntimas, desde que a apaixonada não seja uma filha de família, mas uma cortesã. O “tabu” não se aplica nem à representação do amor em si mesmo nem ao fato de se pôr em cena a vida familiar, mas, precisamente, à representação do amor legítimo. Pensando bem, deveríamos ficar surpreendidos. A comédia clássica francesa, que deve tanto comédia à romana, baseia-se em uma convenção exatamente inversa. Quer se trate de Molière, Marivaux ou Regnart, a representação do amor é admissível apenas se este sentimento preludia o casamento; na última cena, aparece o notário. Ora, pelo contrário, isso é que teria sido considerado escandaloso pelo público de Plauto.
Neste assunto, o seu teatro é um reflexo exato dos costumes. A sua aversão evidente em levar à cena os amores legítimos corresponde ao pudor romano perante esta faceta da vida conjugal. Seguramente, para os jovens romanos, o amor que, fora do casamento, podiam sentir por uma amante não era idêntico ao que os levava a perpetuar a sua raça nos braços de uma esposa. Nesta época, não se espera que o jovem marido ame a sua mulher como tem o privilégio de amar uma cortesã, com o mesmo entusiasmo e o mesmo arrebatamento dos sentidos. Compreende-se melhor esta diferença se nos recordamos que, frequentemente, a jovem esposa se casa quando sai da infância, não sendo, por isso, sequer ainda uma moça. É natural que o marido (os melhores deles) tenha por ela um sentimento de respeito, ou, pelo menos, sinta confusamente uma espécie de responsabilidade. O papel do marido é, mais do que nunca, o de um guia que deve ensinar à sua companheira a pudicitia, a reserva do corpo e de espírito que se considerava ser a marca da virtude nas mulheres. Uma esposa legítima não deve conhecer todo o poder de Vênus e o seu marido deverá ter o cuidado de não lhe revelar.
Tal é a convenção, algo hipócrita, que rege os primeiros tempos do casamento romano, no final do século III a.e.c. Naturalmente, é apenas uma convenção, a imagem ideal a que as uniões “burguesas” devem conformar-se: a jovem esposa é levada para casa do marido ainda pura de corpo e de coração e o marido, tratando-a com respeito, mas não com paixão, fará dela, progressivamente, a “senhora” da família, na qual irá reinar sem ter de partilhar o poder. Este reinado não se irá exercer sem crises nem tormentas. Se a domina exceder os limites permitidos e esgotar a paciência do marido, corre o risco de ouvir dizer: “Vai, mulher, pega nas tuas coisas e sai.” É o repúdio, a degradação. Mas poucos maridos chegam ao ponto de pronunciar estas palavras dramáticas. A opinião pública, como vimos, impede-os de o fazer irrefletidamente. Por outro lado, a maior parte das mulheres são suficientemente hábeis para não provocarem uma ruptura que, afinal, seria feita a sua custa. Em Roma, como em muitos outros lugares e em muitos outros tempos, o casamento “burguês” não se baseia no amor. Pretende-se mesmo que esteja isento desta paixão perigosa e insensata, que perturba os corações dos homens e transtorna o das mulheres. Prefere-se que seja mais calmo, que se torne sólido pela consideração e o respeito mútuos, sentimentos traduzidos em vários costumes que regulavam, pelo menos originalmente, as relações quotidianas do marido e da mulher.
Por exemplo, a tradição exigia que as mulheres honradas, quando participassem em uma refeição, o fizessem, não como os homens, estendidas em camas de mesa, mas sentadas“. A regra também se aplicava nas “refeições” das deusas. A Juno e Minerva, as duas deusas do Capitólio, era oferecido um tamborete, no banquete anual que compartilhavam com Júpiter, ao passo que, para o deus, era preparada uma cama. Este uso persistiu muito tempo em relação às deusas. No entanto, as mulheres ficaram dele libertas muito antes do fim da República. Tinham, por fim, conquistado o direito de jantar estendidas como os homens e como as cortesãs e todas as mulheres que não eram respeitadas também faziam desde a antiguidade.
Quando regressava de viagem ou apenas de uma visita à sua casa de campo, um marido consciente dos seus deveres não deixava de anunciar o seu regresso por um mensageiro. Plutarco, que nos relata este costume, interroga-se sobre o que o justifica. Será para que a senhora, avisada de antemão, se liberte de todos os pequenos deveres que absorvem a atenção de uma dona de casa, faça calar as gritarias dos criados, dos servos e das crianças e se esforce por tomar o regresso do marido tão agradável e tão desejável para ele quanto deve ser para ela? É muito significativo que Plutarco nem sequer fale da explicação que, em outros tempos, se teria imposto ao espírito e que não é, certamente, a correta: uma mulher, em uma casa cheia de empregados, sob o olhar das suas servas, espiada por mil olhos, não podia arriscar, nos gloriosos tempos de Roma, não apenas a honra, mas, quase de certeza, a vida para urdir ou executar alguma intriga na ausência do marido e, com certeza, por outro lado, se o marido a julgasse capaz disso, não se iria fazer anunciar com tanta antecipação que preservasse a sua tranquilidade de espírito! É preferível conjecturar que o marido respeitava tanto a sua mulher que lhe concedia o tempo suficiente para se lhe apresentar com o seu melhor aspecto e para que não fosse surpreendida em ocupações ou em um estado de espírito que não seriam de “bom augúrio” por ocasião de um regresso.
Uma outra questão formulada por Plutarco não é menos significativa: por que razão, pergunta ele, os maridos, na noite do casamento, não se aproximam da esposa senão na obscuridade? Plutarco, com a sua intuição muito perspicaz acerca dos sentimentos romanos, explica que os maridos desejavam tratar a mulher com respeito, que não queriam ofender o seu pudor e que teria sido chocante agir com ela como com uma cortesã, porque, diz ele, “o amor legítimo tem algo de vergonhoso”, como se a consumação carnal corresse o risco de contradizer a natureza, mais moral que física, da união conjugal. O casamento, nestes tempos remotos, não é a consagração da atração dos corações nem da harmonia dos sentidos pelas leis e pelos ritos. É, por si mesmo, a fundação de uma aliança que implica a comunidade de duas vidas e também, “acessoriamente”, poderíamos dizer, relações físicas destinadas a perpetuar esta aliança e que são a sua razão de ser. Nesta aventura, o amor pode nascer, e também o prazer mútuo, mas isso não é de modo nenhum necessário, não é mesmo desejado, pensando-se que um “bom” casamento deve basear-se em sentimentos menos frágeis.
No entanto, podemos pensar que, por vezes, a realidade permitia que o coração e o corpo vencessem. Havia bons casamentos que podiam ser maravilhosos e é no próprio Plauto, apesar da sua hostilidade ao sexo feminino, que encontraremos o retrato de uma mulher que ousa amar o seu marido com amor carnal, conservando, no entanto, o sentido da honra e o sentimento do dever.
Alcmena, a mulher de Anfitrião, é a heroína de uma aventura tão famosa como inacreditável. O seu marido tinha partido à frente do exército tebano contra os inimigos da sua pátria adotiva. O seu casamento era ainda muito recente. Seguindo a tradição grega, ainda não tinha sido consumado, pois Alcmena tinha imposto ao marido, como condição para se lhe entregar, que regressasse vitorioso desta guerra. Mas Plauto pensou que não poderia fazer aceitar pelo seu público uma situação tão extraordinária: a obediência que se espera da mulher romana na noite do casamento tornava a estória completamente inverossímil. Não, Anfitrião, antes de partir para a guerra, realizou o seu dever de bom cidadão e fica a saber no seu regresso que Alcmena vai, em breve, trazer ao mundo uma criança. Ora, como a frota já regressou ao porto e se aproxima o momento em que Anfitrião vai reencontrar a mulher, Júpiter, que está apaixonado por Alcmena, substitui-se a ele e vai festejar com aquela de quem gosta o falso reencontro. O deus ordena ao Sol que essa noite dure duas vezes mais do que as outras e, de manhã, antes do romper do dia, pretexta os deveres a seu cargo para deixar Alcmena sem se dar a conhecer. Alcmena, durante a cena de despedida, que se desenrola à porta da casa, permite-se exprimir as palavras que o coração lhe dita. O falso Anfitrião, por seu lado, quer ser natural e assume o papel de um marido que o amor trouxe para junto da mulher, mas que não deixa de ter alguns escrúpulos pela sua fraqueza. É divertido ver a gravitas romana, habitualmente pedante, lidando com um sentimento terno que não ousa confessar senão parcialmente:
Adeus, Alcmena, (diz este marido que acaba de ser feliz), vela pela nossa casa, como costumas fazer, mas cuida de ti também, peço-te: já vês que o teu tempo está próximo. Eu tenho de ir, mas, quando a criança nascer, reconhece-a em meu nome...
Esta é a imagem, que sentimos ser real, de um magistrado romano com pesadas responsabilidades, mas que lhes retira, apesar de tudo, um pouco de tempo para a mulher e que não é sem doçura que pensa no fruto do seu amor. Aquela que deixa no lar é uma outra de si mesmo: delega-lhe as suas prerrogativas de chefe de família. Será ela que irá tomar nos braços o filho recém-nascido e proclamará a legitimidade do seu nascimento, em vez do marido, levantando o pequeno ser, solenemente, em frente de todos os familiares.
Alcmena, que não suspeita de modo nenhum do subterfúgio de que é vítima, fala como uma amante e, por uma única vez neste teatro, assistimos a um extraordinário diálogo onde o amor legítimo se exprime sem disfarce. O carácter maravilhoso da situação permite este incumprimento das conveniências. Graças a esta excepcional “liberdade poética”, penetramos de fato na intimidade de uma jovem família romana e descobrimos sentimentos que, habitualmente, o pudor dissimula.
Alcmena, infeliz por ver partir o companheiro da longa noite de amor, finge não acreditar nos protestos algo desajeitados que o marido lhe faz da sua ternura:
Preferia ter provas reais dessa ternura, diz-lhe ela, e não as suas palavras. Tu deixas-me antes mesmo de ficar quente o sítio da cama onde te deitaste. Chegaste ontem a meio da noite e vais-te agora. E isso mesmo que queres? Mostra-lhe o seu rosto em lágrimas:
Choro. E a tua partida que faz correr as lágrimas da tua mulher!
- Ah, cala-te, diz-lhe o falso Anfitrião, não estragues os teus olhos; regressarei imediatamente.
- Imediatamente é tanto tempo!
Como se este diálogo não bastasse para nos esclarecer sobre o coração de Alcmena, Plauto fá-la dizer, algumas cenas depois, um monólogo que é, de fato, o testemunho mais sincero que possuímos sobre os sentimentos destas mulheres jovens, cujos maridos, seduzidos pela glória, arriscavam em cada dia, no campo de batalha, uma vida que elas gostariam de ter ocupado inteiramente.
Temos realmente bastante pouco prazer na nossa vida, durante a nossa existência, em comparação com todas as tristezas! É assim feita a vida dos seres humanos. Os deuses quiseram que qualquer prazer seja seguido de dor - que digo eu? -, que surja mais dor e tristeza mal tenhamos alguma satisfação. Sim, eu própria tenho agora a experiência disso. Sei-o realmente, eu, que tive um momento de prazer, enquanto me foi dado ver o meu marido. Foi só uma noite, nada mais, e em seguida partiu, deixou-me ao romper do dia. Como me encontro só, agora, por não estar aqui o único homem que eu amo... Mas o que me faz feliz é que, pelo menos, venceu os inimigos e regressou a casa cheio de glória. Isso consola-me. Que possa estar longe, desde que, ao regressar, venha com glória! Suportarei, sofrerei até ao limite a sua ausência com coração enérgico e firme, se tiver pelo menos esta compensação: que o meu marido seja aclamado vencedor. Quero acreditar que isso me basta. O valor é a mais bela recompensa, o valor supera, indubitavelmente, todas as coisas: liberdade, segurança, vida, fortuna, pais, pátria e família são por ele protegidos e salvos. O valor abarca tudo em si mesmo, ter valor é possuir todos os bens!
Para além dos protestos e dos gracejos da tradição, a realidade do casamento romano está de fato aqui retratada, nesta profissão de fé heróica e apaixonada: a jovem mulher, consciente do estatuto do marido, partilha do seu orgulho e do seu ideal. Ela não tem, de fato, nenhum papel ativo nos assuntos do Estado, mas tem os mesmos sentimentos que os homens e, da mesma forma que eles, é capaz de superar o seu instinto de mulher, de vencer-se a si mesma, em favor de valores impessoais e quase inumanos, como esta virtus, cujo nome, derivado do do homem, vir, nos diz, de maneira suficientemente clara, que não pertence à sua natureza, mas que é um ideal adquirido.
Algum tempo depois, quando o verdadeiro Anfitrião regressa e, sabendo pela boca de Alcmena “que já tinha vindo”, a acusa de infidelidade, ela defende-se com simplicidade e grandeza:
Não, não creio que o meu verdadeiro dote seja o que designam com esse nome. O meu dote é a boa conduta, a reserva, o domínio dos meus sentidos, o temor dos deuses, o amor dos meus pais, o bom entendimento com a nossa família, é ser-te obediente, generosa para com as pessoas virtuosas, útil às pessoas honestas.
Este é o catecismo da esposa perfeita, no início do século II a.e.c., catecismo cujo primeiro artigo é a desconfiança em relação aos sentidos e ao amor carnal: no fundo, a moral romana espera da mulher casada, da que é responsável pela sua familia diante dos deuses e diante dos homens, uma disciplina análoga à que impõe a estes. Mas, enquanto o homem deve vergar o seu instinto de poder, a sua ambição e o seu gosto pelo prazer em proveito do interesse coletivo, a esposa deve aprender, sobretudo, a não sentir nem no coração nem no corpo este impulso natural que a leva a amar. Quando cede ao marido, fá-lo por obediência e respeito, dura aprendizagem a que as romanas bem-nascidas se submeterão durante séculos, substituindo esta paixão proibida, desonrosa, por outras que se toleram nelas: o gosto de exercer a autoridade, até mesmo o da intriga, a religião da honra levada até ao heroísmo, se necessário for, o orgulho e, mais frequentemente, a vaidade, a avidez ou mesmo a avareza, a violência na devoção ou na cólera. Tudo lhes é permitido, exceto estarem, sem vergonha, apaixonadas.
***
As mulheres em Plauto - pelo menos as matronas - aceitam este ideal. Se o seu coração, como o de Alcmena, lhes deixa escapar, por vezes, alguma queixa, recuperam muito rapidamente. Mas no teatro de Terêncio, uma geração depois, a natureza fala com maior liberdade. As conveniências são menos tirânicas, ou então sofreram modificações. Já não é interdito levar à cena a vida privada no início de uma família burguesa. Os sentimentos de uma esposa ou de um marido jovens exprimem-se sem constrangimento e, o que é sem dúvida ainda mais importante, o casamento já não é uma punição, mas surge cada vez mais como a consagração e a recompensa do amor.
Na verdade, o amor no sentido em que o entendemos hoje em dia não faz a sua aparição nas comédias de Plauto: nem o amor pela esposa legítima - tendo nós mostrado devido a que pudores - nem pela companheira efêmera que se compra ou a quem se paga. Com esta, o “drama” da conquista reduz-se, para o jovem, a encontrar meio de pagar o preço pedido e, para a cortesã, a exigir tanto quanto ele estiver disposto a dar-lhe. Em nenhum momento o poeta se interessa pelo despertar do amor: para o homem, é apenas um desejo brutal, a procura do seu prazer, para a cortesã, a aceitação (resignada ou alegre? Plauto não se preocupa com isso) dos seus deveres profissionais. No teatro de Terêncio pelo contrário, o ponto de vista é muito diferente, apesar da semelhança ou, mesmo, da identidade das intrigas.
Em Terêncio e em Plauto, um dos temas mais recorrentes é a estória de uma jovem que foi violada, em uma noite de festa, por um homem novo desconhecido. Desta violência, uma criança nasceu ou vai nascer. A Fortuna quer e faz com que, no desenlace da peça, por vontade dos seus pais, tanto a vítima como o sedutor se tenham aproximado, com ignorância de todos, e, em primeiro lugar, deles mesmos, triunfando assim quer a “moral” quer o amor. Todavia, enquanto no teatro de Plauto este casamento final é apenas uma convenção cômoda, nas comédias de Terêncio é o desenlace feliz de uma crise sentimental. Este aspecto tem enorme importância, significando que todo o edifício social e familiar está a transformar-se e que, na realidade como no teatro, o casamento deixa de ser uma instituição impessoal para se tornar no compromisso de dois corações.
Esta evolução manifesta-se de várias maneiras em Terêncio. É detectável nas palavras e nas atitudes dos jovens, o que é evidente, mas também nas dos pais, que demonstram, por vezes, uma singular indulgência e preocupações que os contemporâneos de Plauto teriam considerado, com certeza, muito inconvenientes. Do ponto de vista legal, os jovens continuam sujeitos à vontade paterna, mas esta exerce-se sem qualquer brutalidade. Cremes, um dos “velhos” de A Mulher de Andros, está preocupado, sobretudo, com a felicidade da filha. Recusa-se a casá-la por meras razões de conveniência familiar e, sobretudo, com um homem cujo coração estaria ligado a outra. Por isso, responde ao seu compadre, Simão, mais tradicionalista, menos sensível e que insiste que se faça a experiência: “Mas uma experiência como essa, tratando-se da minha filha, é demasiado grave!” É uma objeção estranhamente moderna e que revela um respeito inesperado pelos direitos do coração.
Evidentemente, tudo isto acontece correndo alguns riscos e até os pais mais indulgentes têm disso perfeita consciência. Não irão dar o seu consentimento a um casamento qualquer, pois o escândalo seria demasiado grande e os espectadores de Terêncio teriam protestado veementemente em nome da moral. No entanto, Terêncio não hesitou em ir ainda mais longe. Ousou mostrar-nos jovens que, para casar com quem amam, recorrem a subterfúgios antes apenas reservados, em Plauto, aos amantes das cortesãs, jovens que pretendem encontrar a sua felicidade, não em uma aventura passageira, mas no casamento. É o caso de Antifonte, por exemplo, um jovem ateniense que ficou sozinho na cidade enquanto o pai viajava. Um dia, vê uma jovem lavada em lágrimas, prostrada junto do corpo da mãe, que acaba de morrer. Imediatamente se enamora. Contudo, quando tenta voltar a vê-la, uma velha parente, que mora com a sua amada e a vigia, recusa-se liminarmente a recebê-lo: a jovem é de nascimento livre, é uma cidadã. Se quer casar com ela, sim, é possível vê-la, mas sem isso não há nada a fazer! E o jovem Antifonte, disposto a tudo para ter aquela de quem gosta, toma-a por mulher - ela que é órfã, não possui dote e, aparentemente, não tem nascimento! Mais tarde, para justificar aos olhos do pai este casamento indecente, monta uma comédia judicial complicada, com a cumplicidade de um advogado desonesto, no fim da qual um tribunal exara uma sentença que o força a casar com a jovem (de fato, a lei ateniense permitia, em certos casos, ordens como esta). Em Plauto, eram os escravos que se tornavam culpados de semelhantes enganos e, mesmo assim, procuravam apenas extorquir dinheiro para comprar os favores de alguma cortesã. Aqui, o assunto é muito mais grave. É a própria autoridade paterna que é escarnecida, é o próprio princípio da família que é desrespeitado. No entanto, é evidente que a simpatia do autor se volta para este filho indigno, cuja única desculpa é estar apaixonado! Temos de confessar: o comportamento dos apaixonados de Plauto, que apenas queriam comprar prazer, era, em relação aos costumes, se não louvável, pelo menos “natural” e desculpável. O dos apaixonados de Terêncio, que compromete toda a sua vida e a honra da família com o que será, talvez, apenas um capricho, parece profundamente imoral, segundo os mesmos critérios.
Terêncio não o esconde. Quando o velho Simão, em A Mulher de Andros, sabe que o seu filho teve um filho de uma moça de baixa condição e que, para além disso, se propõe casar com aquela que desonrou, diz amargamente para si mesmo:
“Mas por que atormentar-me, por que torturar-me? Por que dar à minha velhice as preocupações da sua loucura?... Que fique com ela, e adeus! Que viva com ela!” E como Pânfilo, o filho culpado, manteve contudo o respeito e a afeição pelo pai e lhe diz: “O! Meu pai!”, replica-lhe este: “Que é isso de ‘Ó! Meu pai?’ Como se tivesses necessidade dele, deste pai: casa, esposa, crianças legítimas, tudo isso tu encontraste sem o teu pai. Trouxeste aqui gente para fingir que ela é uma cidadã. Ganhaste!”
Na literatura ou na própria realidade, quando Amor, deus caprichoso e todo-poderoso, faz a sua entrada violenta, toda a vida familiar é perturbada. O jovem herói de A Sogra, que também se chama Pânfilo, aceitou casar com a filha de um vizinho, por complacência com seu pai, mas gosta de Báquis, uma cortesã, e, aparentemente, ela retribui-lhe o seu amor. Ei-lo entregue ao martírio: deixa-se casar. Porém, na noite de núpcias, é incapaz de prestar homenagem à sua jovem esposa. As noites passam, deixando virgem a pobre Filomena! Neste intervalo, Pânfilo reflete. Compreende que não pode tratar como esposa uma mulher que, no seu íntimo, decidira não ter junto de si. Também não a pode repudiar abertamente, porque ela não merece tal afronta. Por isso, irá esperar apenas que ela se canse e dissolva o casamento. São sentimentos que nos parecem de uma grande delicadeza, mas que chocavam, certamente, uma sociedade habituada a mais disciplina e autocontrole.
No entanto, Báquis, com ciúme do casamento, torna-se caprichosa e Pânfilo cansa-se dela, enquanto as virtudes da sua jovem esposa, a sua modéstia, a sua reserva, o cuidado com que tenta dissimular a afronta que Pânfilo lhe fez despertam nele, primeiro, a consideração, em seguida, a ternura. Entretanto, Pânfilo tem de partir de viagem e, como o costume requer, deixa a mulher em casa dos pais, aos cuidados da sua mãe. Logo após ele ter partido, Filomena, com um pretexto bastante insignificante, vai a casa do pai e, uma vez lá, recusa voltar à casa dos sogros. A situação é embaraçosa para os “velhos”: os pais de Pânfilo surpreendem-se que a jovem esposa, que sempre cumularam de atenções, se afaste deles. O pai de Filomena, que ignora as verdadeiras razões que a levam a morar com a mãe, tem relutância em forçá-la, mas sente-se culpado em relação ao seu velho amigo Laques, o pai de Pânfilo. Apenas a sua mulher, Mirrina, conhece o segredo de Filomena: embora Pânfilo a tenha deixado intocada, está prestes a ter um filho. É o resultado de uma violação, em uma noite, por um jovem desconhecido... Adivinha-se que este não é outro senão Pânfilo, mas os dois interessados ignoram-no. Instala-se o drama. Todos se interrogam acerca dos sentimentos da jovem que constitui o centro de toda a trama. Pânfilo descobre o seu segredo, mas, porque agora gosta dela, recusa-se a traí-la. Fica dividido entre o sentido da honra, que lhe ordena que repudie esta esposa impura, e a sua ternura nascente, que lhe proíbe que a desonre com um divórcio que não merece.
Estamos perante um quadro de “drama familiar”. As mães têm apenas um desejo, que é assegurar a felicidade dos filhos. Os pais imaginam que a sua própria mulher é responsável pelo capricho de Filomena. A mãe de Pânfilo, sabendo da aversão das noras a viverem com as sogras, pensa seriamente em retirar-se para o campo para deixar livre a jovem família, até ao momento em que a verdade finalmente estala. Pânfilo é o pai da criança ilícita. A Providência manobrou sabiamente a intriga e tudo regressa à ordem.
Não se poderia pensar de modo nenhum em semelhante problema sentimental no tempo de Plauto, cerca de trinta anos antes. Aliás, Terêncio teve grandes dificuldades em fazer aceitar a sua peça, que conheceu, de início, um fracasso retumbante e só obteve êxito à terceira tentativa. Poderíamos considerar que a lentidão da ação e o seu carácter “estático" seriam os responsáveis deste malogro, mas tudo isso não teria grande importância, se não fosse o assunto extremamente inconveniente (no entender dos Romanos) e demasiado inovador. Pois quê, o capricho de uma jovem podia perturbar a vida dos sogros, um filho podia, primeiro, recusar desempenhar o papel que se espera dele e depois hesitar em defender a sua honra ameaçada? E tudo isto por "amor"! A que estranhos desvarios se entregam os jovens!
Temos de reconhecer: toda a delicadeza do sentimento amoroso, a busca do amor verdadeiro entre marido e mulher, tudo isto que nos parece hoje tão natural não foi de início senão uma escandalosa audácia.

Historiadores e poetas afirmam que o casamento foi, durante muitos séculos, uma das instituições mais sólidas e respeitadas da cidade romana. Rivalizam no elogio da pureza dos costumes antigos, do tempo em que uma mulher que tivesse ficado viúva não mais consentiria em voltar a casar, em que, por maioria de razão, nunca se levantava a questão do divórcio. Pelo contrário, lamentam o relaxamento progressivo de uma relação que, durante o Império, se tornara de uma extrema fragilidade, enquanto nos bons velhos tempos o seu respeito era considerado a garantia mais firme da grandeza romana e a marca mais incontroversa de uma saúde moral a toda prova. Hoje ainda, muitos historiadores fazem-se eco destas queixas, considerando que uma das razões profundas da decadência de Roma reside no abandono deste velho ideal por onde se orientaram anteriormente os severos camponeses do Lácio.
Antes de nos interrogarmos por que razão o casamento romano perdeu a sua solidez ao longo do tempo, convém, decerto, examinar a própria instituição. A instituição do casamento é uma daquelas a que os juristas romanos não só dispensaram maior cuidado, mas também a que se dedicaram a definir e fixar com a mais extraordinária minúcia as consequências legais. O conjunto dos textos que a ela se referem ocupa um lugar considerável nas compilações jurídicas, o que prova a importância atribuída a um ato de que esperavam, em primeiro lugar, a sobrevivência, mas também, e talvez mais ainda, a estabilidade do Estado.
Todavia, é necessário conceder que, apesar dos elogios dos moralistas e da nostalgia dos historiadores, a concepção romana do casamento (mesmo nos “bons tempos” de Roma) tem má reputação. Ela é acusada, naturalmente, de ter sobretudo legitimado a dependência das mulheres, que os maridos teriam tentado manter em uma completa escravatura, negando-lhes qualquer autonomia, privando-as de toda a vida fora de casa, proibindo-as de gerir, e até de possuir, fortuna pessoal e limitando-as, desdenhosamente, aos cuidados domésticos. Contudo, se não nos contentarmos com estas descrições sumárias, percebemos que a realidade foi bem diferente e que o casamento romano se apresenta, afinal, com cores menos sombrias, a ponto de se revelar como uma das instituições mais flexíveis, mais matizadas, mais humanas, jamais imaginadas pelos juristas.
A condição jurídica in manu - ou seja, o estado de dependência legal, a incapacidade de possuir uma personalidade civil autônoma - não é de modo nenhum específica da mulher casada. O “filho de família” está, a esse respeito, na mesma situação. Dificilmente poderíamos imaginar que as coisas se pudessem passar de outro modo na mais antiga cidade patrícia, cujos costumes dominaram as instituições da Roma “clássica”, uma vez que a autoridade pertencia exclusivamente a alguns chefes de casa, verdadeiros senhores de todo o clã, que eles representavam no “Conselho dos Pais”: a cidade não reconhecia então senão estes “Pais”, ninguém, senão eles, possuía, verdadeiramente, personalidade jurídica. O direito não podia tomar conhecimento da situação criada à esposa na família. Esse era um domínio onde as regras legais não tinham, em princípio, de intervir e o milagre foi, precisamente, que, de modo gradual, o direito conseguiu penetrar no interior do clã e, finalmente, limitar de maneira efetiva as consequências do estatuto antes reservado à esposa. É bem certo que esta evolução nunca se teria produzido se os costumes e as opiniões não a tivessem imposto.
As lendas de Roma já nos tinham avisado. A ideia que elas tendem a sugerir-nos sobre a condição e o papel da mulher é muito menos sombria do que a que se pretende retirar do direito. Vimos que, neste mundo ideal da lenda, a mulher pelo menos era respeitada, venerada mesmo, eram-lhe poupados os trabalhos servis e reinava como senhora quase absoluta no seu lar. Por outro lado, o exame, ainda que rápido, das crenças e dos ritos relativos à vida amorosa e sexual mostra que os Romanos sempre se preocuparam em pôr as suas companheiras ao abrigo das paixões, em protegê-las dos maus demônios que podem comprometer a estabilidade da união conjugal. Prudência dos maridos, poder-se-á talvez dizer, mas também, talvez, respeito vigilante por um ideal e aversão em reduzir esta união apenas à satisfação do desejo. Tudo se passa como se a religião romana, sensível à lei universal da vida, tivesse querido assegurar aos cônjuges as bênçãos das divindades que presidem à fecundidade da natureza, mas, ao mesmo tempo, poupar-lhes também os caprichos anárquicos que lhes são usuais.
Existia em Roma uma divindade protetora do casamento legítimo, das “justas núpcias”, na expressão dos juristas. Esta proteção era apanágio de Juno, que se invocava então com o nome de Juno Juga, sendo notável que se pedisse a proteção do casamento a uma deusa e não a um deus. Se pensarmos no caráter sagrado, inviolável, do casamento romano na cidade arcaica, poderíamos imaginar que a piedade dos filhos de Rômulo teria preferido dirigir-se a outros patronos, aqueles que, em geral, tinham por missão velar pelo respeito dos juramentos, como Dius Fidius, ou o próprio Júpiter. No entanto, preterindo estes deuses severos, foi Juno a escolhida, porque, na união dos cônjuges, considerava-se, provavelmente, que o papel principal pertencia à mulher, que era ela que, no contrato celebrado com o homem, empenhava mais de si e que o sucesso ou o malogro dependiam, sobretudo, daquilo que soubesse dar.
Esta predominância da mulher transparece ainda no próprio nome do casamento, no termo matrimonium, derivado do termo que designava a mãe, mater, casar com uma mulher era convidá-la a tomar-se "mãe”. Este título era seu antes mesmo de ter filhos. Analogamente, o marido recebia o nome de “pai”, pater, a partir do momento em que ficava unido por “justas núpcias”. Pater e mater eram palavras que se usavam também para honrar as divindades poderosas, de que a lenda não conhecia nem progenitura nem mesmo, por vezes, companheiro ou companheira. A nova esposa compartilhava o título de “mãe” com Minerva, Diana e Vesta, as deusas virgens. Ter-lho-iam atribuído, se, no lar, não fosse se não uma escrava submissa?
Obrigados a definir o casamento, os juristas imaginaram uma bela fórmula que coloca a instituição no seu verdadeiro lugar. Encontramo-la no Digesto, que honra Modestino, que viveu no início do século III d.e.c.
O casamento” - diz-nos ele - “é a comunhão do direito divino e do direito humano” e, um pouco mais adiante, acrescenta: “O casamento é a união total de toda a vida”. De fato, a primeira definição parece mais exata do que a segunda, porque o casamento subsistia ainda que, por uma causa externa, os cônjuges se encontrassem materialmente separados. Ulpiano, que foi o mestre de Modestino, tinha pensado neste caso:
Se uma mulher e o seu marido habitam muito tempo longe um do outro, mas conservaram o respeito mútuo do casamento - como sabemos que aconteceu, por vezes, entre pessoas de estatuto consular -, penso que as doações não são válidas, porque o casamento não foi interrompido. Não é a relação carnal que faz o casamento, mas sim o sentimento conjugal.
Assim, a crer nos juristas, que parecem, de fato, ter sido intérpretes fiéis do sentimento geral, o casamento é uma associação total constituída entre dois seres na sua realidade divina e humana. Para que haja casamento, é necessário que esposo e esposa possuam, em relação aos deuses e em relação aos homens, o mesmo estatuto, o mesmo valor. As relações carnais que a cidade exige deles - dado que o casamento é celebrado “para que sejam gerados filhos”, como recordam os censores em cada recenseamento do povo - não são suficientes, por si só, para constituir o casamento. A procriação é apenas o corolário desta comunhão total dos cônjuges: a essência profunda do casamento reside em outro lado.
Uma frase célebre, pronunciada pela noiva aquando da celebração do casamento, parece tê-lo expresso bem: “Onde fores Gaius, dizia a jovem, eu serei Gaia”. Trata-se uma frase ritual, cujo sentido primitivo nos escapa e já se perdera para os Romanos da época clássica, mas as que a repetiam tinham consciência de se unir ao marido, que iria ser, não o seu senhor, mas o seu duplo, o seu equivalente: ambos formariam as duas metades de um mesmo ser. Esta síntese de uma entidade nova não era, como no mito estranho do Banquete de Platão, um símbolo da união carnal, nem mesmo da comunhão dos corações, mas uma verdadeira criação: com o casamento começava uma societas, uma associação que transcendia cada um dos cônjuges, não só devido às suas consequências, mas à sua própria natureza. Assim como a cidade é uma realidade de ordem diferente dos cidadãos que a compõem, também o casal é, por si só, um ser novo.
Este caráter do casamento romano, que considera o casal de cônjuges uma realidade em si e, de algum modo, transcendente, surge claramente na condição exigida a um casal sacerdotal, o do flamen e o da flaminica. O flaminato era um sacerdócio muito antigo que não podia ser exercido senão por um patrício casado. Qualquer que seja a origem da instituição, que remonta, talvez, à componente “ariana” da cidade romana, é evidente que ela conservava caracteres extremamente arcaicos. Envolvido por um grande número de proibições, o flâmine devia permanecer em uma pureza ritual perfeita. Não podia, por exemplo, ajuramentar nem ter nenhuma espécie de laço que pudesse “contrariar” a força mágica que nele habitava. A sua mulher devia conservar também a mesma pureza. Se morresse, o seu marido devia imediatamente demitir-se das suas funções. Plutarco, que relata o fato, interroga-se pelas razões desta lei. Seria demasiado simples pensar que a passagem da morte sobre essa casa consagrada tivesse sido suficiente para causar uma mancha indelével. Na realidade, é a própria permanência do casamento que é exigida para exercer o sacerdócio, pois o flâmine não tinha o direito de divorciar-se. A primeira exceção aconteceu apenas no tempo de Domiciano. O imperador autorizou o divórcio do flâmine, mas foi necessário “expiar” esta dissolução da união santa com ritos exumados de uma idade remota, “ritos horríveis, estranhos e sombrios”, diz Plutarco. que se tornaram necessários pelo escândalo religioso constituído pela mutilação voluntária deste casal, mediador entre a cidade e o seu deus.
O casamento do flamen e da flaminica era, para os Romanos, um casamento exemplar, “feliz”. Ele tinha, para a cidade, o valor de um "presságio” e a partir dele eram modelados, magicamente, os outros casais. É significativo que o flamen de Júpiter tenha presidido à celebração da confarreatio, que é, segundo parece, a forma mais antiga e, seguramente, a mais solene do casamento patrício. É significativo também que se abstivessem de celebrar casamentos no mês de Maio, durante o qual, precisamente, a flaminica, com os cabelos soltos e em trajo de luto, participava na procissão das Argées e na imersão, nas águas do Tibre, das pequenas bonecas que eram designadas com este nome obscuro.
Durante os três primeiros séculos de Roma, as alianças entre as famílias patrícias e as famílias plebeias permaneceram interditas. A razão para isso é bastante clara. Não há dúvida de que não consistia no orgulho de casta, mas sim no carácter do próprio casamento e na consciência de que patrícios e plebeus não eram religiosamente equivalentes. Dois seres pertencentes a estas duas ordens não podiam formar um casal harmonioso aos olhos da divindade nem partilhar estatutos que a sua desigualdade tornava inconciliáveis, uma vez que a mulher não adquiria automaticamente, pelo casamento a condição jurídica do marido. Este princípio permaneceu no direito clássico. Ela conservava totalmente o seu estatuto pessoal, a sua personalidade não era de modo algum “absorvida” pela do homem que se tornava o seu companheiro, o que ficava assinalado pelo fato de ela não tomar o nome gentílico da sua nova família, mas, de maneira mais independente do que as esposas modernas, manter o de nascimento.
É singular verificar que não existia uma cerimônia religiosa que, como no caso da adoção no interior de uma família, tivesse por efeito criar esta comunidade de direito de que falam os juristas, e esse é um dos paradoxos do casamento romano. Nada podemos afirmar em relação aos tempos mais remotos - os nossos conhecimentos são, para isso, demasiado imperfeitos e fragmentários mas, na época clássica, o casamento, se tinha os deuses por “testemunhas”, não era criado por eles. Tem o seu princípio na vontade comum, livremente afirmada pelos cônjuges, de associar os seus destinos e parece que, efetivamente, assim foi desde as origens de Roma.
O casamento é, sem dúvida, um ato religioso. Não poderia ser de outro modo em um povo que gosta de agir de acordo com a divindade e preludia até os atos mais insignificantes da vida interrogando a vontade dos deuses. Mas a consulta de presságios antes de um casamento não difere da que precedia qualquer decisão, qualquer “início”, quer na vida pública quer na vida privada. Ainda durante o Império, os “observadores de auspícios”, seguindo a tradição, figuravam entre os celebrantes do casamento, mas isso não era mais do que um vestígio dos tempos antigos. Já não se lhes pedia uma consulta em forma.
Este fato não impedia as jovens e os seus parentes mais próximos de tentar por todos os meios penetrar o segredo do futuro. A piedade pessoal, ou, se preferirmos, a superstição das noivas, era mais exigente, ou talvez mais prudente, do que os ritos oficiais, pelo que, na véspera do casamento, as cenas de adivinhação em privado não eram por certo raras. Naturalmente, estamos bastante mal informados sobre o que se passaria em tais circunstâncias. No entanto, conservaram-se alguns testemunhos. Conta-se, por exemplo, que Cecília, a mulher de Metelo (no fim do século II a.e.c.), interrogava em uma noite a vontade dos deuses, no interesse da sua sobrinha, uma moça muito nova que a tia pensava casar. Tinham ficado velando no santuário, mas os deuses permaneciam mudos. Esperaram tanto tempo que a jovem, cansada de estar de pé, pediu à tia que lhe concedesse um pouco de espaço de modo a poder sentar-se junto dela. Cecília respondeu-lhe cortesmente: “Claro, minha querida, cedo-te o meu lugar." E eis que estas inocentes palavras se revelaram proféticas. Pouco tempo depois, Cecília morreu de repente e Metelo casou com a jovem'. Tais eram as estórias que se contavam entre as mulheres quando se falava de casamento.
***
A cerimônia do casamento foi descrita com frequência. Tinha muitos ritos pitorescos. Alguns conservavam um valor mágico evidente, mas outros eram apenas a herança incompreensível de um passado muito remoto. A maior parte destinava-se a “proteger” a noiva em um momento particularmente importante da sua existência.
Tudo começava na véspera do grande dia. À noite, a jovem abandonava definitivamente as suas vestes de adolescente, a toga pretexta, cujo bordo era ornamentado com uma banda de púrpura, enquanto os rapazes as deixavam no decurso de uma cerimônia solene, geralmente muito antes do tempo de casar, quando estavam prestes a iniciar a vida pública. Mas a jovem, que nunca participaria nesta, deixava de ser criança apenas no dia em que se tornasse esposa. Cobriam-na, na véspera do casamento, com uma túnica branca, que tinha a designação, bastante obscura, de túnica reta, túnica “direita”. Tratava-se, sem dúvida, de uma túnica feita de um tecido elaborado em um tear antigo por um tecelão trabalhando de pé. Para um ato tão importante como o casamento, era necessário respeitar os velhos costumes: qualquer inovação podia ser perigosa.
O cinto que, como era habitual, cingia esta túnica ao corpo era atado de um modo particular, com um “nó de Hércules”, que o jovem marido, no dia seguinte, seria o primeiro a desfazer. Os cabelos da noiva eram penteados de acordo com um ritual bem determinado. Uma mulher separava-os com um instrumento invulgar chamado hasta caelibaris, que era uma arma, uma lança de hasta curta, mas com o ferro acerado. Já os antigos se interrogavam sobre esta prática estranha. Plutarco questionava-se se tal não se explicaria, de algum modo, pelo fato de Juno, protetora do casamento, ser considerada, por vezes, uma deusa guerreira. O penteado da noiva era imutável: os cabelos formavam seis tranças fixadas com faixas em redor da testa. Durante a cerimônia, o penteado era dissimulado sob um véu de cor alaranjada que caía sobre os ombros, emoldurando o rosto. Esta cor, que é a cor da aurora, passava por ser benéfica.
De manhã, todos os convidados se reuniam na casa da noiva e era oferecido um sacrifício aos deuses. Os adivinhos (auspices) interrogavam as entranhas da vítima, pelo menos faziam-no nos tempos antigos, mas., como dissemos, tendia-se a prescindir cada vez mais do seu ministério. Realizado o sacrifício, tinha lugar o casamento, isto é, a declaração, diante de testemunhas, do consentimento dos cônjuges, aos quais uma mulher juntava solenemente as mãos. Era esta que conduzia o cortejo e era também, se se pode dizer assim, o modelo e a garante da jovem. Chamavam-lhe a pronuba. Este ato, a dextrarum junctio, era o momento culminante: expressava e simbolizava a união dos esposos, o seu compromisso recíproco, que os tornava, daí em diante, em um único ser.
Pedia-se depois às divindades que abençoassem os cônjuges. É provável que fosse pedida a proteção de cinco delas, quatro deusas e apenas um deus. A fazer fé em Plutarco, eram Júpiter, Juno, Vênus, Fides e Diana, mas Plutarco pensava talvez menos nos deuses que protegiam o casamento em Roma do que nos seus homólogos gregos. É contudo notável que predominassem as deusas e que fosse a mulher que aparecia rodeada de toda a solicitude das potências divinas.
Os cônjuges ofereciam depois um novo sacrifício e todos se reuniam para uma refeição, à espera da noite. Até então, a noiva não tinha deixado a casa da sua infância. O aparecimento no céu da estrela Vésper ia definitivamente tirá-la de lá. A noiva aparentava temer esta separação como uma ruptura, tentava encontrar abrigo nos braços da mãe, mas os assistentes apartavam-na, apesar da sua resistência, e levavam-na em cortejo em direção à casa do marido. Era um cortejo alegre, em que se cantavam refrães tradicionais, com muitas piadas grosseiras, como os versos que o povo dizia aquando das procissões triunfais. A sua finalidade era, provavelmente, afastar o "mau olhado” e, por outro lado, estimular a fecundidade futura do casal, graças ao valor apotropaico das palavras obscenas. Lançavam-se nozes aos assistentes, o que constituía, sem dúvida, outro símbolo de fecundidade. A noiva era acompanhada por três rapazes que tinham ainda pai e mãe. Um destes “rapazes de honra” empunhava uma tocha de espinheiro. Outras pessoas, também com tochas, iluminavam a cena e eram interpretados presságios na luz que as chamas difundiam. Uma luz viva era de bom augúrio, uma luz fumegante e incerta era interpretada como sinistra. A jovem era acompanhada também por duas servas que tinham nas suas mãos uma roca e um fuso. É evidente que a nova senhora da casa não iria ela mesma utilizá-los, se pertencesse à poderosa aristocracia romana, que dispunha de inúmeros escravos para a servir, mas o trabalho da lã era o símbolo da virtude doméstica. Era o único que se podia exigir a uma mulher de nascimento livre. Nunca teria, por exemplo, de moer o grão ou manipular a massa. No entanto, na casa do imperador Augusto, as princesas ainda faziam com as suas próprias mãos as túnicas que o imperador vestia, o que era uma concessão aos costumes dos antepassados.
Finalmente, chegavam à porta da casa nupcial. A noiva parava para oferecer algumas orações às divindades da entrada, untava com óleo as ombreiras e neles atava faixas de lã. Em seguida, levantada pelas mãos vigorosas dos jovens do cortejo, cruzava o limiar sem correr o risco de nele tropeçar, o que teria constituído um péssimo presságio. Ia ser apresentada às divindades da sua nova casa. O noivo esperava-a no atrium e oferecia-lhe fogo e água, dois elementos vitais e indispensáveis quer à existência quer aos ritos sagrados. A jovem, após ter pronunciado a fórmula que já mencionámos - “Ubi tu Gaius, ego Gaia” começava a sua nova vida oferecendo três moedas, uma ao marido, outra aos deuses do lar e a terceira ao Lares da encruzilhada mais próxima.
Havia várias formas de casamento. Os textos literários e jurídicos referem a confarreatio, a coemptio e a usucapio. Na verdade, trata-se não tanto de três “casamentos” diferentes, mas mais de três ritos juridicamente equivalentes destinados a fazer passar a jovem esposa in maem um mariti, a fazer dela, poderíamos nós dizer, a “pupila” do marido. A sua diversidade induz-nos a pensar que o casamento nunca esteve relacionado, de fato, com nenhum rito específico, mas que existiu por si mesmo, livremente realizado tão-só pelo consentimento de duas vontades iguais. As diferentes formas jurídicas limitavam-se a verificar este consentimento, a dar dele certificação aos cônjuges. Naturalmente, esta verificação oficial variou com as épocas e a classe a que pertenciam os jovens. A confarreatio era característica da velha sociedade patrícia. Celebrava-se na presença do grande pontífice, chefe da religião nacional, e do flâmine de Júpiter. Para além disso, eram necessárias dez testemunhas, em representação, por certo, das dez cúrias da tribo. As oferendas feitas aos deuses, após a dextrarum junctio, tinham um carácter particularmente arcaico, pois eram compostas por bolacha de espelta, ofar, trigo primitivo e grosseiro, que foi durante muito tempo o único cereal cultivado no Lácio. Oferecia-se também um sacrifício a Tellus, a Terra Fértil, e a Ceres.
Os especialistas interrogam-se sobre o significado deste duplo sacrifício e recordam a afirmação de Sérvio: “Entre os antigos, era impossível casar com uma mulher ou trabalhar um campo sem antes ter realizado sacrifícios”. É natural que Ceres, “a criadora do homem”, tenha presidido a estas sementeiras humanas. A confarreatio conduz-nos a um mundo profundamente marcado pela vida rústica, no qual parece que os atos humanos eram realizados em simpatia com as potências misteriosas do solo, do céu e da natureza.
A semelhança do casamento do flâmine e da flaminica, a união pela confarreatio parece ter sido indissolúvel, pelo menos de início. Mas, mais tarde, por pressão dos costumes, foi necessário tornar a regra mais flexível. Imaginou-se, para dissolvê-lo, uma cerimônia oposta à primeira, que se chamou diffarreatio, destinada a destruir o efeito da confarreatio. Mas isso era apenas um expediente. Há muito tempo, a maior parte dos romanos tinha preferido outras formas de casamento que existiam conjuntamente com a confarreatio. Apenas algumas raras famílias mantinham o antigo uso e era entre elas que se recrutavam os flâmines, dado que, para ser flâmine, era necessário ser filho de um casamento por confarreatio. No tempo de Tibério, não era fácil encontrar candidatos que preenchessem esta condição.
Há muito tempo que existiam duas outras formas do casamento, praticadas, por certo, em alternativa: uma baseia-se em um rito de compra, o coemptio, o outro em um estado de fato, o usus. Na verdade, estes dois casamentos não são formas “menores” relativamente à confarreatio, mas dois modos de legalizar a união dos cônjuges, de dar um fundamento jurídico a esta “sociedade” que é o casal. Coemptio e usus existem em um outro domínio que não o do casamento. São, essencialmente, dois modos de aquisição legal, dois meios de criar uma propriedade total. Podemos pensar que, aplicados ao casamento, nunca tiveram senão valor de ficções jurídicas, inventadas pela fértil imaginação dos técnicos do direito civil.
A coemptio realizava-se na presença de cinco testemunhas, todas cidadãos de pleno direito, sob a presidência de um “pesador”, o libripens, também ele um cidadão. Como em uma venda, o comprador (aqui, o marido) pronunciava uma fórmula ritual em que afirmava “adquirir” a noiva “para o casamento”, e não para a escravizar, precaução necessária, dado que, quanto à forma, era idêntico ao rito de compra pura e simples. Conforme os casos, o vendedor poderia ser o pai, o tutor da noiva ou mesmo esta, se fosse “emancipada”. A transação era materializada pela entrega de uma moeda em pagamento, que não tinha, é evidente, senão um valor simbólico. Os historiadores modernos afirmaram durante muito tempo que esta “compra” da noiva pelo seu futuro marido era um vestígio de um passado muito remoto, tendo substituído um costume ainda mais rude, o rapto puro e simples. Mas esta tese já não encontra defensores. Afirmou-se também que o coemptio era uma forma de casamento característica de um grupo social determinado, mas isso também não é certo, porque a coemptio não é um rito nupcial, mas um modo de cessão jurídica. Aliás, no fim da República, tinha caído em desuso e Cícero garante-nos que, no seu tempo, os advogados já nem sabiam, de maneira precisa, como eram as cerimônias.
O casamento “de fato” (per usum) é bastante semelhante, na sua natureza, à coemptio. Também se explica por analogia com um modo de transmissão de propriedade. De fato, era considerado proprietário de um bem quem tivesse tido o seu gozo incontestado e notório, por um período de duração variável, segundo a natureza do bem em questão. Analogamente, a união de um homem e de uma mulher, se tivesse continuado durante um ano, tornava-se em um casamento legítimo e o marido adquiria a manus, com todos os seus efeitos, como se tivesse havido confarreatio ou coemptio. No entanto, se a mulher tivesse passado, durante o ano, três noites consecutivas fora do domicílio do marido, escapava à manus do companheiro.
Levantou-se frequentemente a questão da origem desta prescrição singular. Talvez seja, ainda neste caso, uma fição legal imaginada para criar um casamento sem manus, em que a mulher não se tornava "pupila” do marido, mas conservaria o seu estatuto jurídico pessoal. O período de três dias e de três noites, imposto como condição, terá sido retirado de uma velha prescrição, de que se encontram vestígios em um dos tabus do casamento do flamen e da flaminica. Na verdade, esta não podia dormir mais de duas noites consecutivas longe do marido, como se o casamento “ideal” e exemplar que este casal sacerdotal simbolizava exigisse, para existir, uma continuidade praticamente absoluta. Os juristas, com este singular artifício, conseguiram transformar profundamente a realidade social do casamento romano.
Esta criação de um casamento sem manus, tão importante na evolução dos costumes romanos, é atribuída pela tradição aos decênviros que, em meados do século V a.e.c., redigiram as leis das Doze Tábuas Talvez seja até mais antiga e os decênviros se tivessem limitado a incluir no seu código uma prática efetiva. É bem provável que este regime tivesse sido imaginado para dar resposta a situações práticas em que se tornava difícil manter a autoridade do marido em todo o seu rigor. Pensa-se que a autorização de realizar casamentos legítimos entre patrícios e plebeus, oficialmente concedida pela Lex Canuleia, em 445 a.e.c., se relacione com a flexibilização do velho casamento patriarcal. Podemos pensar que o pai de uma jovem patrícia teria aversão a transmitir a sua autoridade a um marido plebeu com quem ela podia ser levada a casar e que não seria da sua condição, pelo menos aos olhos dos deuses. Uma esposa que escapasse à manus do marido continuava, de fato, submetida à do seu pai e continuava a participar na religião da casa onde nascera. Todavia, isso implicava também outra consequência: em virtude da sua autoridade tradicional, o pai da jovem conservava a faculdade de romper o casamento da filha por sua própria conveniência e sem o consentimento dos cônjuges. Este direito, que nos parece exorbitante, persistiu até ao século II d.e.c., tendo sido definitivamente abolido apenas no tempo dos Antoninos. Há muito tempo que ninguém pensava colocá-lo em prática, permanecendo apenas como um vestígio arcaico, mas o fato de ter existido é suficiente para que possamos entrever as verdadeiras razões que suscitaram a criação de um casamento sem manus: longe de ser inspirada por intenções liberais e pela vontade de dar à mulher a independência jurídica, esta inovação dos juristas do século V reflete, sobretudo, a relutância que tinham em diminuir as prerrogativas do pai de família e o seu engenho na salvaguarda da integridade da “casa” patrícia.
Desta inovação resultou, contudo, uma verdadeira revolução, que, a longo prazo, conduziu, na prática, à emancipação da mulher casada. Podemos ver, por exemplo, no período da Segunda Guerra Púnica, um pouco mais de dois séculos depois da Lei das Doze Tábuas, que a grande maioria das mulheres escapava não apenas à tutela dos maridos, mas também à dos pais. A mulher, que era considerada uma “perpétua menor”, estava sujeita, teoricamente, à autoridade de um tutor. Mas, em geral, este tutor já não era o pai. Frequentemente, este, ainda em vida, designava um parente ou um amigo para substituí-lo nesta função. A “pupila”, se estivesse descontente com o tutor, podia pedir ao pretor que lhe atribuísse outro e o pretor mostrava-se complacente. Na realidade, a tutela estava em vias de desaparecer no fim da República. Já não era considerada senão uma formalidade que não podia restringir realmente a independência financeira das mulheres. Até mesmo Augusto, no seu desejo de incentivar os Romanos a ter filhos, dispensou totalmente de tutor as mães de três crianças, privilégio que foi depois frequentemente alargado, por vontade dos imperadores, a esposas menos férteis.
O casamento “livre”, ou seja, aquele em que a esposa não ficava juridicamente submetida ao marido, mas dependia de um tutor cuja autoridade era apenas uma ficção, tornou-se muito rapidamente habitual e, no fim da República, era esse o regime ordinário, se ignorarmos algumas grandes famílias patrícias em que se praticava ainda a confarreatio. A coemptio, como dissemos, tinha desaparecido completamente desde então e o casamento per usum era apenas uma curiosidade jurídica. A união não era mais do que uma convenção privada que tinha apenas consequências legais muito específicas e limitadas. Por exemplo, não podia haver doações entre marido e mulher, mas, em contrapartida, esta podia possuir bens que ficavam automaticamente excluídos da administração do marido. Na prática, as mulheres preferiam, frequentemente, deixar aos maridos o encargo de gerir as suas próprias fortunas, mas isso era apenas uma concessão por afeto. O dote efetivamente estipulado aquando do casamento devia ser administrado pelo marido, todavia, em princípio, apenas o seu rendimento devia ser utilizado nas necessidades da comunidade familiar. Embora não houvesse dispositivo legal que pudesse impedir um marido pouco escrupuloso de o dilapidar, não era menos verdade que, se o casamento viesse a ser dissolvido, este dote, na maioria dos casos, devia ser restituído à mulher, que recuperava a sua liberdade. Mulher e marido redigiam testamentos separados e não eram automaticamente “herdeiros naturais” um do outro. É difícil imaginar um regime jurídico que possa garantir uma maior dignidade à mulher e assegurar-lhe uma maior independência material e moral. Esta situação não é, de fato, a inicial, na cidade romana. Ela formou-se lentamente. Tentamos mostrar o mecanismo desta evolução. Parece que tudo se caminhou para humanizar o casamento romano, para integrar nas leis o que, de início, era apenas uma tendência dos costumes simbolizada na lenda. Erraríamos se pensássemos, dando crédito aos oradores, sobretudo a Juvenal, que esta transformação teve origem no relaxamento moral, na degradação progressiva da pureza original. Bem pelo contrário, parece que os romanos reconheceram a nobreza moral das suas companheiras e que tiveram nelas uma confiança cada vez maior ao longo das gerações. Se as quiseram cada vez mais livres, a razão para tal reside no fato de terem aprendido a respeitá-las cada vez mais.
***
Não obstante, aos olhos dos modernos, os Romanos são o povo que autorizou o divórcio e, em certos momentos, fez uso dele até ao excesso. Na verdade, esta liberdade do divórcio é a consequência necessária da concepção romana do casamento: dado que este é essencialmente uma “associação”, apenas pode subsistir por livre vontade dos cônjuges. Quando esta vontade se altera, em nome de que princípio se poderia constrangê-la?
O primeiro divórcio mencionado pela tradição remonta apenas ao ano 231 a.e.c., quando Espúrio Carvílio Ruga repudiou a mulher, porque era estéril. No entanto, conforme é relatado, amava-a de fato e ela merecia esse amor, mas ele tinha jurado perante os censores, como exigia o costume, que se tinha casado “para ter filhos” e não queria que o seu amor por uma mulher, que sabia não poder dar-lhe descendência, o levasse a violar tal juramento. O motivo era honroso, mas isso não impediu Carvílio de ser criticado severamente pela opinião pública. A fides, isto é, a lealdade para com a esposa, devia primar sobre o respeito pelo juramento cívico. O casamento era como todos os contratos: a menos que houvesse fortes razões, designadamente coação, era necessário observá-lo custasse o que custasse.
Atribuída ao próprio Rômulo, havia uma “lei régia” relativa ao casamento que estipulava as condições da sua dissolução. No entanto, como acontece em geral com as leis ditas “régias”, a autenticidade desta é extremamente duvidosa e, para além disso, a sua interpretação é incerta. Eis como Plutarco a formula:
"Rômulo publicou também algumas leis, entre as quais é realmente severa a que não permite à mulher deixar o marido, mas permite ao marido repudiar a esposa por envenenamento de filhos, por subtração de chaves e por adultério. Ela ordena que, se algum rejeitar a sua mulher por outro motivo, metade da sua fortuna pertence à mulher e a outra metade será consagrada a Deméter, mas aquele que repudiar a mulher deve oferecer um sacrifício aos deuses infernais."
Este texto, bastante obscuro, reflete indubitavelmente um estado antigo da sociedade e, sem dúvida, ainda próximo das suas origens patriarcais. As prescrições que contém só se podem explicar pela influência do poder do “pai de família”, poder absoluto, em princípio, nessas origens, pelo menos no plano do puro direito. Todavia, por paradoxal que possa parecer, constituem restrições ao exercício deste poder, limitando o direito de repúdio a certos casos muito precisos quando a esposa se tornava culpada de atos particularmente graves. Se não fosse culpada, o seu repúdio era ainda teoricamente possível, mas custaria caro ao marido caprichoso! Privado da totalidade dos seus bens, recuperaria certamente a sua liberdade, mas a que preço!
As razões que, segundo esta lei, legitimam o divórcio intrigaram durante muito tempo os historiadores do direito, que não se coibiram de corrigir arbitrariamente o texto para eliminar o que os chocava. Julgando absurdo que a “subtração das chaves” pudesse ter tão graves consequências, pensaram que Plutarco deveria ter querido falar das “substituições de filhos”. Na verdade, não é conveniente alterar o texto. P. Noailles mostrou que cada uma das eventualidades consideradas constitui, de fato, a violação de um dos “tabus” mais característicos do casamento romano primitivo. Os “envenenamentos de filhos” são, na realidade, uma forma de aborto provocada pelo emprego de drogas mágicas. O adultério, crime contra a pureza do sangue, é, evidentemente, a falta essencial e inexpiável e continuará a sê-lo enquanto durar a cidade romana. Resta o caso do uso das “falsas chaves”. Mas o sentido da proibição é claro, também aí, se recordarmos que as mulheres romanas não puderam, durante muito tempo, beber vinho sem incorrer nas mais graves penas. Embora pudessem ter na sua posse todas as chaves da casa, as da adega estavam-lhes interditas. Uma estória contada pelo historiador Fábio Pictor, que escrevia no fim século III a.e.c., e conservada por Plínio, o Velho, diz-nos que um dia uma senhora romana desselou os armários em que se encontravam as chaves da adega. Acusada deste crime, foi condenada por um conselho de família a morrer à fome. Ignoramos, infelizmente, em que época se desenrolou o drama. Podemos supor que já ao tempo de Fábio Pictor remontava a um passado muito longínquo. No início do século II a.e.c., uma mulher que bebesse vinho incorria ainda na pena de repúdio, mas não na de morte.
Na família patriarcal primitiva, parece efetivamente que a única dissolução possível do casamento era em resultado da condenação da esposa à morte pelo pai de família, agindo na sua qualidade de juiz, e as faltas que provocavam esta terrível decisão eram crimes religiosos. Surgiu, muitas vezes, a questão de saber qual o verdadeiro significado do interdito do vinho. P. Noailles considera que o vinho, líquido sacrificial e substituto do sangue, passava por “conter o princípio misterioso da vida... bebendo-o, a mulher submetia-se a um princípio de vida que lhe era estranho e, por conseguinte, hostil. Introduzindo este elemento externo nela - no sangue da família -, destrói a sua integridade. É uma mancha através do sangue”. Uma hipótese recentemente apresentada recorda que, na medicina antiga, considerava-se que o vinho era dotado de virtudes anticoncepcionais e abortivas e, por conseguinte, o seu uso podia ser assimilado a uma tentativa de aborto semelhante às previstas pela lei de Rômulo. Por nossa parte, dissemos que o vinho era consagrado à deusa Vênus e que o seu uso podia ser considerado, de fato, perigoso para as “mães”, o que não contradiz em nada as duas hipóteses precedentes, perfeitamente compatíveis entre si, em planos diferentes de causalidade. Mas é também necessário não esquecer que apenas as "matronas", ou seja, as senhoras “de família honrosa”, parecem ter estado sujeitas a esta proibição. É pelo menos o que transparece de um outro costume, muito curioso e muito mais surpreendente em uma sociedade tão puritana, em certos aspectos, como é a da Roma arcaica. De fato, durante muito tempo, as senhoras “de boa família" recebiam dos pais de sangue ou por aliança um beijo na boca. Era o chamado jus osculi, o direito de beijar. Era um direito singular, que as mulheres comuns não podiam reivindicar, e que apenas se explica, de acordo com o modo como os próprios antigos o entendiam, pelo tabu do vinho. Os pais da senhora nobre verificavam desta maneira se o seu hálito cheirava a vinho. Não seriam eles que, em caso de infração à regra, se sentariam como conselheiros do tribunal de família e decidiriam o destino reservado à delinquente?
É necessário distinguir cuidadosamente entre a condenação de uma matrona pelo tribunal familiar e a dissolução pura e simples do casamento. É necessário também interrogarmo-nos, face aos testemunhos dos historiadores antigos, se se referem a uniões patrícias, em que as considerações religiosas e as tradições “do clã” continuaram a desempenhar, durante muito tempo, um papel importante, ou a “pessoas comuns”, para as quais a estabilidade da família tinha menos consequências. Poderemos verificar, então, que a maior parte das estórias e dos fatos mais diversos que nos foram transmitidos se refere, precisamente, a casas aristocráticas. É muito provável que o quadro fosse muito diferente, se dispuséssemos de documentos relativos às outras classes da sociedade, aquelas para as quais o casamento não se destinava, em primeiro lugar, a perpetuar um culto gentílico e era muito mais um assunto pessoal. Para além disso, havia também todos aqueles que não gozavam do “direito de casamento”, esse jus connubii que era uma das prerrogativas dos cidadãos de pleno direito, ou seja, durante muito tempo, a totalidade dos plebeus e também, mesmo depois da lex Canuleia de 445 a.e.c., a massa dos libertos, que não podia unir-se legalmente com pessoas de nascimento livre, pelo menos, segundo parece, até ao último século da República. Todas estas uniões, não sendo casamentos legítimos e não tendo consequências jurídicas, eram certamente menos estáveis que os casamentos contratados entre pessoas de nascimento livre. À medida que se dissipava o sentimento das distinções sociais, como poderiam os casamentos legítimos ter escapado ao contágio?
Se é verdade que a manus do marido, herança da sociedade patriarcal, constituía a única garantia jurídica de um casamento estável, retirando à mulher a possibilidade de deixar o marido de acordo com a sua vontade, uma vez admitido o princípio do casamento sem manus, nada mais, exceto o sentimento das conveniências, podia assegurar a estabilidade da união. Por isso, é extraordinário que o divórcio só tenha feito o seu aparecimento, nas famílias da aristocracia (as únicas para que possuímos informações), mais de dois séculos depois da instituição e generalização do casamento per usum. Isso prova o poder da tradição. Vemos com que dificuldade as aspirações à liberdade individual puderam finalmente aparecer à luz do dia. Para além disso, a coação da sociedade exercia-se de uma maneira extremamente eficaz através da censura, essa magistratura que confiava a dois verdadeiros “inquisidores dos costumes”, durante cinco anos, o encargo de examinar se cada cidadão era digno do estatuto que tinha na cidade. Os censores não hesitavam em infligir uma repreensão, ou mesmo riscar da lista de senadores, quem repudiasse a mulher por um motivo fútil. Evidentemente, a ameaça era progressivamente menos grave à medida que se dirigia às classes inferiores e, indubitavelmente, também, a severidade dos censores estava reservada, sobretudo, às personalidades mais em evidência.
No entanto, mesmo na ausência de qualquer sanção oficial, subsistiu nos costumes, durante muito tempo, uma certa aversão ao divórcio. Quando uma esposa entrava em conflito com o marido, chegava a convocá-lo para uma conciliação perante um órgão jurisdicional bastante singular, uma divindade chamada Viriplaca, ou seja. “a que apazigua os maridos”, cuja capela se erguia no Palatino. Antes de tomar uma decisão extrema, maridos e mulheres dirigiam-se aí, onde, sob a proteção da deusa, descarregavam livremente o coração. Falando, recuperavam a calma, a tempestade acalmava-se e, por graça de Viriplaca, regressavam a casa mais unidos que nunca.
Porém, no fim da República, Viriplaca perdeu muito do seu poder e os divórcios tornaram-se extremamente frequentes. Já não eram apenas os homens os únicos a repudiar as mulheres, usando a fórmula consagrada “pega nas tuas coisas e vai-te", que tinha o poder de quebrar a união, eram as próprias mulheres que deixavam o domicilio conjugal e regressavam à casa de infância. Se o casamento não tivesse manus, era apenas essa a cerimônia; se tivesse manus, esta era revogada com um rito jurídico apropriado, a que o cônjuge repudiado tinha de se sujeitar. A própria facilidade do divórcio contribuiu muito, certamente, para generalizar a sua prática. Mas esta facilidade foi menos uma causa do que o resultado de uma situação complexa: os divórcios eram fáceis, porque pareciam necessários, porque o casamento já não era um “valor em si”, a que se devesse subordinar a vida pessoal, como se aquele fosse um absoluto incondicionado. O estatuto jurídico das uniões legítimas evoluiu, como evoluíram todas as outras instituições da cidade romana. Seria estranho e quase monstruoso que, com a transformação prodigiosa que fez de Roma a capital do mundo, apenas permanecesse imutável uma concepção de família que correspondia, no seu princípio, a uma sociedade patriarcal do tipo mais arcaico. Os moralistas podiam lamentá-lo; o historiador pode falar de decadência, desde que não se esqueça que tudo o que vive, pelo simples fato de existir, encaminha-se para a morte. O casamento romano não escapou a esta lei. Não pensemos que vontades perversas ou uma corrupção generalizada sejam responsáveis do que se diz ser a sua degradação. Interroguemo-nos, antes, sobre o que foi, de fato, esta instituição jurídica de que acabamos de esboçar a fisionomia, como existiu nas diversas épocas, o lugar efetivo que ocupou na exis tência dos indivíduos. Chegaremos, talvez, a compreendê-la tanto me lhor quanto mais renunciarmos a julgá-la.

Os Romanos, que gostavam de se dizer o mais “religioso” dos povos e que reconheciam e honravam divindades em número superior a qualquer outro [com exceção talvez dos hititas], não podiam deixar de ser sensíveis ao carácter sagrado deste instinto amoroso, capaz de transformar os seres, de arrancá-los a si mesmos e cujo poder, igualmente sentido pelos homens e por tudo o que vive, submete às suas leis toda a natureza. Não surpreende verificar que o amor tinha as suas divindades, os seus ritos, a sua magia. O culto que se prestava às primeiras, a observância religiosa de práticas cuja origem se perdia na noite dos tempos, tudo isso tinha por finalidade, umas vezes, desenvolver ao máximo ou exaltar as forças criadoras do ato de amor e, outras, controlar ou disciplinar o que nelas se descobria de anárquico e colocá-las ao serviço do bem da cidade.
A religião da época clássica, aquela que conhecemos melhor graças aos textos e a numerosos testemunhos de toda a espécie, não manteve muitas vezes senão vestígios, dificilmente detectáveis, destas crenças e destes ritos. Esta ou aquela prática de carácter mágico, nos tempos de Cícero ou de Augusto, já não eram mais do que sequelas folclóricas e não teríamos conservado delas nenhuma lembrança se os “antiquários” de então, ávidos de recolher as coisas estranhas do tempo antigo, não lhes tivessem consagrado algumas linhas nas suas obras, que infelizmente, apenas nos chegaram em estado fragmentário. Frequentemente, também, os polemistas cristãos, em busca de argumentos para "provar" a "imoralidade ou o absurdo" da religião ancestral, transmitiram-nos cuidadosamente detalhes cujo carácter arcaico, às vezes mesmo primitivo, tendia a lançar o descrédito sobre a fé dos seus adversários.
Compreende-se que a partir destes pobres materiais seja difícil reconstituir um conjunto ordenado e perfeitamente compreensível, como, por exemplo, avaliar com precisão a importância de um rito específico ou devolver cada fragmento ao seu verdadeiro lugar, e arriscamo-nos, por isso, a graves erros de perspectiva. Apesar de todas estas dificuldades, o que podemos entrever desta “religião do amor" muito antiga não é em si mesmo desprovido de interesse, até porque, sobretudo em Roma, o passado tem no presente uma influência muito grande. Este passado remoto, mesmo se semiesquecido, está, apesar de tudo, presente, porque contribuiu para formar a sensibilidade romana e porque constituiu como que o núcleo em volta do qual se cristalizaram formas religiosas mais modernas, que sem ele não teriam sido o que foram.
Estes vestígios arcaicos, encontramo-los um pouco por toda a parte e as cerimônias de casamento não estão delas isentos. Encontramo-los também na religião oficial e na popular. Surgem, sobretudo, nos cultos celebrados pelas mulheres, o que é natural, dado que, durante muito tempo, as mulheres foram consideradas as depositárias por excelência da fecundidade, aquela metade da cidade a que era a atribuída a função de assegurar a sobrevivência e a permanência de toda a raça.
***
No cimo da Vélia, uma das colinas romanas ocupadas desde tempos mais remotos, havia um santuário singular, cuja “divindade” era representada na forma de membro viril. Este deus tinha o nome estranho de Mutunus Tutunus. Conhecemo-lo apenas por um fragmento do gramático Festo e quatro ou cinco alusões de Tertuliano, Santo Agostinho, Amóbio e Lactâncio, e o que nos dizem está longe de ser claro. Parece que até ao tempo de Augusto, pelo menos, mulheres “vestidas com a toga pretexta” iam, em certas ocasiões, coroar de flores o símbolo de Mutunus Tutunus. Quem eram estas mulheres? Provavelmente sacerdotisas, como o seu fato arcaico parece indicar, e, sem dúvida, mulheres casadas, que realizavam ali um rito provavelmente propiciatório, em nome de todas as esposas da cidade.
Mas Mutunus Tutunus não se encontrava apenas no santuário da Vélia. Tinha o seu lugar também, segundo nos é dito, no quarto de dormir dos simples particulares e, no dia do seu casamento, as recém-casadas deviam sentar-se sobre a sua imagem, como para consagrar ao deus as primícias da sua virgindade. Infelizmente, não sabemos se esta prática era geral ou se se tratava de um costume “do tempo antigo”, a que mais nenhum jovem marido teria ousado submeter a sua noiva. É possível que este gesto seja o último vestígio de um rito destinado a preservar o marido do perigo mágico que a desfloração da sua mulher lhe teria feito correr. Abundam os testemunhos de tais crenças na virtude maléfica da virgindade: os etnólogos encontram-nas em muitas “sociedades primitivas” e conhecem-se exemplos de substituições da pessoa, ritualmente realizadas, durante a primeira noite do casamento.
Na verdade, existem outros vestígios de um culto do falo. Mutunus Tutunus não está completamente isolado na mais antiga religião romana. Por exemplo, as Vestais, as sacerdotisas virgens que tinham à sua guarda os “penates” do povo romano, misteriosos fétiches que era crime olhar, envolviam também de veneração a imagem de um sexo masculino colocada no santuário que tinham a seu cargo, tendo-se pensado que esta imagem correspondia, no lar da cidade, à do Genius que era honrado em cada lar doméstico e simbolizava a capacidade fecundadora do senhor da casa. A favor desta aproximação, é invocada uma velha lenda, muito singular, que fazia parte do “ciclo” do rei Sérvio Túlio.
Contava-se que no palácio de Tarquínio, o Antigo, uma serva chama da Ocrísia unira-se a um falo, que surgira misteriosamente na cinza do lar, e que desta união tinha nascido Sérvio Túlio. Esta lenda, de que Tito Lívio não fala, sem dúvida devido ao seu carácter estranho, contrário aos bons costumes do seu tempo, conserva, muito provavelmente, a lembrança de um tempo em que pelo menos um dos demônios do lar doméstico simbolizava a virilidade.
Durante muito tempo, manteve-se entre o povo, sobretudo no campo, a crença em um poder mágico do falo, falo a que se chamava fascinus. A sua imagem encontra-se ainda, ameaçadora, sobre a entrada de algumas casas, em Pompeia. Tem aí, evidentemente, a função de proteger a residência do “mau olhado”. Nos campos, os camponeses erguiam-no como salvaguarda das colheitas e até sobre o carro dos triunfadores o mesmo símbolo confirmava idêntica fé na virtude benéfica de um órgão que surgia como o “lugar da vida” por excelência. O falo era o talismã mais eficaz contra todas as potências maléficas, os malefícios e tudo o que impedia ou contrariava o crescimento e o desenvolvimento felizes dos seres: homens, animais e plantas. A sua imagem não despertava qualquer vergonha, o que não impedia que cada um tivesse pudor pelo seu corpo: embora os homens, no banho, não tivessem nenhum embaraço em se despir na sauna comum, faziam-no apenas na presença de estranhos. Mas o pai evitava banhar-se diante dos filhos e dos maridos das filhas e as palavras indecorosas eram ouvidas, desde sempre, com embaraço quando em companhia de respeito. Contudo, o costume requeria que os talismãs fálicos fossem usados livremente e expostos aos olhos de todos e não há dúvida que o hábito evitava que se escandalizassem com eles.
Mas o fascinus não possuía apenas este valor apotropaico1, em certa medida negativo. Era objeto, junto dos camponeses, de um verdadeiro culto, associado à religião de Liber Pater, que era, de início, essencialmente, o deus da germinação, “o que assegura o nascimento e o crescimento”. Parece mesmo que o falo simbolizou o próprio deus nas festas rústicas, de que Santo Agostinho nos deixou a descrição. “Este membro vergonhoso, nos dias em que se festejava Liber”, diz-nos Agostinho, “era colocado com grande pompa sobre um carro e passeado, em primeiro lugar, no campo, de encruzilhada em encruzilhada, depois até na própria cidade. Na cidade de Lavínio, era consagrado um mês inteiro a Liber e durante este mês todos os dias, cada um empregava a linguagem mais obscena, até que o falo fosse levado através do fórum, em procissão solene, e depositado no seu santuário. Sobre este membro vergonhoso, uma mãe de família, das mais respeitadas, devia depositar publicamente uma coroa. Era, aparentemente, a maneira de se tomar o deus Liber favorável ao feliz sucesso das sementeiras e de afastar dos campos o mau olhado”.
Liber, que, de início, era deus de toda a geração, tinha-se especializado progressivamente. Assimilado desde cedo ao Dioniso dos Gregos (no culto e nos mistérios do qual também intervinham os símbolos fálicos), tinha-se tomado, na religião formalista e disciplinada da Roma republicana, o protetor das vinhas e dos pomares. Mas, recordação dos velhos tempos, era no dia da sua festa, a 17 de Março, que os jovens vestiam a toga viril, tomando-se assim capazes, por sua vez, de fundar uma família e entrando na classe dos patres. No campo, as formas arcaicas do culto de Liber mantiveram-se vivas durante muito mais tempo. Virgílio conta-nos ainda que, no seu tempo, os camponeses, nas Liberalia, juntavam-se sobre a relva para beber, cantar, dançar e dizer uns aos outros dichotes bastante livres. Para eles, como para os burgueses de Lavínio, de que nos fala Santo Agostinho, a obscenidade da linguagem tem um valor ritual, uma eficácia mágica capaz de estimular a natureza e de ajudar no cumprimento do mistério da vegetação. Estes ditos que se trocavam deram origem a fórmulas quase rituais, ritmadas, que tomaram o nome de “versos fesceninos” e que os espectadores, à passagem de um cortejo nupcial ou de uma procissão triunfal, lançavam aos participantes. Nestas ocasiões solenes, a decência dos ditos não era adequada: a obscenidade das palavras fazia parte do rito. Como o próprio fascinus, afastava a desgraça e, ao mesmo tempo, estimulava a fecundidade do casal e aumentava a eficácia das potências misteriosas de que dependia o sucesso da cerimônia.
Quando, no fim do século III a.e.c., se expandiu na Itália a religião dionisíaca e foram organizados, um pouco por toda a parte, colégios de bacantes para celebrar os mistérios do deus grego, foram muitos os habitantes dos campos a dedicar-se a práticas em que reconheciam costumes análogos aos seus. Aliás, o “flagelo” (era assim que os senadores romanos consideravam uma religião tão contrária à disciplina ancestral pagou-se através da Itália com uma rapidez muito grande. Dioniso prometia aos seus devotos, não só a felicidade neste mundo, mas a esperança da salvação depois da morte. Misticismo e sensualidade constituíam uma dupla e poderosa atração para estes camponeses, que sempre sentiram, de modo confuso, que o mistério da geração tinha carácter divino. Não só os sacerdotes do novo deus não lhes pediam para renunciar aos seus próprios ritos, mas traziam-lhes uma revelação que iluminava estes e acrescentava ao seu próprio instinto prolongamentos místicos.
Temos muito poucas informações sobre o que se passava realmente nestas “células” dionisíacas. Há relatos de que os devotos dos dois sexos se entregavam a orgias, o que é bem provável, mas também que iam até ao crime e que não eram raros os sacrifícios humanos, calúnia de que foram alvo muitas das novas religiões. Seja como for, desencadeou-se um escândalo em 186 a.e.c. e toda a Itália ficou abalada.
As bacanais tinham chegado a Roma. Celebravam-se os seus ritos ao pé do Aventino, no bosque sagrado da velha divindade romana Stimula, e podia ver-se, durante a noite, as bacantes correr, despenteadas, até ao rio, levando tochas que mergulhavam na água e reemergiam acesas. Eis, porém, que uma mulher vem fazer ao cônsul terríveis revelações: era uma cortesã chamada Hispalis Fecênia. Conta ela que o seu jovem amante. Ebúcio, se encontra num grande perigo. A mãe de Ebúcio, casada em segundas núpcias, deseja ver-se livre dele e planeja fazê-lo assassinar pelos sectários de Dioniso, no decurso de uma noite de orgia sagrada. A própria Fecênia sabe do perigo, porque já fora também iniciada. Suplica aos magistrados que tomem as medidas necessárias para salvar um inocente. De imediato, o Senado reúne-se, os dois jovens são colocados sob a protecção da polícia e é aberto um inquérito. Recebem-se e provocam-se denúncias. Os sacerdotes de Dioniso são imediatamente presos, todas as reuniões noturnas são proibidas e todos os sectários do deus que não se apresentarem às autoridades em um determinado prazo serão considerados, de imediato, fora da lei. Começam logo os processos sumários, seguidos de execuções. Em breve, reina em Roma e nas cidades italianas um verdadeiro terror. O decreto do Senado foi enviado a toda a parte. Temos a sorte de possuir uma cópia, gravada, na época, sobre uma mesa de bronze. Dali para o futuro, era proibido celebrar bacanais. No entanto, os senadores, para não correrem o risco de suprimir práticas tradicionais e legítimas, permitiam exceções, mas em nenhum caso poderiam participar na cerimônia mais de cinco pessoas (dois homens e três mulheres), já não poderiam estabelecer vínculos mediante juramento (como se fazia, até então, nos colégios de bacantes) nem possuir caixa comum ou formar entre si uma hierarquia e até esta forma reduzida de culto ficava sujeita, sem exceção, a uma autorização prévia do Senado.
Podemos perceber através dos termos do decreto que o assunto não foi menos político que religioso. Manifestamente, temia-se a formação de uma espécie de sociedade secreta, uma confraria que estendesse por toda a parte as suas ramificações, escapando ao controle dos magistrados e capaz de despertar o fanatismo religioso do mundo dos campos. O culto de Dioniso subsistiu, mas serenado e destituído dos seus excessos orgíacos. Por isso, assumiu um carácter mais espiritual e também mais intimista: a supressão de todo o clero reduzia-o a não ser mais do que uma devoção pessoal. Gradualmente, o deus proscrito pelo senátus-consulto de 186 recuperou os seu fiéis, mas estes, desta vez, já não eram pessoas comuns: a elite romana, seduzida pelo misticismo dionisíaco, que, no Oriente, tinha estatuto de religião oficial, acolheu de bom grado as suas imagens e os seus mitos. A partir do início do Império, Dioniso está presente em toda a parte. As suas estátuas e as dos seus companheiros erguem-se nos jardins, onde simbolizam as forças férteis da natureza. Os muros das residências particulares, nomeadamente em Pompeia, mostram cenas da sua lenda. Os famosos frescos da Vila dos Mistérios reproduzem, sem dúvida, o desenrolar de uma iniciação às suas cerimônias, reveladoras do segredo do amor e da vida.
Contudo, um dos companheiros de Baco, o deus Priapo, tinha escapado à proscrição. Este deus, originário de Lâmpsaco, na Ásia Menor, também era um demônio da fecundidade, como se pode verificar pela sua imagem, caracterizada por um enorme falo. Os camponeses italianos tinham-no escolhido para proteger os seus campos e as suas vinhas, onde substituía o anterior fascinus. Cada jardim tinha o seu Priapo, talhado à podoa em um tronco de árvore. Pintado com vermelhão, tinha por função afastar os malefícios, mas também servir de espantalho contra os pássaros e, eventualmente, de moca, nas mãos do jardineiro, para punir os ladrões. Nos jardins, este deus obsceno raramente era tomado a sério e as homenagens que lhe eram dirigidas estavam, em geral, eivadas de ironia. Contudo, constatamos que Priapo, apesar dos seus ridículos, era por vezes objeto de um culto quase místico. Daí que se encontre junto dos túmulos, onde a sua presença é testemunho da crença em um renascimento para além da morte. “Priapo, lugar da vida e da morte”, diz-nos uma inscrição, e isto não é fantasia de algum devoto, mas uma convicção muito propagada de que a morte e a vida são apenas dois aspectos solidários de uma mesma realidade. Esta era já a doutrina afirmada por Sócrates no Fédon e que tem a sua origem em crenças profundamente enraizadas na terra grega. Não é raro verificar que também em Roma os demônios da vida exercem o seu império sobre a morte. Por isso, a religião popular reconhece instintivamente esta ligação do amor e da morte, que assombrará muitos poetas, quer em outros tempos, quer na própria Roma.
***
Esta religião da virilidade, tão essencial, tão viva, não é a única manifestação dos sentimentos de respeito e de temor dos Romanos para com o mistério da vida. A vida sexual feminina tinha também os seus demônios, que a mantinham na sua dependência: ao Genius do pai da família fazia contraponto a Juno da mãe, cujo culto está menos bem documentado, no lar doméstico, do que o do Genius, mas de que se crê, no entanto, ver a imagem em uma das duas serpentes que são representadas muitas vezes, em Pompeia, junto do altar de cada casa, por exemplo. Em contrapartida, enquanto o Genius nunca foi assimilado a nenhum dos grandes deuses, a Juno de cada matrona fica, em certa medida, absorvida pela deusa que tem o mesmo nome e que é a companheira de Júpiter. Tudo se passa como se a religião oficial tivesse tido a preocupação de controlar, de integrar, o culto da feminilidade individual das "mães”, deixando fora dela o da fecundidade viril. Havia festas específicas das matronas, por exemplo, as Matronalia de 1 de Março, celebradas coletivamente pelas mulheres casadas. Outras, como as de 7 de Julho, as “nonas caprotinas”, evidenciavam características arcaicas, o que mostra a sua antiguidade: a figueira e a cabra tinha nelas um papel importante e vislumbramos nestes ritos, que incluíam combates simulados e disfarces (as servas envergavam os vestidos das suas senhoras), uma antiga magia da lactação, sem dúvida destinada a estimular esta função nas mães e, ao mesmo tempo, a proteger estas contra os seus perigos, substituindo-as por outras mulheres de menor “valor”, durante o período perigoso.
Todos os anos, a casa do cônsul era palco de uma festa singular, em que só participavam as mulheres casadas, na presença das vestais. A divindade que se honrava neste dia (no início de Dezembro) tinha o nome de bona dea, “a boa deusa”. Era um epíteto ritual que dissimulava o verdadeiro nome, que nos é desconhecido. Aos homens era proibido assistir a ela, sob pena das mais graves sanções, e era interdito também, durante esta festa, introduzir na casa o menor ramo de murta, bem como pronunciar a palavra “vinho”. O vinho que se utilizava nas libações do sacrifício era chamado “leite” e os vasos que o continham eram chamados “potes de mel”.
Para explicar estas práticas estranhas, contava-se que a boa deusa desposara o deus Fauno e que este, para puni-la por ter bebido vinho secretamente, lhe batera de maneira tão brutal com varas de murta que a tinha morto. Na verdade, os “tabus” que caracterizam o culto da bona dea podem ser explicados, se nos recordarmos que beber vinho era originalmente interdito às mulheres - e continuou a sê-lo até a uma época relativamente tardia - e, por outro lado, que a murta é a planta favorita de Vênus, a deusa do amor. A bona dea simbolizava as virtudes que se esperava das matronas e de que tanto o vinho como Vênus podiam desviá-las. segundo se pensava. A cidade desejava, por certo, estimular a fecundidade feminina nas “mães” e assegurar-lhes a proteção de divindades prestáveis, mas não deixava de sentir alguma apreensão face à possibilidade de estas mesmas divindades inspirarem às suas devotas o desejo de usar desregradamente os poderes que se queria exaltar.
Roma parece ter estado sempre colocada entre dois perigos: por um lado, o de ver secar nela as fontes da vida, se negligenciasse os cultos da fecundidade, e, por outro, o de provocar acessos de fanatismo e desordens não menos graves para a cidade, por praticar estes mesmos cultos, o que não lhe inspirava menor temor. A reação timorata dos senadores durante o escândalo das bacanais não foi caso único. A história de outra deusa, Vênus, patrona dos amores, é muito instrutiva a esse respeito.
Vênus acolheu muito cedo os traços da Afrodite grega, mas a mais antiga Vênus parece ter sido muito diferente da “moça das vagas e do céu” que surgiu, no mundo grego, de uma síntese complexa em que predominam os contributos asiáticos. Na verdade, os historiadores modernos da religião romana não estão de acordo sobre a sua natureza nem sequer sobre a sua função primitiva. Durante muito tempo, admitiram que Vênus tivesse começado por ser uma camponesa, uma divindade rústica que personificaria o “encanto” da Primavera e dos pomares em flor e que reinava, designadamente, nas hortas. Depois, segundo afirmavam, os fiéis desta Vênus campestre teriam atingido uma concepção mais elevada, vendo nela uma das forças primordiais da natureza, cujo poder os seres humanos suportam, por vezes, com dureza. Mas hoje há consenso na rejeição desta teoria.
No fundo, é muito pouco natural pensar que o culto de Vênus tenha procedido de uma religião da fecundidade em geral e não se tenha relacionado com o amor “humano”, senão no termo de um longo percurso. Não se deve antes pensar que a evolução da deusa aconteceu em sentido imerso que partiu do humano e se estendeu, progressivamente, a tudo o que vive? O poder do amor não será imediatamente perceptível ao homem no seu próprio coração, no latejar das suas artérias? E a tendência espontânea do espírito não será, precisamente, projetar para fora de si as descobertas da sua própria experiência? Reconhecer "Vênus” no mundo é tê-la já sentido em si mesmo.
Uma outra explicação da Vênus romana foi recentemente proposta. A deusa, segundo ela, teria sido, em primeiro lugar, não um demônio da fecundidade, mas a personificação de uma realidade espiritual muitíssimo mais sutil: o poder mágico da eficácia da oração, que é o único a ter capacidade para atrair sobre os homens a benção e a graça dos deuses. Na sua origem, Vênus teria sido a mediadora universal, a meio caminho entre o humano e o divino, aquela que atrai, em benefício dos seus fiéis, as força vivificantes do sobrenatural.
Esta hipótese é muito engenhosa e pode invocar bons argumentos a seu favor, mas ilude qualquer demonstração rigorosa, devido ao seu caráter abstrato. Por outro lado, não podemos deixar de pensar que os mais remotos antepassados do povo romano, que eram tão bem dotados quanto possamos imaginar para as especulações teológicas mais sutis, terão divinizado espontaneamente o poder que preside à união dos seios. como divinizaram a luz do dia e o poder inebriante do vinho. Mas, na verdade, o problema não se nos coloca nos mesmos termos. Importa-nos muito pouco definir qual foi, no seu princípio, a função essencial da Vênus mais antiga, uma vez que, tão longe quanto possamos remontar na história de Roma, encontramo-la investida de uma missão muito definida, a de presidir às relações amorosas.
Esta personalidade da deusa “histórica” ganhou forma, provavelmente na própria Itália. Desde o século VII a.e.c., Vênus possuía em Lavínio um santuário de que se dizia que o fundador não teria sido outro senão Eneias. Em Lavínio, a Vênus latina - qualquer que fosse exatamente a sua verdadeira natureza - sofreu a influência da Afrodite grega. Esta tinha sido introduzida na Itália pelos colonos gregos da Campânia e também pelos conquistadores etruscos instalados no Lácio. Todos os Latinos vinham em peregrinação ao santuário de Lavínio prestar culto oficial à deusa e foi de lá que foi trazida para Roma, embora com precauções e reticências.
Para os Romanos, de fato, Vênus personifica a sedução feminina, o que, indubitavelmente, já personificava em Lavínio. Simboliza o poder misterioso, religioso e mágico que a pessoa e o corpo da mulher encerram. Era uma das divindades mais inquietantes e não podemos de modo nenhum surpreender-nos que a Roma puritana e conservadora dos primeiros tempos não lhe tenha dedicado, durante um longo período, nenhum templo. Preocupados em salvaguardar a ordem e os bons costumes, os patrícios, que detinham, na prática, a totalidade dos poderes, olhavam com suspeita para esta deusa anárquica, geradora de perturbação e de paixão. Todavia - como se vê mais tarde no escândalo das Bacanais -, eram também demasiado sensíveis a todas as formas do divino para não reconhecerem a necessidade de prestar a Vênus as honras de que não a podiam privar sem com isso fazerem correr grandes riscos a toda a cidade.
Não sabemos exatamente como foi, na cidade, este primeiro culto a Vênus. Surgiu um primeiro nome, bastante estranho. Alguns testemunhos, relativamente tardios, asseguram-nos que Vênus, desde uma época muito recuada, foi honrada no Capitólio, onde tinha sido erguido um santuário à Vênus calva. Quem era esta singular deusa? A lenda fornece duas explicações inconciliáveis acerca do nome. Contava-se, por vezes, que, durante o cerco de Roma pelos Gauleses, as matronas, fechadas no Capitólio com os defensores da cidadela e alguns refugiados, teriam cortado espontaneamente os seus cabelos para fabricar os cabos e as cordas necessários às máquinas de guerra. Para recordar esta devoção, o Estado, após a vitória, teria dedicado uma estátua à Vênus Calva, a fim de testemunhar que as mulheres, tendo cortado o cabelo, não tinham perdido nada do seu poder de sedução! É uma galanteria anacrônica2, pouco de acordo com os costumes romanos do século IV a.e.c. Para além disso, é bem provável que os defensores do Capitólio não dispusessem de máquinas de guerra e não tivessem utilidade a dar às cabeleiras femininas.
A outra explicação faz remontar a origem da Vênus calva a um período ainda mais afastado. Era, diz-se, no tempo do rei Anco Márcio. As mulheres romanas, e a própria rainha, tinham sido atingidas por uma estranha doença que lhes fazia cair os cabelos. O rei, para consolar a rainha, fez-lhe uma estátua, representando-a no estado em que a doença a tinha deixado. E eis que se produziu um milagre: mal a estátua ficou instalada, os cabelos das senhoras cresceram mais bonitos do que nunca. Gratos, os Romanos dedicaram um culto à Vênus calva, que assim tinha manifestado o seu poder.
Os historiadores modernos, bastante céticos, asseguram que a deusa nunca existiu, que é apenas uma invenção de antiquário e que não se deve ter em consideração. Talvez este ceticismo radical não seja justificado. É possível, decerto, que a Vênus Calva não tenha sido senão uma estátua de mulher muito antiga, privada pela erosão do tempo de uma parte dos seus atributos e ornamentos primitivos e que o povo se tenha habituado a dar-lhe este apelido. É possível também (hipótese e, de fato, inverifícável) que os Romanos, desejosos de honrar Vênus, mas, ao mesmo tempo, desejosos de destituí-la de uma parte do seu poder mágico, tenham imaginado representá-la desprovida de cabeleira, quer dizer, de um dos atributos mais característicos da feminilidade. Era uma tentativa para “domesticar" uma força perigosa e seria o primeiro exemplo, ainda cheio de ingenuidade, de uma política que, muito em breve, irá ser posta em prática.
Vênus é perigosa e os magistrados encarregados de fiscalizar a religião oficial estão disso intimamente convencidos. O primeiro templo que lhe é dedicado na cidade, no início do século III a.e.c., exatamente em 295, foi-o para impedir a cólera da deusa. Nesse ano, o filho do cônsul, Q. Fábio Gúrgite, decidiu construir um templo dedicado a Vênus, no vale do Grande Circo, e atribuiu para tal empreendimento o produto das multas cobradas à senhoras da alta sociedade que tivessem sido declaradas culpadas de stuprum, isto é, de comércio carnal ilegítimo (não de adultério, em que a punição seria a morte!), ou seja, viúvas que tivessem comprometido a sua honra e filhas jovens de famílias ricas (as “filhas de família”), cuja má conduta, por alguma razão, não tivesse sido punida no interior da gens. Aparentemente, os escândalos eram em grande número, pois as somas recolhidas foram suficientes para edificar um moem umento público. Fábio Gúrgite designou o novo santuário com o termo Vênus obsequens, expressão que os modernos traduzem, umas vezes, por “Vênus Complacente” e, outras vezes, mais verosimilmente, por "Vênus Obediente”. É muito tentador supor - embora dificilmente possa ser sequer uma hipótese - que esta consagração teve lugar para propiciar” a deusa, evitando que continuasse a incitar as senhoras da aristocracia a praticar atos imorais, porque uma das vinganças mais comuns de Vênus sempre fora a de inspirar desejos culposos aos mortais (sobretudo às mulheres) que não lhe expressassem um culto suficientemente devoto ou que a tivessem ofendido de alguma maneira. Ao instalar oficialmente Vênus na cidade e, para além disso, aplicando-lhe um epíteto cultual de bom augúrio, alimentava-se a esperança de aplacar a sua cólera e que, no futuro, se contentasse em favorecer os amores legítimos.
Mas as divindades têm, muitas vezes, uma grande obstinação e escarnecem dos obstáculos que os homens lhes levantam. Durante a Segunda Guerra Púnica, quando Roma se viu na iminência da derrota, tornou-se evidente que não podiam deixar durante muito mais tempo em uma situação menor a deusa que aparecia, cada vez mais, como a “mãe” dos Romanos. Entre outras medidas religiosas excepcionais que então foram decretadas, os senadores decidiram chamar a Roma a Vênus do Monte Erice. Tinham tido provas da eficácia da sua proteção durante a Primeira Guerra Púnica. O Monte Érice, onde tinha o seu templo, foi a sua principal base de operações contra os Cartagineses e foi à deusa, pensavam os Romanos, que ficaram a dever em grande parte a sua vitória. Por que não tentar recorrer a ela mais uma vez?
Todavia, esta Vênus era, evidentemente, uma deusa de origem oriental e o seu culto incluía ritos que repugnavam à consciência romana. O templo do Monte Érice era servido por hierodulas, escravas da deusa que se entregavam à prostituição. Os sacerdotes asseguravam também que a deusa realizasse milagres todos os dias: o altar ao ar livre, diante o templo, ficava coberto de orvalho e ervas novas, a cada manhã, por intervenção sobrenatural. Os vestígios dos sacrifícios oferecidos na véspera desapareciam sem que mão humana alguma se tivesse preocupado em eliminá-los. Acreditava-se que todos os anos a deusa deixava o templo do Monte Érice para se dirigir a África, acompanhada dos seus pássaros sagrados, as pombas, que volteavam sempre em grande número em redor do santuário. Passados nove dias, regressava com um bando de pássaros e havia então grandes festas por toda a Sicília.
Introduzir tal divindade em Roma, dar-lhe direito de cidadania, era uma decisão grave, diante da qual o Senado sempre recuara, por grande que fosse a dívida de reconhecimento da República para com esta deusa turbulenta, patrona dos maus lugares e que perturbava os corações. Mas, perante a iminência do perigo, foi abandonada toda a hesitação. Só se queria ver nela a “mãe” de Eneias e, para sua maior honra, foi instalada no Capitólio, na colina sagrada onde reinava o grande deus do império, um Júpiter muito bom e muito grande.
Uma outra razão contribuiu, provavelmente, para favorecer a introdução do novo culto. Na tradição romana, Vênus passava por ser a companheira do deus Marte, aquele, precisamente, cujo socorro, durante as primeiras batalhas da guerra, tinha faltado aos exércitos. A homenagem prestada à sua “amiga” não poderia deixar de impressionar o senhor das armas e isso é tão verdadeiro que a medida que recomendava a adoção da Vênus Ericina incluía um voto solene a Marte.
Contudo, a deusa do Monte Erice continuava a ser encarada com suspeita e é bem característico do espírito romano que se tenha colocado ao lado da tumultuosa siciliana, no Capitólio, um templo consagrado a Mens, ou seja, à razão, à inteligência lúcida, da qual a cidade tanto carecia para fazer face ao perigo. Parece que o Senado, preocupado com o equilíbrio da sua política religiosa, quis justapor no Capitólio, para onde se voltavam então todos os olhares, dois aspectos antitéticos e complementares do sagrado. O que havia de orgíaco no culto da siciliana, esse delírio que tinha o poder de desencadear nos corações, teria o seu antídoto na religião muito intelectual de Mens. Com sabedoria, os Pais não esquecem que múltiplas são as potências que partilham a alma dos homens e que é na multiplicação das divindades, e não em uma mutilação ruinosa, que se encontrará o segredo da harmonia.
Não era menos verdade que Vênus Ericina introduzia em Roma, apesar de todas as precauções, a deusa do amor passional, o que era reconhecê-la oficialmente e quase legalizá-la à custa da moral tradicional.
Por isso, vemos surgir muito rapidamente como antídoto o culto de uma outra Vênus, mais conforme ao que se espera de uma Vênus romana. Logo que as derrotas sofridas por Aníbal tornaram o invasor menos temível, o Senado decidiu consagrar uma estátua a uma nova Vênus, a que chamaram Verticordia, ou seja, “a que muda os corações”, ou antes, os “desvia” das paixões perigosas. Na intenção dos Pais, esta estátua devia “afastar do deboche o espírito das virgens e das mulheres casadas e incutir-lhes o sentido das conveniências”, de que muitas, aparentemente, se afastavam, devido à licença que o abrandamento da tensão moral, imposto pela guerra interminável, ocasionava. Para consagrar esta estátua (talvez mesmo, mais provavelmente, para lhe serem copiados os traços), escolheram uma certa Sulpícia, mulher do senador Q. Fúlvio Flaco, que foi designada depois de um verdadeiro concurso de virtude. Os senadores escolheram para tal o nome de cem senhoras da aristocracia cuja reputação era impoluta. Entre estes cem nomes, dez foram tirados ao acaso e foram ponderados com cuidado os méritos de cada uma das laureadas. Finalmente, o juízo de todos voltou-se para Sulpícia, que se tornou, no entender do povo, o símbolo de todas as virtudes exemplares. Menos de cem anos depois, em 114 a.e.c., um escândalo sem precedentes veio perturbar as consciências. Três vestais, infiéis ao seu voto, foram consideradas culpadas de incesto e, de acordo com o costume, condenadas a ser enterradas vivas. Um acontecimento como este era sempre considerado um presságio sinistro. Para desviar os seus efeitos, foi decidido aumentar as honras devidas a Vênus verticordia, cuja proteção se tinha revelado manifestamente insuficiente. Construíram-lhe um templo segundo todas as regras. Este templo, de que ignoramos o lugar exato, foi consagrado no dia 1 Abril, o dia das calendas, que, conforme o costume, era dedicado a Juno: assim o mês de Abril (sob o patrocínio de Vênus, desde a mais longínqua antiguidade) começava com uma festa que as matronas celebravam em honra da “Vênus legítima”. Mais tarde, durante o mesmo mês, no dia 23, as cortesãs faziam as suas devoções à outra Vênus, a Siciliana, que recebeu um novo templo, distante do Capitólio, perto da Porta Colina, um dos bairros mais afastados da cidade.
Doravante, duas Vênus compartilhavam os fiéis. Mas, gradualmente, será a Vênus apaixonada e turbulenta que se irá assenhorear das consciências. Nos últimos tempos da República, era para ela que se viravam, à medida que os costumes se afastavam do seu antigo rigor. Os três homens que tiveram sucessivamente o destino de Roma nas suas mãos, Sila, Pompeu e César, reclamar-se-ão dela e colocar-se-ão sob a sua proteção. Gradualmente, Vênus transformar-se-á em uma das grandes deusas da cidade, a ponto de, durante o Império, ser associada à divindade da própria Roma, no templo que o imperador Adriano irá criar para ambas na colina da Vélia.
Esta fortuna magnífica da deusa explica-se por muitas razões, algumas das quais são estranhas à tradição religiosa romana e não têm senão uma relação remota com a sua função essencial, que é a de presidir ao amor. Mas estes acidentes históricos não teriam sido possíveis, se a Vênus romana não estivesse antecipadamente preparada para aceitar as novas funções e a dignidade acrescida que lhe foi reconhecida desde o início do século I a.e.c. Com a expansão do domínio romano no Oriente, a influência da Afrodite grega tornou-se mais forte e é fácil mostrar que Vênus assimilou um grande número de funções assumidas pela sua homóloga oriental, mas parece evidente também que este crescimento do seu domínio estava implícito, há longo tempo, na preexistência de certos caracteres na sua natureza.
Há muito tempo que a Vênus itálica tendia a ser a patrona de tudo o que é “feliz”, luxuriante e jovem. Nisso residia, talvez, uma das razões da desconfiança e também da atração, que a consciência romana, cheia de “gravidade”, mas, ao mesmo tempo, sensível ao desenvolvimento feliz de tudo o que vive, sentia a seu respeito. É muito significativo que os Romanos, desde muito cedo, tenham consagrado a Vênus o mês de Abril, aquele em que desponta a Primavera, e tenham também realizado a consagração dos seus templos e a sua festa anual nos dias das Vinalia, que eram, ao mesmo tempo, os da festa do vinho. Também não se deve esquecer que as cortesãs, devotas por excelência de Vênus Ericina - aquela que então triunfava -, dançavam publicamente, sem véu, no dia da festa de Flora! Tudo se passava como se, de repente, se tivesse quebrado a austera disciplina imposta, durante muito tempo, pela autoridade do Senado à devoção popular, deixando regressar à luz do dia uma religião de Vênus que as restrições tinham conseguido ocultar, mas não suprimir.
No início do século I a.e.c., Vênus tinha inúmeros fiéis, que lhe pediam o êxito de todos os seus empreendimentos, não somente no amor, mas no exército, no jogo, nos negócios. Os jogadores de dados chamavam “lance de Vênus” à combinação mais favorável que podiam obter. Sila, vencedor “feliz” de Mitridates, adotou, no Oriente, o apelido de Epafrodite, ou seja, “Favorito de Vênus”. Alguns anos mais tarde, Pompeu, após ter triunfado definitivamente sobre o mesmo Mitridates, dedicou um templo à Vênus Vitoriosa (Venus Victrix) no cimo do teatro que construiu no Campo de Marte.
No entanto, na noite de Farsália, a Vênus de Pompeu teve de inclinar-se diante da outra Vênus, a Genitrix, de que César se reclamava. Este, que, como todos os Julii, se vangloriava de descender de Eneias, tinha um bom pretexto para “confiscar” Vênus em seu proveito. O duplo precedente de Sila e Pompeu prova que isso não era de modo nenhum vaidade de família ou uma fantasia pessoal de César. A proteção de Vênus representava, junto do povo, como que uma garantia de felicidade e de sucesso. Assegurava aos que a deusa favorecia como que uma aura sobrenatural, que nenhuma outra divindade poderia proporcionar. Graças à proteção da Genitrix, César trazia para Roma o que tanto lhe tinha faltado durante as horas sombrias do passado: a alegria divina e a certeza de uma sorte feliz. Por isso, antes mesmo de ter-se apoderado definitivamente do poder, decidiu criar um templo magnífico, no centro do seu novo fórum, para aquela a que chamava sua mãe.
Deste poder de Vênus, das ressonâncias profundas que a sua religião despertava na alma romana, temos uma prova no prólogo introduzido por Lucrécio no início do seu poema Da Natureza das Coisas. Invoca-a como “mãe das Enéadas” e pede-lhe a paz para o seu povo. Só ela pode obter de Marte que apazigúe a sua cólera e, saciado de amor sobre o seu peito, ponha termo aos sombrios ardores da guerra.
Estas páginas, impregnadas de um evidente fervor religioso, surpreendem frequentemente os comentadores, que se recordam da sólida imputação de impiedade, e até de ateísmo, que é feita (sem razão, de resto) à doutrina epicurista, de que Lucrécio pretende ser intérprete. E que Lucrécio, antes de ser filósofo, é romano: conhece a alma dos seus compatriotas e quer falar a sua linguagem para se fazer entender por eles. Sabe que uma das suas aspirações mais profundas os leva a honrar todas as potências da vida, ainda que a disciplina oficial mascare, por vezes, esta exuberância e imponha uma aparência de austeridade que a realidade desmente. E a este sentimento, a esta intuição da vida, que o poeta apela. Ao designar pelo nome de Vênus o primeiro motor que crê distinguir no mundo, esta atração mútua dos seres, esta simpatia universal, sem a qual a criação continuaria imóvel e inerte, Lucrécio está certo de ser ouvido. O nome da deusa era suficiente por si só para que se adivinhasse toda a grandeza e “verdade” de uma filosofia que exaltava e transformava em princípio cósmico um sentimento perturbador que cada um tinha no seu próprio íntimo. Assim como Sila, Pompeu e de pois César não teriam pensado colocar-se sob a proteção de Vênus, se a deusa tivesse sido apenas uma abstracção vazia de sentido, também Lucrécio não teria seguramente escolhido esta estranha maneira de ilustrar a doutrina epicurista, logo desde os primeiros versos da sua epopeia, se não estivesse certo de encontrar eco na alma daqueles que queria converter.
Não é indiferente verificar que a deusa do amor afirma o seu império sobre os corpos e as almas no momento em que vai nascer o Império, ou seja, quando Roma começa realmente a realizar a sua vocação universal. Vênus já não é, neste momento, apenas o demônio da carne (admitindo que antes fora apenas isso). Ela é reconhecida como um princípio cósmico, gerador de vida, mas também de poder material e político, que derrotou o antigo puritanismo, durante muito tempo dominante na cidade. A religião de Vênus está ligada à enorme evolução que se desenha sob os nossos olhos nesta viragem decisiva da história. Os velhos valores morais, estritamente dependentes dos imperativos sociais, são varridos de repente, as emoções pessoais suplantam os constrangimentos coletivos, a tradição dos antepassados cede o seu lugar a uma moral mais humana (alguns dirão mais relaxada), que já não terá por única finalidade a exaltação da cidade, mas tenderá a integrar cada pessoa no seu verdadeiro lugar no seio do universo.
Para Roma convergem e afluem as crenças e os ritos de toda a Itália e também de todo o mundo mediterrânico. A Vênus de Sila. ainda que, no fundo, esteja de acordo com a tradição religiosa nacional, devia muito também à Afrodite grega e, mais ainda, talvez, à Astarte síria. A que Lucrécio canta encarna as abstracções metafísicas dos velhos filósofos jônicos. A piedade popular, por seu lado, tendia a ver em Vênus um poder cada vez maior. As festas que se celebravam em sua honra, na Itália Meridional e na Sicília, atraíam grandes multidões. Havia “vigílias” em que as jovens que em breve iriam casar lhe dirigiam ardentes preces, na expectativa do amor.
Um poeta desconhecido - que talvez não seja outro senão o historiador Floro, ou talvez seja um obscuro contemporâneo de Estácio - compôs para uma destas vigílias, que se celebrava em Hibla. não longe de Catânia, na Sicília, um hino muito belo, de que não sabem exatamente se era apenas um exercício literário ou um canto quase litúrgico. entoado no decurso da noite santa por um coro de mulheres. Mas a Vênus celebrada aqui é exaltada até se ver transformada como que na alma do mundo. Os amores humanos adquirem uma dignidade totalmente nova e alcançam todo o seu significado no seio de um mito que os identifica com o próprio mistério da criação:
Amanhã - escreve o poeta - é o dia em que, pela primeira vez, o Éter celebra o seu casamento. Para criar das suas nuvens primaveris durante o ano inteiro, este pai espalhou-se, em chuva amorosa, no seio da sua fértil esposa. Unido a este grande corpo, irá produzir todos os seres. É Vênus que, com a sua respiração sutil, penetra o sangue e a alma para exercer na procriação o seu poder misterioso. Através dos céus, através das terras, através do mar, soberana, abriu para si um caminho que não cessa de impregnar com germes de vida e, obedecendo à sua ordem, o mundo aprendeu a gerar.
Vênus transforma-se na própria natureza, na doçura de viver e de amar. É muito provável que, no fim do século I d.e.c., a antiga Vênus de Hibla tenha absorvido muito traços das divindades naturalistas do Oriente e, particularmente, da Ísis dos filósofos e místicos alexandrinos, que cinquenta anos depois o romance de Apuleio iria enaltecer.
O poder de Vênus sobre as almas, nesta Roma que se alargara até ter o tamanho do mundo, torna-se cada vez maior: o amor já não é apenas uma lei da vida, é uma promessa, uma garantia de imortalidade. Tibulo espera que a própria Vênus o conduza à morada dos Bem-Aventurados. Estaríamos tentados a ver nisso apenas uma fantasia do poeta, se outros testemunhos não nos levassem a pensar que era uma crença bastante difundida. A divinização pelo amor não é, portanto, fruto da imaginação do homem de letras, mas uma convicção profunda de muitas pessoas simples. Aliás, não será natural que se convençam de que a deusa que é capaz de criar a vida e de perpetuá-la seja também capaz de realizar, para os que crêem nela, o milagre da vida depois da morte? Será necessário o lento e difícil despojamento da ascese cristã para que se chegue a distinguir o Eros humano do Agápè divino!